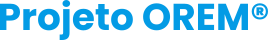Trechos do livro “Virtue In Business”, autor Edwin M. Hartman, para o nosso conhecimento e entendimento sobre as Organizações Baseadas na Espiritualidade (OBE) e a Espiritualidade no Ambiente de Trabalho (EAT).
Tradução livre Projeto OREM® (PO)
Virtude nos Negócios
Negócios, Criação de Valor e Sociedade
A abordagem da virtude à ética nos negócios é um tópico de importância crescente no mundo dos negócios. Concentrando-se na teoria de Aristóteles de que as virtudes do caráter e não as ações, são fundamentais para a ética, Edwin M. Hartman apresenta aos leitores desse livro o valor de aplicar a abordagem das virtudes de Aristóteles aos negócios.
Usando numerosos exemplos do mundo real, ele argumenta que os líderes empresariais têm boas razões para levar a sério o caráter ao explicar e avaliar os indivíduos nas organizações. Ele demonstra como a abordagem da virtude pode aprofundar o nosso entendimento da ética nos negócios e como pode contribuir para discussões contemporâneas sobre caráter, racionalidade, cultura corporativa, educação ética e ética global.
Escrito por um dos principais estudiosos Aristotélicos que trabalham atualmente na área, essa introdução oficial para o papel da ética da virtude nos negócios é um texto valioso para estudantes de pós-graduação e pesquisadores acadêmicos em ética nos negócios, ética aplicada e filosofia.
Edwin M. Hartman foi Professor Visitante de Ética Nos Negócios e codiretor do Seminário Paduano de Ética Nos Negócios na Stern School of Business da Universidade de Nova York até a sua aposentadoria em dezembro de 2009.
Antes de ingressar na Stern, ele lecionou por mais de vinte anos na escola de negócios e no departamento de filosofia da Rutgers University, onde ele foi diretor fundador do Prudential Business Ethics Center da Rutgers. Ele também é o autor de Substance, Body, and Soul: Aristotelian Investigations, de Conceptual Foundations of Organization Theory e de Organizational Ethics and the Good Life (nomeado Livro do Ano [2003] pela Divisão de Questões Sociais em Gestão da Academia de Administração).
…..Continuação da Parte V…..
Um resumo do argumento – Capítulo 4:
Aristóteles argumenta que as virtudes são, em primeira instância, hábitos aprendidos na comunidade e, portanto, ele levanta problemas sobre autonomia. A virtude madura requer racionalidade em preferências e ações; isso é raro e difícil de alcançar. Nós fazemos progresso ético por meio da dialética, que busca conciliar os nossos princípios e as nossas intuições. Como essas podem ser questionadas por novas situações, a dialética é um projeto educativo contínuo.
Capítulo 4
Caráter em Desenvolvimento
Como nós começamos a adquirir caráter
“Nós temos visto que Aristóteles afirma que uma pessoa de bom caráter tem e age de acordo com certas virtudes, daí disposições e emoções e até mesmo interesses que são consistentes com as características humanas essenciais de racionalidade e sociabilidade. No entanto, como adquirir essas virtudes e outros itens? Eu não sou capaz de simplesmente decidir, numa manhã, que eu serei uma pessoa honesta ou corajosa ou paciente. Eu tenho que cultivar as virtudes e eu não sou capaz de fazer isso sozinho: eu tenho que ser socializado.
Aristóteles dá o seu relato do desenvolvimento de caráter nos primeiros Capítulos de NE II e em algumas passagens de NE III. Um ser humano típico nasce com a capacidade de ser corajoso ou covarde ou virtuoso ou vicioso, entretanto, ele não possui nenhuma virtude ou vício ao nascer. Você adquire (digamos) coragem agindo primeiro como uma pessoa corajosa age até que isso venha a ser um hábito, da mesma forma que você vem a ser um harpista ao tocar harpa. Dessa forma, as suas decisões criam o seu caráter (NE III 2 1112a2f.).
“…as suas decisões criam o seu caráter.”
Você não é capaz de vir a ser uma boa pessoa estudando ética como um assunto puramente filosófico: isso seria como tentar alcançar a saúde ouvindo o que um médico tem a dizer sobre saúde e não agindo de acordo (II 4 1105b13-19; cf. II 2 1103b28–30). Aristóteles não escolhe a analogia levianamente. Como eu […o autor do artigo] sugeri no Capítulo anterior, a saúde e a virtude têm muito em comum. Uma vida verdadeiramente saudável requer realmente a realização de uma certa combinação de dieta e exercício, ao invés de apenas ler sobre isso.
No entanto, você é capaz de praticar mal durante um período de tempo e assim vir a ser um mau harpista, então você necessita de um bom professor. Da mesma forma, você é capaz de começar a praticar a performance com coragem, entretanto, adquirir o hábito de agir de maneira imprudente. Para evitar isso, você necessita de orientação moral, que normalmente vem a partir de sua polis ou a partir de seus pais, embora Aristóteles dê maior ênfase à polis como professor. Isso não é surpreendente, dado o que ele diz sobre a função da polis como defensora de virtudes e comunidades: observado no Capítulo 1. Você deve começar a fazer as coisas certas cedo na vida e, assim, desenvolver bons hábitos e, no devido tempo, vir a ser uma boa pessoa. É um processo longo.(1)
(1) Com aprovação, Moberg (1999) cita Costa e MacCrae (1994), que fornecem evidências de que o caráter não está bem estabelecido até cerca dos 30 anos.
As regras são capazes de desempenhar um papel importante no seu desenvolvimento inicial. Dizer a uma criança para não mentir, por exemplo e fazer cumprir a regra contra a mentira ajudará a criança a adquirir o hábito de dizer a verdade. Nós passamos a ter desejos corretos através dos mecanismos de prazer e de dor – recompensa e punição, como nós poderíamos dizer se seguirmos Skinner (1972). Na verdade, o desenvolvimento do caráter é uma questão de aprender a desfrutar das ações corretas e considerar dolorosas as ações erradas (NE II 3, especialmente 1104b5-13). Assim, pelo hábito guiado se está aprendendo as emoções e desejos corretos.
Entretanto, a educação de adultos é mais do que uma habituação: para aqueles que foram além da reação à reflexão, a virtude tem a ver com raciocínio (NEX9 1180a7–12). Assim, por exemplo, mais tarde na vida nós aprendemos por que a veracidade é importante. Então, conhecendo o seu propósito, nós podemos aprender que se é capaz de dizer a verdade de uma maneira que frustra o seu propósito, por enganar os ouvintes. Nós aprendemos que pode haver momentos e lugares e maneiras e circunstâncias em que mentir é apropriado, como quando a polícia secreta lhe pergunta onde está o seu amigo dissidente. Mas mesmo assim nós podemos contar uma mentira necessária com alguns sentimentos de repugnância, devido ao nosso hábito de dizer a verdade, com o qual nós nos sentimos confortáveis.
Nós temos observado que Aristóteles considera a emoção um aspecto importante da virtude. É uma pessoa de bom caráter quem, necessitando agir corretamente diante do perigo, enfrenta o perigo de boa vontade e age sem medo indevido. Porém, Aristóteles exige mais: a pessoa verdadeiramente corajosa não tem que afastar qualquer tentação séria de fugir imediatamente. Se enfrenta o inimigo ou se corre o risco com entusiasmo. No entanto, como nós sabemos, Aristóteles diz na sua discussão sobre a fraqueza da vontade em NE VII que você pode querer ser corajoso e acreditar que uma pessoa corajosa se juntará a esse ataque, mas ainda assim correrá na direção oposta. Ou você pode se juntar ao ataque superando um medo quase paralisante e correndo em direção ao inimigo, desejando que não fosse necessário fazê-lo e choramingando o tempo todo. Ou você pode acreditar tolamente que não há nada a temer. Nesses casos, você fica aquém da verdadeira coragem. A preparação sob a forma de exercícios repetidos é a forma habitual de ajudar os soldados a enfrentar o inimigo com bravura, no entanto, Aristóteles duvidaria que o mero exercício transmitisse a verdadeira coragem, o que exige saber como, quando, por que e em que circunstâncias permanecer firme.
Num local de trabalho, uma cultura empresarial forte pode apoiar valores bons ou maus, como nós temos notado, em parte ao habituar as pessoas a determinadas maneiras de agir. Além de recompensas e punições, o modelo é capaz de encorajar bons hábitos também. Falar abertamente sobre valores corporativos e sobre uma missão corporativa com a qual os funcionários são capazes de se identificar também costuma ser eficaz. Também as regras, incluindo os códigos de ética, podem impor bons hábitos, especialmente se as pessoas entenderem a sua lógica. No entanto, como salientam Bazerman e Tenbrunsel (2011, Capítulo 6), as recompensas e as punições por si só nem sempre têm o efeito pretendido. Aristóteles concorda.
Habituação
Considere quão pouco Philip aprende a falar. A princípio ele repete palavras exatamente nos contextos em que os pais dele as dizem; então ele diz as palavras em contextos semelhantes. Entretanto, em alguns casos o contexto é semelhante de maneira errada. Então, ele diz ‘papai’ quando o pai dele está presente, mas também quando algum outro homem está presente. Ao corrigi-lo, os pais o estão educando no uso da palavra ‘homem’, que ele usará de forma mais confiável a partir de então, à medida que gradualmente adquirir o conceito de homem. No devido tempo, ele desenvolve conceitos mais difíceis, como aqueles relativos a estados, eventos físicos e psicológicos e até mesmo para certo ou errado.
Philip extrapola a partir dos casos em que as suas palavras iniciais foram confirmadas: ele reage a casos que são semelhantes ou diferentes dos originais em aspectos importantes. Portanto, um manequim não é um homem porque não tem vida e o café da manhã e o almoço não são a mesma refeição porque são consumidos em horários diferentes. No devido tempo, Philip poderá progredir em fazer habitualmente afirmações corretas sobre pessoas e almoço para aprender algumas regras que lhe permitem extrapolar a partir de casos familiares: por exemplo, que o café da manhã é tomado logo pela manhã e o almoço por volta do meio-dia.
Philip começa a aprender a ter coragem fazendo o que os seus pais dizem ao correr ou evitar riscos e seguindo o exemplo de outras pessoas. Se ele seguir maus exemplos, os seus pais e outras pessoas o corrigirão, nós esperamos. Dessa maneira, Philip adquire o hábito de realizar atos de coragem, em geral, mas mesmo assim não é totalmente corajoso. Por um lado, ele comete erros reveladores. Ele não consegue distinguir muito bem entre coragem e machismo, por exemplo; então, às vezes, ele assume riscos inapropriados porque os seus colegas estão fazendo isso ou porque Andrea está observando. Ele é bastante bom em fazer e evitar o tipo de coisa que os seus pais lhe ensinaram a fazer e a evitar, entretanto, ele não extrapola muito bem a partir dos casos paradigmáticos. Ele pode agir com coragem no campo de futebol como um resultado de horas de prática e de jogos, porém, ele tem medo de ir ao dentista. Mesmo quando Philip acerta e assume a quantidade certa de risco, ele o faz sem ter pensado por que o que fez foi corajoso, ou por que deveria ou não fazê-lo.
Philip aprende qualquer conceito por extrapolação para novas situações e ações. Quando um novo caso se apresenta, nós procuramos semelhanças importantes com os antigos que constituam uma base para enquadrar o novo caso de uma maneira ou de outra. Às vezes a decisão é arbitrária. Às vezes há uma base científica sólida para a decisão. Às vezes nós extrapolamos sobre uma base pragmática. Se nós levarmos a sério a distinção analítico-sintética, nós pensamos que algumas características estão associadas às coisas por definição. Aristóteles pensa que algumas semelhanças são mais importantes que outras porque elas refletem diferenças essenciais e não acidentais. Portanto, um bom ato é aquele realizado por uma pessoa boa e não há nada de arbitrário na essência de uma pessoa boa.
Considere o desenvolvimento do conceito de ser humano. Mesmo crianças pequenas geralmente conseguem identificar e reidentificar uma pessoa corretamente e são capazes de distinguir uma pessoa de um robô. Entretanto, o verdadeiro domínio do conceito requer saber muito sobre o que é uma pessoa – a essência, como diria Aristóteles. E os argumentos sobre o que uma pessoa é são, em parte, argumentos morais.
Se eu denunciar o meu chefe, isso será um ato de traição ou de justiça? O caso é difícil em parte porque se assemelha tanto a casos de traição como a casos de justiça. Nós poderíamos ser capazes de estabelecer princípios que forneçam condições necessárias e suficientes para a traição e outros para a justiça, entretanto, eles serão de pouca ajuda em casos que parecem satisfazer os critérios para ambos. A visão de Aristóteles é que casos como esse requerem sabedoria prática para um enquadramento correto e a sabedoria prática tem um componente emocional. Nós poderíamos preferir dizer, ao invés disso, que em alguns casos nenhuma maneira de enquadramento é saliente e que, ao invés disso, é necessário estar ciente da variedade de maneiras pelas quais cada caso é capaz de ser descrito.
Aristóteles está ciente de que o processo de indução não conduz automaticamente a um conceito coerente do item em questão. Nós usamos palavras de maneiras que diferem de seus significados originais, ou têm significados analógicos, ou se relacionam de maneira diferente com algum conceito focal.(2) Mesmo assim, ele acredita que existe algo como acertar o conceito, ou seja, entender a essência de tudo o que está diante de nós. Aristóteles não acredita que isso seja fácil: em alguns casos existem princípios simples para a projeção; em outros casos, particularmente éticos, não há casos evidentes e herméticos. Num caso controverso, pode ser necessário testar as nossas intuições contra um princípio provisório para aplicar a palavra para decidir se algum evento ou ato é virtuoso.
(2) Num ensaio importante e controverso, Owen (1960) discute como Aristóteles lida com essa questão.
Crary e Aristóteles
Alice Crary (2007), empenhando-se em mostrar como o pensamento moral é mais amplo do que a tomada de julgamento moral, lida com duas características que alguns filósofos acham difícil atribuir ao mesmo tempo à linguagem moral. Nós queremos dizer, como fazem os realistas morais, que algumas afirmações morais são objetivas; mas também nós queremos dizer que elas estão orientando a ação.(3) Crary argumenta que um conceito é objetivo no sentido amplo de que ele determina o mesmo conteúdo em circunstâncias diferentes, mesmo que a similaridade do conteúdo não seja determinada por referência a algum padrão externo ao nosso discurso. Ele pode ser objetivo do ponto de vista das pessoas que utilizam o conceito e têm uma noção de como utilizá-lo corretamente e estendê-lo a novas circunstâncias. Pois embora essas pessoas possam discutir sobre como usá-lo corretamente, elas normalmente acreditam que existe um fato sobre o assunto sobre o qual estão discutindo. Essa análise inclui conceitos morais, afirma ela.
(3) Eu não estou convencido de que haja um problema aqui. Uma placa que diz “Tinta Fresca” é factual, entretanto, orienta alguém a não sentar no banco. Porém, essa é uma história muito longa.
Como lidar com novos casos é uma questão tanto para Crary quanto para Aristóteles. Ela afirma que nós temos ‘uma sensibilidade para a importância das semelhanças e diferenças‘, entretanto, ‘não se trata de especificar rigidamente o conteúdo da sensibilidade imaginada’ (p. 41). E o desenvolvimento moral é, em parte, uma questão de melhorar essa sensibilidade, que Aristóteles reconheceria como parte da sabedoria prática.
Aristóteles lida com o problema da objetividade e da orientação da ação recorrendo à sua ciência teleológica. Ele considera um fato que a vida humana tem certos fins que são bons porque são naturais; portanto, chamar uma característica de virtude é relacioná-la com um fim bom e, assim, declarar um fato sobre ela e indicar uma razão para ter e agir de acordo com essa característica. Aristóteles não se preocupa muito com a objetividade. Por outro lado, a ética não é uma ciência exata: pois embora existam respostas certas e erradas para questões éticas, nem sempre nós somos capazes de ter a certeza de que elas são e nós não somos capazes de encontrá-las aplicando alguma fórmula detalhada e fiável.
Crary argumenta que as sensibilidades – que, como no caso de Aristóteles, incluem reações emocionais – que nós exercemos ao falar e agir com base no que nós consideramos importante constituem muito do que é a moralidade. Ela sustenta que falar sobre importância dessa maneira, mesmo quando os conceitos em questão não são aqueles que normalmente nós consideramos éticos, abre a porta para casos em que alguém está engajado no pensamento moral (p. 44). Nós não somos capazes de separar prontamente as nossas suposições e sensibilidades sobre o que é importante entre o que é moral e o que não é moral.
Algumas delas podem parecer não morais, mas ainda assim fazem parte do pensamento moral no sentido mais amplo em que Crary se concentra. A título de ilustração, Crary cita as opiniões críticas de Gilbert Ryle sobre Orgulho e Preconceito de Jane Austen, entre outros de seus romances (pp. 138-49). Ryle avalia o tipo e o grau de orgulho que cada um dos personagens principais de Orgulho e Preconceito exibe e deixa claro que, embora nem todas as suas formas sejam obviamente morais – o orgulho modesto e passivo do Sr. Collins (p. 141) não são o que nós apresentaríamos como exemplos padrão de virtudes ou vícios – eles são, no entanto, centrais para quem é cada um dos personagens e estão ligados às características que prontamente nós chamamos de virtudes ou vícios.
Da mesma forma, Aristóteles parece não distinguir a nossa aquisição do conceito de homem a partir daquela do conceito de justo. Em ambos os casos, a criança adquire o hábito de dizer a palavra nas circunstâncias certas – um assunto complicado, segundo Aristóteles e leva tempo para aprender como fazê-lo – mas depois, eventualmente, necessita refletir sobre como isso deve ser feito, especialmente em casos difíceis e desconhecidos. Ele assimila os casos morais aos não morais pelo menos tanto quanto Crary. Na visão Aristotélica, identificar qualquer coisa é identificá-la como uma substância, ou uma propriedade de uma substância, ou um evento envolvendo substâncias; em qualquer caso, há alguma referência, talvez indireta, a uma substância e, portanto, a um propósito ou fim bom. Para ser capaz de identificar algo como um ser humano ou reidentificar isso como o mesmo ser humano requer saber o que é um ser humano. Essa necessidade, por sua vez, como nós somos capazes de inferir a partir dos argumentos sobre o aborto, exige o tratamento de algumas questões morais. Nenhum conceito, nenhuma característica humana sobre a qual valha a pena falar, é desprovida de conteúdo moral. Pois, por definição, um ser humano tem certos propósitos e tende para certos bons estados finais, que constituem a base da ética.
Aristóteles tem razão. Ainda hoje nós definimos funcionalmente muitas características psicológicas: as patologias são conceitos teleológicos. Aristóteles sustenta que cada característica de um ser humano está essencialmente relacionada com a totalidade da vida da pessoa, portanto, com o propósito da vida da pessoa, portanto, com a vida boa, portanto, com a virtude. Considere a inteligência, por exemplo. Aristóteles distingue as virtudes éticas a partir das intelectuais, entretanto, todas as virtudes requerem sabedoria prática, que nenhuma pessoa pouco inteligente possui.
Da sabedoria prática também nós somos capazes de dizer que isso une as características de uma pessoa virtuosa. Aristóteles acredita, com bastante razão, que o florescimento envolve mais do que apenas o que nós consideraríamos virtudes morais. Inclui senso de humor, por exemplo e outras características bastante auto estimadas. Aristóteles provavelmente aceitaria a caracterização de Ryle dos traços de personalidade do Sr. Collins e os consideraria como não contribuindo para o seu florescimento. Eles fazem parte de seu caráter, mas eles dão a Elizabeth e a nós motivos para ridicularizá-lo, não para odiá-lo ou temê-lo.
Habilidades e hábitos
A capacidade de agir com verdadeira coragem é como uma habilidade, do tipo que um carpinteiro ou um músico podem ter após anos de experiência e, no devido tempo, de reflexão. Talvez você se lembre de ter aprendido a tocar piano. Quando você começa a aprender e a sua mãe obriga você a praticar uma hora por dia, você não é bom nisso e não gosta muito. Você faz isso para evitar consequências ruins a partir de sua mãe. Com o passar do tempo, porém, a sua performance melhora e você começa a se divertir. Você também vem a ser consciente da técnica. Você aprende que tocar bem não é apenas uma questão de acertar as notas certas: a expressão conta.
Eventualmente você toca de maneira soberba e sente um prazer extraordinário com isso. Tendo aprendido alguns dos aspectos técnicos da performance, você é capaz de dizer por que Glenn Gould é melhor que John Tesh.(4) Como diz Newton (1992, p. 359), os funcionários podem se desenvolver dessa maneira em seus empregos: em primeiro lugar, eles seguem as instruções; então, depois de um tempo, eles agem por hábito; finalmente, pelo menos em alguns tipos de trabalho, eles entendem o propósito do que estão fazendo e encontram criativamente novas maneiras de fazê-lo. É justo acrescentar que eles também passam a gostar mais.
(4) Yogi Berra disse certa vez a um jornalista esportivo que também era pianista amador: “Nós acabamos de comprar um piano. Você pode vir aqui algum dia e nos mostrar como funciona? Berra evidentemente adotou a teoria baseada em princípios de tocar piano.
“Como diz Newton (1992, p. 359), os funcionários podem se desenvolver dessa maneira em seus empregos: em primeiro lugar, eles seguem as instruções; então, depois de um tempo, eles agem por hábito; finalmente, pelo menos em alguns tipos de trabalho, eles entendem o propósito do que estão fazendo e encontram criativamente novas maneiras de fazê-lo. É justo acrescentar que eles também passam a gostar mais.“
Lembre-se de que Aristóteles distingue entre fazer (praxis; doing; coisas não palpáveis ou tarefas sem produção de algo novo) e fazer (poiesis; making; criar algo). A primeira atividade é capaz de ser desfrutada isoladamente; essa última é valorizada pelas suas consequências. Quando você começa a aprender a tocar piano, a sua atividade é uma poiesis, pois o seu objetivo é agradar a sua mãe, ou pelo menos mantê-la longe de você. Eventualmente, ela vem a ser uma praxis. Nós poderíamos levar o argumento de Newton um pouco mais longe e dizer que, em alguns empregos, pelo menos, o objetivo passa a ser não apenas receber um contracheque, mas fazer o trabalho de uma maneira virtuosa.
“Nós poderíamos levar o argumento de Newton um pouco mais longe e dizer que, em alguns empregos, pelo menos, o objetivo passa a ser não apenas receber um contracheque, mas fazer o trabalho de uma maneira virtuosa.“
Uma organização pode usar a habituação para desencorajar o assédio sexual, recompensando e punindo o bom e o mau comportamento. É claro que é possível estabelecer regras que serão úteis na medida em que se baseiem num entendimento claro do que é o assédio sexual e do que há de errado com ele. O problema é, notoriamente, que é difícil dizer exatamente o que constitui assédio; e na ausência de uma definição clara, a lei pode parecer exigir que as pessoas, especialmente os homens, pisem em ovos. Então, muitas vezes isso acontece com regras e princípios. Entretanto, se fosse possível fazer com que todos os trabalhadores do sexo masculino falassem e agissem com respeito pelas mulheres, no devido tempo eles poderiam aceitá-las como colegas de trabalho e sentirem-se confortáveis em tratá-las em conformidade e deplorarem tratá-las de outra forma. Muitos homens não são capazes de mudar imediatamente a sua atitude em relação a isso; no entanto, eles são capazes de agir com respeito ou coragem ou justiça durante algum tempo, talvez tentando imitar um modelo, até adquirirem o hábito de fazê-lo. Eles ainda cometem gafes ocasionais ou fazem de tudo além do aceitável, mas estão progredindo no sentido de adquirir a virtude. “Assuma uma virtude se você não a tem”, Hamlet incentiva Gertrude.(*)
[(*)Observação PO: “Num sentido mais amplo, a citação de Hamlet lembra-nos que as ações humanas, especialmente no contexto das economias, têm o poder de remodelar e alterar o curso natural das coisas. Enfatiza o papel da agência humana na influência dos resultados econômicos e a necessidade de práticas responsáveis e sustentáveis. Assim, a ligação entre as economias e a citação “o uso quase é capaz de mudar a marca da natureza” reside no reconhecimento de que a nossa utilização de recursos e as nossas atividades econômicas são capazes de ter efeitos transformadores no mundo natural e nos sistemas que nós criamos para sustentar as nossas sociedades.” Fonte: site https://www.quora.com/What-is-the-connection-between-economics-and-the-quote-use-almost-can-change-the-stamp-of-nature-from-Hamlet]
Ele sugere que ela evite fazer sexo com Claudius naquela noite e na seguinte e com o tempo isso será mais fácil se abster. ‘Pois o uso quase é capaz de mudar a marca da natureza’ (‘For use can almost change the stamp of nature.’).'(5)
(5) Eu sigo Audi (2012) ao usar essa passagem para defender uma questão sobre a habituação. Aristóteles enfatizaria que não se é capaz de mudar literalmente a marca da natureza; daí o ‘quase’.
Se tudo correr bem com Gertrude, ela não só adquirirá o hábito de não ter relações sexuais com Claudius, mas também se sentirá confortável com a sua abstenção e ficará comovida não só pelas emoções importunas do filho, mas também por considerar o que há de errado em ter sexo com Claudius: isso é incesto, tecnicamente e ele é um homem mau. No caso de assédio sexual, é bom que o homem perca o hábito de chamar as mulheres de ‘querida’ no local de trabalho e interrompê-las o tempo todo nas reuniões, porém, a verdadeira virtude é uma questão de agir melhor porque genuinamente e com razão se respeita as mulheres.
Livre arbítrio
Pessoas de carácter forte são capazes de resistir às pressões ambientais para agir contra as primeiras premissas consideradas dos seus silogismos práticos, pelo que têm mais autonomia do que aquelas que sucumbem ao melhor julgamento delas, ou simplesmente não reconhecem as pressões que as influenciam.
A autonomia, nesse sentido – a capacidade de formar e agir de acordo com intenções baseadas em valores bem considerados – é virtualmente equivalente à sabedoria prática, que é uma condição necessária e suficiente de bom caráter. No entanto, nós não excluímos a culpa dos fracos de vontade: a incontinência deles é um defeito deles. O desenvolvimento do caráter visa alguma coisa melhor. Nós somos eticamente obrigados a adquirir as características e desejos corretos e a capacidade de agir de acordo com eles.
Tudo isso acompanha Aristóteles, porém, há um possível problema em seu relato. Ele sustenta que a família e a polis(*) influenciam fortemente o desenvolvimento do caráter. Se você tiver sorte, os seus pais e concidadãos lhe oferecerão bons modelos, recompensas e punições, além de educação ética. Mas e se você não tiver tanta sorte? É sua culpa se a sua família e a sua polis são ruins e criam você de acordo?
[(*)Observação PO: “A natureza da polis: Segundo Aristóteles, se é certo que “todas as comunidades visam algum bem, a comunidade mais elevada de todas e que engloba todas as outras visará o maior de todos os bens” (Politica I, 1, 1252ª’-2). A polis é uma comunidade política que surge de outras associações, como a comunidade familiar e doméstica – a casa (oikos) – e a comunidade de vizinhos – a aldeia (kômê) -, buscando alcançar o maior bem, a autarquia (autarcheia) e a vida feliz. Num primeiro momento, as finalidades são a sobrevivência e a subsistência, procurando satisfazer as necessidades do quotidiano e atingir a autossuficiência: num segundo momento, a meta visada não é apenas a de viver, mas a de viver bem (ibid., 1252b28-30; cf. III, 6, 1278b24-30).” Fonte: pesquisas internet.]
Aristóteles afirma que você é corresponsável por seu caráter (NE III 5 1114b23), mas é difícil ver como você é capaz de ser responsável por seu caráter se não é capaz de optar por evitar ser criado em uma família ou polis degenerada. Em qualquer caso, agir com base no hábito não parece ser agir de forma autônoma.
Aristóteles está bem ciente dos fatores que fazem com que as ações sejam voluntárias ou involuntárias e, portanto, fora do alcance do louvor ou da culpa; esse é o tema do NE III, especialmente dos Capítulos 1 e 5. Agir sob compulsão física é um exemplo de ação involuntária. No entanto, se você fizer algo errado por ignorância porque está bêbado, a culpa é sua, porque você bebeu voluntariamente em excesso (III 5 1113b30–3).
Um certo tipo de ignorância também pode desculpar você: você pode saber que invadir é errado, embora não saiba que você tem se desviado para a minha propriedade. Nesse caso você conhece o universal, mas não o particular. (Se a sua ignorância é uma desculpa legal é outra questão.) Entretanto, se você sabe que o egoísmo é errado, no entanto, não consegue ver que o que você está fazendo é egoísta, você é responsável. Nem qualquer outro tipo de fraqueza de vontade o desculpará. Aristóteles diz que as suas escolhas formam o seu caráter (III 5 1114a6). Se você é responsável por seu caráter dessa maneira, você também é responsável pelo que aparece a você por ser bom, porque o seu caráter determina o que aparece a você por ser bom (III 5 1114b1). Se exigir mais do que a sua parte lhe parece simplesmente uma questão de defender a si mesmo, ou se você é insensível a algum aspecto eticamente relevante de uma situação, há um problema sobre o seu caráter.
A questão do determinismo causal
Aristóteles não contempla a objecção determinista, familiar nos últimos séculos, de que as decisões que nós tomamos, mesmo quando nós desenvolvemos um caráter, são elas próprias produtos de condições causais preexistentes desconhecidas, fora do nosso controle e conhecimento. Uma razão provável para o aparente fracasso de Aristóteles em enfrentar esse problema é que ele não abraça o determinismo causal em geral, nem entende a causalidade como nós a entendemos.
No entanto, a posição de Aristóteles sobre o livre arbítrio não está muito errada. Faz sentido pensar no livre arbítrio como a capacidade de fazer (formar) e agir racionalmente com base em intenções que, por sua vez, são baseadas em valores e desejos racionais. A fraqueza de vontade é um bom exemplo da ausência de livre arbítrio, uma vez que a sua vontade é fraca e não livre e eficaz. Num estado de fraqueza de vontade, fatores inadequados em seu ambiente ou as suas próprias patologias psicológicas fazem com que você não aja racionalmente e as razões que você oferece para as suas ações são, na melhor das hipóteses, racionalizações. Por conta disso, o livre arbítrio é uma questão de grau. O mesmo ocorre, sem dúvida, com a adequação do louvor e da censura, porque alguém pode ser mais ou menos suscetível a eles. (Entretanto, a adequação do louvor e da censura não corresponde precisamente à sua eficácia, ou à liberdade da vontade.)
Por mais paradoxal que isso possa parecer, você poderá não ser capaz de decidir se deseja ter liberdade de vontade; você pode achar difícil adquirir o hábito de agir racionalmente e, portanto, virtuosamente. A sua capacidade de agir livremente pode ser uma questão de sorte na educação ou em algum outro aspecto.
No entanto, Aristóteles não acredita que você seja sempre uma vítima passiva de seus desejos: a fraqueza de vontade não é universal. Como nós temos observado, ele de fato acredita que as pessoas vis são vítimas de desejos que elas gostariam de não os ter, porque as coisas ruins têm se tornado agradáveis para elas (NE IX 4 1166b23–9). Os desejos de primeira ordem delas não estão sob o controle dos seus desejos de segunda ordem. Isso nós temos que evitar em nosso desenvolvimento moral. Elster (1985) defende a ‘autogestão‘ para evitar que desejos e emoções inadequados nos desviem das nossas intenções mais racionais. Isso pode envolver ficar longe de situações em que nós somos vulneráveis, bem como aquilo que Elster chama de formação de preferências estratégicas, referida no Capítulo 3: nós cultivamos certos desejos que nos apoiam a agir de acordo com os nossos valores.
Esse cultivo presumivelmente inclui adquirir o hábito de agir como se alguém tivesse certas preferências e certas razões para agir e, assim, eventualmente, vir a tê-las. Assim, nós desenvolvemos hábitos de desejo e de razões para agir e não apenas hábitos de ação. (Ver Werhane et al., 2011, para obter mais conselhos nesse sentido.) Observe que administrar a si mesmo [autogestão] dessa maneira requer ter uma noção bastante clara de como você deseja que a sua vida siga. Como diz Aristóteles, você necessita aspirar a uma vida definida por desejos melhores do que os de uma criança (NE X 3 1174a1–4) ou de uma pessoa vil.
A escolha racional é característica dos seres humanos e é uma coisa boa em si mesma. Você é responsável por suas escolhas em um grau significativo. Entretanto, Aristóteles liga tão estreitamente a natureza humana, a racionalidade, a virtude e a eudaimonia que ele deixa pouco ou nenhum espaço para escolhas livres que são más. Esses são o resultado de um processo de escolha que deu errado, como no caso da fraqueza de vontade, que prejudica a sua autonomia. Quer nós concordemos ou não inteiramente com Aristóteles, a maioria de nós diria que as pessoas que sofrem de alguma patologia, incluindo uma grave fraqueza de vontade, têm uma autonomia tão nitidamente limitada que não merece esse nome.
Se poderia ficar tentado a objetar que essa explicação simplesmente ignora o determinismo causal. Pois como eu posso ser livre para agir quando todas as minhas ações são resultados de condições causais anteriores? Entretanto, está longe de ser claro que uma ação causada seja uma ação não-livre. Se a minha ação for causada pelo meu conhecimento e pela minha deliberação sensata e cuidadosa, baseada em valores que levam em conta considerações éticas e outras considerações práticas apropriadas, ela é tão livre quanto uma ação é capaz de ser. Uma determinada ação que eu realizo – digamos, acionar os freios do meu carro – pode ser causada, em parte, por ver uma criança pequena saindo para a rua e, em parte, pela minha aversão a matar crianças inocentes. Não há razão para acreditar que a presença dessas condições causais, a minha visão e os meus valores, mina a minha liberdade.(6) Agora, se eu tivesse batido na criança porque tinha uma visão deficiente ou estava sob o domínio de uma compulsão incontrolável para matar pessoas inocentes, eu estaria realizando uma ação não-livre. Se a minha boa visão e racionalidade num caso ou a minha má visão e irracionalidade no outro são resultados da minha educação é irrelevante para a questão da liberdade.
(6) Lembre-se de que esses fatores são causas reais. Veja Davidson (2001, Ensaio 1).
Kant chama esse tipo de abordagem de subterfúgio, porém, é importante que você tenha a capacidade de tomar uma decisão racional, mesmo que ela seja causada por algumas condições anteriores de seus olhos e cérebro. Faz diferença que alguma coisa cause a sua visão 20-20 [acuidade visual], o que por sua vez faz com que você resgate a criança? Poderia ser de outra forma? A racionalidade tem um lugar central nessa explicação do livre arbítrio. Se a virtude nada mais é do que bons hábitos, sem reflexão, então mesmo os virtuosos não controlam as suas próprias vidas. No entanto, vir a ser virtuoso é uma questão de racionalidade e também de hábito.
Reflexão racional
Indo além do hábito
Aristóteles diz que nós passamos do hábito à reflexão sobre o caminho para a virtude (X 9 1180a7-12), mas a sua explicação da fraqueza de vontade mostra que o nosso progresso não segue uma linha reta. É possível que eu chegue a uma conclusão razoável sobre como lidar corajosamente com o chefe, mas ainda tenha pouca vontade para fazê-lo, possivelmente porque eu tenho o hábito de ficar quieto e seguro. Duhigg (2012, pp. 129-32) argumenta que às vezes você aumenta a sua força de vontade desenvolvendo novos hábitos para expulsar os antigos. Assim como Gertrude, você pode assumir uma virtude, respirar fundo e, com receio, dizer ao chefe: ‘Margaret, pode haver alguns problemas com o que você está sugerindo’ Continue fazendo isso e, com o tempo, será mais fácil agir com coragem, como você sabe que você deveria agir. Ainda assim, saber quando e como desafiar Margaret não é apenas uma questão de hábito.
Vale a pena notar que Duhigg (pp. 138f.) encontra evidências de que se é possível fortalecer a força de vontade em todos os aspectos. Assim, ao contrário do que Doris e outros podem nos levar a esperar, é pelo menos possível ganhar coragem no escritório, na cadeira do dentista e em outros locais – e desenvolver outros hábitos virtuosos ao mesmo tempo.
Enquanto a virtude for apenas um hábito, é provável que Philip seja corajoso em algumas situações, mas não em outras. Ele aceitará alegremente um contato difícil em um jogo de futebol, já que jogou muito futebol, mas resiste à broca do dentista e evita convidar Andrea para o baile.(7) Aristóteles diria que Philip não é verdadeiramente corajoso se for covarde ou imprudente fora do campo de futebol. Para ser totalmente corajoso, é necessário que Philip tenha uma ideia clara de quais são os seus valores e que se preocupe com eles – isso é, que se preocupe com o tipo de pessoa que ele é. Saber o que é coragem e por que é importante agir com coragem permite que Philip tenha confiança na sua crença sobre o que é a coisa corajosa a fazer numa situação particular. É evidente que tudo isso exige um elevado nível de racionalidade. Esse ponto parece sugerir que o que parece ser coragem por uma causa ruim não é verdadeira coragem, pois se baseia em crenças falsas ou valores insustentáveis. Isso é o que Aristóteles diz sobre a ‘coragem‘ demonstrada por más razões ou por uma má causa. Pode ser mais corajoso recusar-se a lutar numa guerra injusta do que lutar nela.
(7) Doris e outros pensam que é assim que as coisas normalmente são, porque as pessoas não são racionais o suficiente para organizar as suas crenças e desejos de acordo com a razão. O próprio Aristóteles admitiria que isso é verdade para muitas pessoas.
Sócrates estava errado ao pensar que saber qual é a coisa corajosa a fazer é uma condição suficiente para fazê-la. Ele provavelmente também estava errado ao pensar que é possível dar uma definição clara e unitária de coragem ou de qualquer outra coisa. Mas ser capaz de dar algum tipo de explicação verdadeira sobre o que é a coragem, talvez estabelecendo certas regras-v [v-rules; regras de virtude?], certamente contribui para a capacidade de alguém agir com coragem. Se Philip for genuinamente corajoso, ele sabe que a coragem exige que ele fale com franqueza quando o chefe pede a sua opinião, mesmo que ela provavelmente não goste de ouvi-la. Vale a pena saber, porém, isso não é suficiente. Ele tem que saber como é a coragem na prática.
Se o chefe propõe fazer alguma coisa que Philip pensa que é um erro, Philip deve expor as razões para discordar da proposta, mas ele não deve chamar o chefe de idiota. Em alguns casos, Philip apresentará as objeções dele, no entanto, seguirá com o programa se o chefe não ceder. Em outros casos, Philip insistirá, ou talvez renunciará, ou talvez denunciará. A verdadeira coragem às vezes exige que Philip seja muito prático e extremamente sábio, além de ter emoções de apoio também. A coragem dele implica agir na hora certa, da maneira certa, com respeito à pessoa certa e assim por diante.
Suponha que Philip tenha bons motivos para acreditar que, no longo prazo, a chefe superará a sua irritação inicial e o respeitará por desafiá-la, mas a vontade dele é fraca e ele decide não desafiá-la porque pensar nisso o deixa muito nervoso. Dessa e de muitas outras maneiras, todos nós às vezes somos irracionais. Os nossos valores e alguns dos nossos desejos são inconsistentes: nós queremos o que nós desejamos e não queríamos, por vezes porque a emoção desempenha um papel inadequado; e nós agimos com base em desejos que são inconsistentes com os nossos valores e não naqueles que nós sabemos que deveriam orientar as nossas ações. Como nós temos discutido, uma variedade de fatores é capaz de minar as nossas virtudes, à medida que nós enfraquecemos ou racionalizamos. Essa é uma das razões pelas quais é importante ter as emoções certas.
Aristóteles parece acreditar que as nossas emoções são criaturas de hábitos. Acostumar-se com alguma coisa nos ajuda a perder o medo, a repulsa e a indignação. Emoções desse tipo não são capazes de ser facilmente descartadas. Pelo contrário, é mais provável que nós procuremos uma racionalização dos preconceitos baseados nas emoções. Entretanto, Jones pode deixar de se sentir desamparado e ressentido à medida que se habitua a reportar-se a Smith e a pensar nela não como uma mulher, mas como uma boa gestora, assumindo que ela o seja.
O que a racionalidade acrescenta
Se você é uma pessoa virtuosa, você tem uma base racional para o que você faz. Em particular, você entende não apenas a importância da (digamos) honestidade, mas também alguma coisa do seu propósito, de como ela contribui para as nossas vidas juntos. No entanto, dizer que a virtude implica racionalidade não é dizer, nem é verdade, que a pessoa genuinamente virtuosa alcançou o tipo de conhecimento de coragem ou benevolência que um matemático tem do triângulo. Pelo contrário, a maturidade ética é uma questão de ir além do cumprimento atento das regras. A certa altura você está sozinho, no sentido de que toma decisões sem ter um princípio que lhe diga exatamente o que fazer.
Hank Saporsky não tinha nenhum manual para consultar antes de decidir insistir para que Deborah fosse enviada para Londres. Se a ele tivesse sido perguntado por que Deborah deveria ir, ele poderia ter dado uma resposta perspicaz, sem dúvida tendo alguma coisa a ver com a importância de um compromisso corporativo com ela e outras pessoas como ela. Entretanto, a resposta dele não teria provado que ele estava fazendo a coisa certa. Não foi como decidir demitir um consultor que vinha trapaceando sistematicamente nos relatórios sobre tempo e despesas. Isso era uma situação nova, que não correspondia a nenhuma situação anterior, característica por característica. Isso não exigia novas virtudes, porém, exigia que Hank pensasse de forma nova e independente. Uma razão para elogiar o caráter de Hank é que ele está aberto ao desenvolvimento contínuo de suas virtudes à medida que surgem novas situações. Ele é capaz de lidar com essas situações porque as decisões dele estão fundamentadas em seu caráter, que é capaz de se adaptar sem vacilar.
Você quer evitar a situação em que, como a pessoa vil, você acha agradável aquilo que você despreza: nesse caso, os seus desejos mais baixos ficam fora de controle. No caso oposto, você atingiu o auge da educação de adultos quando você é capaz de responder à pergunta de mais alta ordem: ‘Que tipo de pessoa eu quero ser?‘ Eu argumentei no Capítulo 3 que o tipo de pessoa que você é determina quais são os seus interesses; portanto, a questão Aristotélica está, na verdade, perguntando: ‘Quais você deseja que sejam os seus interesses?’ Eu observei que, de acordo com Aristóteles, você não desejará ter interesses infantis ou vergonhosos; você quer interesses que sejam consistentes com a sua humanidade totalmente desenvolvida. Essa questão não estaria fora de lugar se você estivesse fazendo um curso de ética nos negócios.
Você quer ser o tipo de pessoa que só consegue desfrutar de um sucesso financeiro esmagador? Ou o tipo de pessoa que gosta de uma vida na qual o trabalho desempenha um papel importante, porém, não dominante e na qual esse trabalho oferece desafio, variedade, crescimento, associação com pessoas interessantes e remuneração que lhe permite viver confortavelmente? A questão não é qual você prefere. É uma questão de ordem superior sobre qual deles você escolheria se pudesse fazer essa escolha. Não é uma questão simples sobre o interesse próprio, embora no Capítulo 3 nós tenhamos visto algumas evidências a partir de psicólogos positivos de que esse último tipo de vida é mais feliz.
É característico do ser humano e de nenhuma outra criatura ser capaz de construir um caráter. Um bom caráter é uma conquista da razão. Você é responsável por entender que não é bom perseguir os prazeres de uma criança ou de uma pessoa vil e por vir a ser o tipo de pessoa que deseja agir de acordo. Você é responsável por ver a sua vida como um todo, não como uma mera sucessão de experiências e por garantir que ela seja apropriada para uma criatura que é um cidadão racional e sociável numa comunidade de cidadãos racionais e sociáveis. Assim como no caso da saúde física, você começa com exercícios, que aos poucos passa a gostar por fazer bem.
O que é natural não é fácil
Vir a ser o tipo certo de pessoa e agir de acordo é natural, no sentido de que se nasce com capacidade para isso, mas também isso é difícil.
A habituação é necessária, mas não será suficiente; o processo requer racionalidade na definição do que se deve fazer. O modelo de racionalidade de Aristóteles é o silogismo prático, que começa com uma declaração do que se quer e termina com uma ação. Isso parece simples: eu descubro o que é bom para mim e ajo de acordo. No entanto, como nós temos visto, o próprio Aristóteles reconhece, na sua discussão sobre a fraqueza de vontade, que isso nem sempre funciona dessa maneira. Como argumentaram vários psicólogos sociais, a maioria das pessoas não é muito boa em descobrir o que é bom para elas ou, mesmo que consigam fazê-lo, a agir em conformidade.
Considere Smith, que se dá bem com pessoas de outros grupos étnicos e também com o dela próprio. Quando ela era uma criança, os pais dela lhe disseram que todas as raças são iguais e eles policiavam a sua linguagem e também as suas ações. Eles fizeram com que ela se acostumasse a sair em diversas companhias e agora ela gosta de fazer isso. Quando ela diz que julga as pessoas pelo conteúdo de seu caráter, ela está falando sério e age de acordo. Ela está moralmente em melhor posição do que uma pessoa que não adquiriu tais hábitos e que reage às diferenças humanas de uma maneira que reflete a nossa tendência inata de favorecer o nosso grupo. (Sobre essa questão, ver Messick, 1998.) Mas existem algumas questões raciais que não são passíveis de intuições formadas por hábitos: pense na ação afirmativa e no perfil racial, por exemplo. Ela tem que ser capaz de raciocinar sobre essas questões e refletir sobre as próprias percepções e emoções dela. E se ela for uma pessoa justa, ela abdicará não só do preconceito racial, mas também do preconceito contra os Cristãos Evangélicos e os Republicanos ricos.(8)
(8) Discordância respeitosa e de mente aberta, que nós discutiremos no Capítulo 7, não é o mesmo que preconceito.
Nem todos os exemplos de virtude são psicologicamente semelhantes. É por isso que a mera habituação não criará virtudes que transitem de um tipo de situação para outra. O treinamento militar, mesmo com munições reais, não fará com que os soldados sejam verdadeiramente corajosos. A disponibilidade para assumir riscos é capaz de ser aprendida como um hábito mais facilmente do que a disposição para assumir os riscos calculados e justificados que a coragem exige e dos quais a imprudência é incapaz. Alimentar o cachorro todos os dias é um hábito e não necessariamente um sinal da virtude da consciência no nível da percepção [consciousness]. Entender as obrigações de alguém – para com o seu cão, para com o seu empregador e para com os outros – e cumpri-las fielmente é um sinal de verdadeira consciência no nível da percepção [consciousness], desenvolvida com inteligência reflexiva (Elster, 1985, pp. 15-26). É a capacidade de refletir que reúne uma variedade de disposições aprendidas e cria uma virtude. Essa capacidade também pode criar virtudes ao separar estados que são psicologicamente semelhantes. Por exemplo, a reflexão pode lhe ensinar que há uma diferença entre defender aquilo em que você acredita e ser intolerante com a dissidência.
Na medida em que Philip for capaz de raciocinar sobre o que deveria temer, ao invés de confiar apenas no hábito, ele entenderá por que ele não deveria temer o dentista mais do que teme grandes defensores quando ele está carregando a bola. É claro que apenas saber que a dor do exercício será menor do que a dor de ser abordado não é suficiente para reduzir o seu medo; nós sabemos como a fraqueza de vontade pode operar. Pode acontecer que o papel da razão nesse caso será fazê-lo ir ao dentista apesar do medo, para que eventualmente se acostume com a broca e, assim, tenha menos medo dela. Nesse caso, a razão requer a ajuda do hábito.
É importante que as pessoas com alguns bons hábitos considerem porque é que esses hábitos são virtuosos – isso é, por exemplo, o que está envolvido em ser justo e como isso contribui para uma vida boa. A partir dessa consideração surgirão alguns princípios gerais relativos à natureza e aplicação da justiça. Simplesmente conhecer esses princípios não farão com que o agente seja justo, de acordo com Aristóteles, embora isso ajudará. Como nós já temos discutido, é preciso passar a ver as pessoas e as situações de uma nova maneira, em situações que não se enquadram facilmente nos princípios tal como nós as temos entendido.
Isso não é tão fácil quanto parece, de acordo com Bazerman e Tenbrunsel (2011, Capítulo 4) e muitos outros psicólogos sociais. Nós convencemos a nós mesmos de que nós somos pessoas justas e que os nossos julgamentos sobre as mulheres e outras pessoas são feitos com base em provas pertinentes, por mais preconceituosas que elas possam ser. Entretanto, pode-se evitar até mesmo as inferências mais óbvias dos princípios defendidos. Pense nos nossos iluminados Pais Fundadores [dos Estados Unidos], que na Declaração da Independência declararam ser evidente que todos os homens são criados iguais, entretanto, mais tarde nesse documento acusaram o Rei George de ter encorajado os escravos na América à revolta.
“…é preciso passar a ver as pessoas e as situações de uma nova maneira, em situações que não se enquadram facilmente nos princípios tal como nós as temos entendido.“
Aqui nós voltamos a um ponto abordado no Capítulo 1. É tão difícil ser virtuoso – ter virtudes que abrangem uma gama diversificada de casos e evitar a racionalização egoísta – que se trata de um ideal irreal?
Aristóteles sugere que poucos conseguem ser totalmente virtuosos. Pode-se inferir disso que a ética da virtude Aristotélica é desqualificada como uma abordagem viável porque falha no teste de alcançamento. Eu não faço essa inferência. Existem algumas pessoas que são realmente virtuosas e elas são capazes de servir de modelo para o resto de nós, que às vezes agem virtuosamente porque nós temos alguma noção do que é a virtude e nós somos capazes de satisfazer parcialmente o nosso desejo de sermos pessoas de bom caráter. Nós tentamos nos tornar mais parecidos com os heróis da virtude, incluindo os grandes profetas religiosos; nós falhamos, no entanto, nós fazemos algum progresso nessa direção.
O que os gerentes são capazes de fazer
Se o livre arbítrio envolve essencialmente a capacidade de deliberar e agir racionalmente, então o problema do livre arbítrio é, pelo menos em parte, uma questão empírica, sobre a qual certos psicólogos sociais têm alguma coisa a dizer. Para gerentes e teóricos da gestão, essas descobertas terão implicações práticas. Se nós quisermos influenciar o comportamento dos funcionários e de outros, é útil saber até que ponto eles agem de acordo com os seus valores, em oposição ao mero hábito ou algum tipo de pressão social. Mudar o comportamento apelando ao interesse próprio racional e encorajando a força de vontade não funciona bem em todos os tipos de situação. Baumeister e Tierney (2011, Capítulo 10) dão o devido valor à força de vontade, entretanto, eles reconhecem que, por exemplo, perder peso com sucesso é em grande parte uma questão de manipulação do ambiente físico e social e de si mesmo, como uma técnica do que Elster chama de autogestão. Isso é consistente com a visão de Duhigg de que às vezes você aumenta a sua força de vontade desenvolvendo novos hábitos para eliminar os antigos. (Nada disso será novidade para os Vigilantes do Peso ou para os Alcoólicos Anônimos, ou para Doris e outros, aliás.)
Fazer com que os funcionários adquiram bons hábitos pode ser um passo na direção de fazer com que eles sejam mais virtuosos. Afastá-los da tentação e não oferecer incentivos para o mau comportamento ajudará. Mas há aqui questões éticas.(9) Motivar os funcionários de maneiras que ignoram ou minam os seus valores – gerir através do medo, por exemplo, ou de mentiras – é uma forma de manipulação que mina tanto o caráter do agente como da vítima. Há um dilema moral, no entanto. Nós acreditamos que as pessoas devem ser tratadas com a presunção de que são racionais, no entanto, há provas de que muitas não o são. Nós podemos dizer que os bons gestores encorajarão e recompensarão a racionalidade, porém, isso pode ser difícil, especialmente se os próprios gerentes não forem racionais.
(9) Já deveria estar claro que, ao dizer isso, eu não estou afirmando que nas discussões de psicologia e ética nós somos capazes de distinguir prontamente o empírico a partir do normativo.
Entretanto, Aristóteles não está satisfeito em encontrar as ferramentas de gestão mais eficazes. Ele quer mostrar como alcançar o tipo de racionalidade que sustenta a virtude. Isso requer educação de adultos naquilo que ele chama de dialética, para a qual nos voltamos agora. Ao fazê-lo, eu tenho que reconhecer que há controvérsia sobre o que exatamente Aristóteles quer dizer com dialética e se ele a utiliza consistentemente em NE é controverso. (Ver Salmieri, 2009, por exemplo.) Eu utilizo a palavra para me referir ao método que Aristóteles utiliza explicitamente em NE I 4 e pelo menos ocasionalmente em outros locais.
Dialética
O caráter plenamente desenvolvido envolve, entre outras coisas, fazer bons julgamentos, em parte com base em bons princípios. Aristóteles sustenta que se chega a julgamentos e princípios aceitáveis pelo processo dialético. O processo começa com opiniões comuns (koina), ou pelo menos com as opiniões daqueles amplamente considerados pessoas sábias.(10) O objetivo é ter como premissas de silogismos práticos princípios consistentes que justifiquem opiniões corretas. (Ver NE VII 1 1145b4–8, por exemplo.) Isso não quer dizer, contudo, que nós sejamos capazes de utilizar prontamente esses princípios para orientar as nossas ações em situações complexas ou novas.
(10) O tratamento mais influente desse tópico é Owen (1986).
Nós temos observado que a visão de Aristóteles, exposta em NE II 3 e 4, é que uma boa educação que inculca bons hábitos prepara a pessoa para considerar as definições das virtudes. Uma pessoa bem-educada e, portanto, com bons hábitos e emoções apropriadas, é capaz de fazer julgamentos corretos sobre alguns casos individuais de virtude e vício e também de fazer julgamentos um tanto mais gerais. Entretanto, Aristóteles se compromete a mostrar como nós somos capazes de justificar esses julgamentos, entendendo os princípios justificativos (archai; o singular é arche), que normalmente assumem a forma de definições de virtudes, que são ou geram regras-v [v-rules; regras de virtude?]. Nós recolhemos opiniões comuns, dando preferência às de pessoas sábias e depois procuramos princípios que mostrem porque são verdadeiras e assim as justificam – ou pelo menos muitas delas, uma vez que algumas se revelarão ser falsas.
Quando Aristóteles usa a palavra arche, que pode ser traduzida como princípio ou começo, ele às vezes tem em mente o que nós consideraríamos princípios morais, enquanto outras vezes ele está pensando em julgamentos morais particulares. A ambiguidade é confusa, no entanto, ele afirma explicitamente que o ponto de partida de um argumento que leva a um princípio é chamado de começo (arche), enquanto o próprio princípio é um começo em um sentido diferente: é o ponto de partida da justificação de um determinado julgamento. (Ver NE I 7 1098b2–8, por exemplo.)
Às vezes, ele distingue os dois tipos de começo, dizendo que julgamentos particulares são conhecidos por nós, enquanto os princípios mais amplos são conhecidos por natureza. Assim, os princípios mais amplos justificam alguns dos nossos julgamentos particulares, porém, excluem outros.(11) Se um princípio gera um julgamento particular que está fortemente em desacordo com as nossas intuições, ou percepções, como Aristóteles às vezes as chama, nós temos boas razões para abandonar ou o princípio ou as intuições. Ele não utiliza nenhum termo que nós sejamos capazes de traduzir como ‘intuição‘, porém, eu irei utilizá-la para me referir a crenças perceptivas ou éticas individuais de uma forma que eu considero consistente com a análise de Aristóteles, bem como com o uso moderno. ‘Essa mulher é incompetente‘ e ‘Os consultores devem sempre dizer a verdade‘ são exemplos de intuições no meu sentido. Eu não tenho nenhuma faculdade perceptiva especial em mente.
(11) Aristóteles não diz na Ética a Nicômaco que as opiniões particulares que são archai podem acabar necessitando de correção, porém, ele diz em outro lugar que o que é ‘conhecido por nós’ pode ser falso (ver Metafísica VII 3 1029b8-10 e Tradução de Aristóteles por Irwin (1999, p. 176).
Aqui nós podemos pensar no equilíbrio reflexivo de Rawls (1971, pp. 48-51): nós comparamos os nossos princípios com os nossos julgamentos sobre casos particulares e ajustamos um ou ambos num esforço para fazer com que eles sejam consistentes. Nem os princípios nem os julgamentos são anteriores; cada um está sujeito a ajustes em relação ao outro. Se os seus princípios nada mais são do que o resultado da racionalização das intuições sobre as quais você age – uma ocorrência comum, de acordo com pessoas como Haidt – eles não fazem nenhum trabalho justificativo. Por outro lado, se nós abraçarmos princípios que não têm qualquer ligação com quaisquer intuições plausíveis, eles terão pouca credibilidade.
Aristóteles pensa nas crenças comuns como sendo amplamente difundidas entre pessoas inteligentes numa comunidade bastante homogênea. Ele está ciente de que existem bárbaros, incluindo canibais, que não partilham dessas crenças, no entanto, ele não dá sinais de pensar que eles possam estar certos e os Gregos sábios errados. Na verdade, é difícil discutir com aqueles de quem nós discordamos sobre todas as coisas. Você e eu somos capazes de chegar a um acordo sobre muitos pontos importantes se nós pudermos iniciar a nossa conversa com alguma coisa que nós temos em comum. Aristóteles de fato acredita que há muitas coisas em que nós somos capazes de concordar porque há muitas coisas que parecem intuitivamente óbvias para todos aqueles com quem nós conversamos. No entanto, as nossas intuições iniciais podem exigir alguma elaboração ou mesmo alteração.
Um exemplo de dialética
Não é incomum que uma discussão numa aula de ética prossiga dialeticamente. O instrutor pergunta aos estudantes qual eles pensam que é o propósito da ética. Alguns estudantes dizem que o propósito da ética é fazer com que as pessoas sejam felizes em geral. O instrutor pergunta se o propósito da ética implica algum princípio. Um estudante oferece então o princípio ético de que se deve sempre agir de modo a maximizar a felicidade do mundo. O instrutor então conta a história de um subdelegado que está investigando um assassinato que parece ter sido cometido por um sem-teto, o flagelo da aldeia dele com sua mendicância, embriaguez em público e outras ofensas menores. Existem provas suficientes para condená-lo. Entretanto, antes que o subdelegado seja capaz de fazer a prisão, ele encontra mais evidências que mostram incontestavelmente que a vítima foi morta pela principal cidadã e maior benfeitora da cidade, uma mulher que acidentalmente tomou uma combinação de medicamentos que a fez perder a cabeça por um curto período de tempo, durante o qual ela cometeu o assassinato. O sem-abrigo e a mulher cívica esqueceram tudo. O subdelegado pode facilmente suprimir as evidências contundentes. O instrutor pergunta: Se o subdelegado for Utilitarista, qual dos dois ele irá prender?
A maioria dos estudantes dirá que o Utilitarismo exige a prisão do sem-teto, mas também eles acreditam que fazê-lo seria errado porque seria injusto. Essa intuição é suficientemente forte para minar o princípio Utilitário tal como é afirmado. Alguns estudantes tentam salvar uma versão do princípio Utilitarista, salientando que existe sempre o risco de a culpa da mulher ser descoberta mais tarde, com resultados que nenhum Utilitarista poderia acolher. Melhor fazer uma política de punir apenas os culpados. No entanto, a intuição que não desaparece é que a mulher e não o homem, deve ser punida porque ela é culpada e ele é inocente e que, independentemente das possíveis consequências, é simplesmente injusto punir os inocentes ao invés dos culpados.
Alguns estudantes também podem argumentar que o subdelegado jurou cumprir a lei e, portanto, tem a obrigação moral de fazê-lo e que os aldeões têm o direito de esperar que ele o faça. Essa obrigação e esse direito também superam as considerações Utilitárias.
A essa altura está claro que o princípio Utilitário necessita de algumas modificações. As intuições são fortes demais para isso. Entretanto, o instrutor pode encorajar os estudantes a examinar algumas das intuições. Um funcionário do governo, como um policial ou um soldado, tem que cumprir a lei em todos os casos? A nossa forte intuição é que o Subdelegado Menéndez, da Delegacia do Condado de Pinal, tem essa obrigação e nós podemos apoiar um princípio justamente nesse sentido. E quanto a um subdelegado no Sul dos Estados Unidos antes do movimento pelos direitos civis? Ele deveria sempre seguir as ordens, incluindo instruções para tratar os suspeitos negros com muito mais severidade do que os brancos? Alguns dirão que sim, outros não. Portanto, não é imediatamente claro como chegar a um consenso – seja para ajustar o princípio ou a intuição.
Nós somos capazes de imaginar uma conversa dialética também fora da sala de aula. Suponha que o seu amigo Jones tenha o hábito de ser consciencioso ao alimentar o cachorro todos os dias, porém, não a chegar pontualmente ao trabalho todos os dias. Então você pode perguntar a Jones por que ele é consciencioso ao alimentar o cachorro; então, depois que ele lhe der os motivos para ser consciencioso nessa tarefa, você é capaz de mostrar a ele que o mesmo motivo se aplica no caso de começar a trabalhar. Isso pode não ser o fim da questão, no entanto, isso irá ajudá-lo a entender por que a sua consciência no nível da percepção [consciousness] deve ser aplicada de forma mais ampla.
Apresentando (introduzindo) fatos
Daniels (1979) argumenta que na dialética – ou, como ele chama a sua versão, no amplo equilíbrio reflexivo – nós temos que levar certos fatos em conta. Alguns dos que argumentam que o subdelegado está justificado em espancar um manifestante Afro-Americano porque todos os subdelegados têm ordens para o fazer são motivados em parte pela sua crença de que os Afro-Americanos são congenitamente inferiores aos brancos, de uma forma que justifica tratar as raças de forma diferente – que é tratar os Afro-Americanos com mais severidade. O princípio que eles dizem justificar o espancamento é ‘Os subdelegados devem sempre obedecer às ordens’. O princípio que realmente apoia a sua visão do caso é ‘Os negros devem ser controlados’. É evidente que existem alguns fatos em jogo, entretanto, eles são controversos.
As intuições dos racistas também diferem a partir das dos não-racistas de uma forma que interessaria a Aristóteles. O primeiro descreveria o espancamento como ‘subjugar um encrenqueiro em obediência a ordens‘; os não-racistas descreveriam isso como ‘espancar um homem inocente’. Nenhuma das descrições é imprecisa, porém, há algo incompleto e até obtuso na primeira. Parece não ser o resultado do que Aristóteles chama de percepção correta, que é uma função do bom caráter.
O exemplo sugere que ambos os tipos de archai, intuições e princípios, são capazes de afetar um ao outro. Certamente que são capazes e de uma forma que mostra que a dialética está longe de ser simples. Eu posso sentir fortemente que a minha intuição está certa, mesmo quando ela não está. Eu posso acreditar num princípio racista que surge na minha intuição: quando eu vejo essa situação, importa-me que a vítima seja negra e eu a descrevo em conformidade. E o meu princípio racista é o resultado da indução de muitos casos em que a minha intuição foi a de que alguma pessoa negra está se comportando mal e essa intuição pode ter sido apoiada pelas normas da minha comunidade racista.
No processo dialético, eu tenho que comparar os meus princípios racistas com outros que têm a ver com igualdade e merecimento e eu tenho que examinar as minhas intuições e ver até que ponto elas se ajustam aos fatos do caso. É claro que as minhas intuições afetarão a minha aceitação ou rejeição dos fatos do caso. Portanto, eu posso afirmar que eu não sou racista e dizer que essa pessoa em particular, que por acaso é Afro-Americana, estava obviamente à procura de problemas. Esse é o tipo de falsa percepção que Aristóteles diz indicar uma falha em meu caráter.
Os limites da dialética
Mesmo que nós cheguemos a um consenso sobre os princípios, isso não significa que nós chegaremos a um acordo sobre a forma de os aplicar. Lembre-se de que Aristóteles não acredita que o nosso conhecimento dos princípios éticos seja incontestável, ou que a sua aplicação seja sempre simples. Ele os leva tão a sério quanto um médico (NE X 9 1180b7–23) ou um empresário (NE III 3 1112b4–7) ou um comediante (NE IV 8 1028a23–34) tem que levar a sério os princípios de ganhar dinheiro ou medicina ou comédia, mas também sabe como tratar diferentes situações de maneira diferente. A ética é mais parecida com a carpintaria do que com a geometria (NE I 7 1098a29–34). A distinção é importante: nós sabemos exatamente como aplicar os princípios da geometria a um problema de geometria, mesmo a um problema no espaço e no tempo reais.(12)
(12) Muitos eticistas da virtude atuais concordam. Nussbaum (1990), Hursthouse (1999), Foot (1997) e outros argumentam que nós somos capazes de aplicar princípios, mas temos que ser sábios quanto a isso.
Se eu souber um pouco sobre geometria plana, eu sou capaz de facilmente calcular a área de um terreno se for retangular e posso medir os lados. Se eu souber um pouco sobre medicina, talvez não consiga oferecer um diagnóstico com base no meu conhecimento dos sintomas de um paciente. Um bom diagnóstico requer habilidade, o que exige experiência e inteligência. Os médicos muitas vezes encontram condições que não são as mesmas que eles têm vistos antes e que, portanto, não são capazes de ser avaliadas pela aplicação direta de quaisquer regras de diagnóstico. A verdadeira habilidade é a capacidade de lidar com essas novas condições.
A dialética bem-sucedida leva a bons princípios e a boas intuições. Entretanto, essas últimas, embora elas têm que ser consistentes com os princípios da pessoa, também têm que se basear na percepção correta. Por exemplo, tem-se que saber se a surra aplicada por um subdelegado do Sul sobre um suspeito Afro-Americano foi um caso de obediência à lei ou de crueldade, se um determinado ato foi uma questão de traição à empresa ou de recusa de participação em práticas inaceitáveis. Se você acredita que um subdelegado do Sul agiu legalmente e, portanto, corretamente, a sua crença pode ser influenciada por uma reação emocional que você não teria se a vítima fosse branca. Essa reação emocional é em grande parte resultado do hábito: você tem crescido sendo instruído de que os negros são inferiores e, portanto, não têm direito ao mesmo tratamento que os brancos e você tem se acostumado a acreditar, sentir e agir de acordo. O argumento dialético pressionará as suas intuições sobre raça, no entanto, possivelmente não o suficiente para mudá-las. Como as intuições dependem em parte das emoções e as emoções são em parte criaturas de hábitos, a sua reação intuitiva a Jackson – vê-lo como um bom gestor em vez de um homem negro – exigirá adquirir o hábito de tratá-lo dessa maneira e no devido tempo pensar sobre ele dessa maneira.
Werhane et al. (2011, p. 113) referem-se a esse tipo de entendimento quando eles discutem a imaginação moral, que ‘implica perceber normas, papéis sociais e relacionamentos entrelaçados em qualquer situação’. Descrita dessa maneira, a imaginação moral é semelhante ao que Aristóteles chama de percepção correta num contexto ético, que nós poderíamos chamar de percepção moral: vê-se as características salientes da situação e essas características incluirão frequentemente normas, papéis e relacionamentos. Assim, por exemplo, Hank vê Deborah como uma funcionária promissora e ele próprio como sócio sênior de uma empresa que valoriza padrões profissionais.
Às vezes, porém, os relacionamentos e princípios familiares não dizem o que fazer em uma situação nova e complexa (ver Annas (2011, pp. 18f., 74) na interpretação de Aristóteles e Werhane (1999, p. 93)). Suponha que você esteja considerando em enviar Deborah para trabalhar com pessoas que têm um preconceito demonstrável contra as mulheres e que perderão a confiança na Bell Associates se ela falhar. A sua intuição nessa situação é incompatível com o princípio familiar de que os consultores devem ser designados com base no provável sucesso com um cliente. Portanto, ou a intuição ou esse princípio tem que ceder. Se Hank decide enviar Deborah para esse cliente, a intuição dele tem alguma credibilidade, pois ele é uma pessoa de sabedoria prática. Entretanto, raramente você chega ao ponto em que você é capaz de dizer com perfeita confiança que a sua intuição é uma aplicação clara de um princípio irrepreensível e o princípio que você de fato possui terá condições um tanto indefinidas.
Então, eventualmente, você provavelmente enfrentará uma situação que introduz novas condições. Para isso você necessitará de sabedoria prática, que vá além da aplicação direta dos princípios disponíveis.
Dialética harmoniosa (coesa, organizada)
A dialética normalmente envolve outras pessoas, embora você seja capaz de pensar dialeticamente por conta própria. É uma verdade familiar que há muito a ser dito sobre ter as suas ideias desafiadas e ouvir as dos outros. Outra vantagem importante de ter outra parte na conversa é que isso reduz a probabilidade de racionalização, o grande inimigo da racionalidade na ética. De acordo com Lerner e Tetlock (2003, p. 433; citado em Haidt, 2012, p. 76), o ‘pensamento exploratório’, uma consideração fundamentada das opções disponíveis só é possível quando o pensador ou o decisor se depara com um público bem informado, que procura a verdade e cujos pontos de vista são desconhecidos. Caso contrário, o propósito da conversa provavelmente não será a verdade, porém, persuadir a outra parte e talvez a si próprio também, ou apenas vencer. Aristóteles provavelmente teve conversas ideais na Academia e no Liceu; isso ajudaria a explicar a sua fé na dialética. Os filósofos às vezes chegam perto dessas condições ao iniciarem conversas com pessoas inteligentes que podem discordar deles.
Há controvérsia sobre se os grupos são melhores do que os indivíduos no raciocínio ético. (Ver, por exemplo, Abdolmohammadi e Reeves, 2003.) Seria difícil demonstrar que sim, uma vez que a conclusão teria de assentar numa noção moralmente contestável do que conta como melhoria. Se nós pudéssemos chegar a um consenso sobre essa questão, nós teríamos de examinar uma série de tipos de raciocínio, incluindo a dialética, que os grupos poderiam empreender.
Rara, porém, é a organização em que ocorrem regularmente conversas desse tipo. Se você for um bom gerente, receberá melhores conselhos de seus subordinados se eles souberem que você se preocupa muito com o assunto em discussão, que conhece os fatos pertinentes e que ainda não se decidiu. No entanto, se houver vários conselheiros numa conversa, normalmente haverá alguns cujo objetivo primordial será derrotar os outros. É preciso um bom gerente para controlar e aprender com esse tipo de situação.
A dialética bem-sucedida melhora os princípios e as intuições da pessoa. Algumas pessoas parecem ter intuições confiáveis,(13) entretanto, a noção de que existe algo como intuição especializada é contestada.
(13) É sobre isso que Gladwell (2005) escreve.
Intuição de especialista: Deborah novamente
Kahneman (2011) distingue entre o que ele chama de pensamento do Sistema 1 e do Sistema 2. O primeiro é rápido, automático, intuitivo e mais influente do que nós pensamos e, portanto, fonte de muita irracionalidade. O pensamento do Sistema 2 é mais lento, mais deliberativo, geralmente mais racional, ‘preguiçoso‘ por não se envolver prontamente na atividade intencional de alguém e muito menos influente na orientação do nosso pensamento do que nós pensamos ou esperamos. Em termos Aristotélicos, o pensamento do Sistema 1 trata de archai no sentido de opiniões individuais. Uma premissa menor de um silogismo prático pode ser um produto do pensamento do Sistema 1. No geral, o pensamento do Sistema 2 trata de archai no sentido de princípios, tais como aqueles que são capazes de ser premissas principais de silogismos práticos, embora também se possa pensar cuidadosamente e racionalmente sobre julgamentos individuais.
O tratamento que Aristóteles dá à fraqueza de vontade mostra que ele entende a força da reação imediata e irracional de alguém ao que é delicioso ou de outra forma tentador, no entanto, não consistente com os nossos valores considerados. O silogismo prático é um modelo de pensamento racional, entretanto, ele não descreve como sempre nós deliberamos. Aqueles que deliberam e agem racionalmente não têm apenas valores racionais (por exemplo, eles entendem que comida seca é boa para os humanos ou, nós poderíamos dizer, que uma pessoa virtuosa é honesta), mas também percepções corretas (por exemplo, que isso é comida seca, ou que alguma ação que alguém está contemplando é desonesta). Essa capacidade de ver uma ação pelo tipo de ação que ela é – isso é, de ver a melhor descrição eticamente dela, que normalmente identifica um princípio sob o qual ela se enquadra – faz parte da imaginação moral, um resultado desejado da dialética, pela qual nós não apenas encontramos os melhores princípios possíveis, mas também aguçamos as nossas intuições.
Kahneman também, apesar de tudo o que diz sobre o pensamento do Sistema 1, parece concordar com Aristóteles ao apoiar a racionalidade ao nível da intuição. Ele e Klein (Kahneman, 2011, capítulo 22) concordam que existe uma intuição especializada, embora argumentem que ela é menos difundida do que os próprios pretensos especialistas acreditam. Os jogadores de xadrez experientes têm isso: eles podem olhar para um tabuleiro e ver apenas ameaças e oportunidades que os jogadores medíocres não conseguem ver. Surpreendentemente, os psicólogos clínicos muitas vezes não o têm: as suas previsões são geralmente menos boas do que as previsões estatísticas baseadas em poucos parâmetros, como mostrou Meehl (Kahneman, Capítulo 21). Kahneman e Klein argumentam que a verdadeira expertise requer um ambiente suficientemente regular para ser previsível e uma prática prolongada que permita ao especialista aprender as regularidades, especialmente por meio de feedback.
O que isso nos diz sobre o que Aristóteles chama de percepção e Werhane chama de imaginação moral no contexto de situações complexas e eticamente significativas? Para começar, nós devemos nos proteger contra o excesso de confiança. Nós somos capazes de dizer que uma pessoa praticamente sábia, participante da dialética, é aquela que é boa na aplicação de princípios a situações complexas em virtude da capacidade de ver semelhanças entre um ato ou situação e outro. A pessoa praticamente sábia vê que certas normas ou certas obrigações associadas a papéis ou relacionamentos se aplicam em novas situações, assim como elas se aplicavam em casos significativamente semelhantes anteriormente (lembre-se do que Aristóteles diz sobre Péricles e os médicos), embora não haja nenhuma orientação oficial sobre quais semelhanças realmente contam.
Essa não é uma habilidade comum e você terá motivos para ser cético se eu expressar grande confiança em meu próprio julgamento em casos difíceis. Porém, consideremos Hank Saporsky novamente. Ele parece ter identificado uma característica da situação de Deborah cuja importância havia escapado à atenção de Greg. Ele percebeu que Deborah era uma consultora jovem e um tanto inexperiente, com grande potencial de crescimento e contribuição para a Bell Associates e que, portanto, necessitava e merecia o forte apoio da organização. Ele já tinha estado nesse tipo de situação antes e, com base na sua experiência, passou a acreditar que o apoio visível faz uma grande diferença para o sucesso a longo prazo de um consultor. Ele não tinha preconceitos que o impedissem de levar esse fato a sério. E ele estava pronto para assumir a responsabilidade por sua decisão e as suas consequências.
Se Hank tirou uma inferência da prática prolongada num ambiente suficientemente regular é plausível, embora não seja certo. Se lhe pedissem para defender a sua decisão, ele poderia ter dito algo como isso: ‘Ao longo dos anos, eu tenho passado a acreditar que a nossa confiança nos nossos excelentes jovens é autorrealizável e que nós não determinamos a excelência com base em gênero. Também eu tenho percebido que clientes e outras pessoas preconceituosas conseguem deixar de lado os seus preconceitos em favor de pessoas que os impressionam, da mesma forma que Deborah tem mostrado que ela é capaz de impressionar um cliente. E de qualquer maneira, qual é a desvantagem aqui? Nós não estamos exatamente apostando na empresa.’
Essa explicação não revela totalmente a flexibilidade de Hank. Numa situação um pouco diferente, ele provavelmente teria agido de forma um pouco diferente. Deborah poderia ter sido menos habilidosa, ou Arnold mais. Os clientes poderiam ter sido Sauditas e não Britânicos. A empresa pode não ter se comprometido com as suas consultoras. Nesses casos, ele poderia ter agido de forma diferente. Ele agiu de olho no horário, no local, nos clientes e em outros detalhes que deveriam ser adequados para ele tomar a decisão que ele tomou. A sua decisão foi intuitiva, entretanto, ele estava confiante de que as suas intuições expressavam os seus valores sob as circunstâncias. Como um PhD em psicologia, ele conseguia ver padrões em casos de discriminação injusta, mas também estava atento a esses detalhes cruciais, que diferiam de caso a caso. Isso é o que uma pessoa de sabedoria prática é capaz de fazer; é o que está envolvido em atingir a média. Se Kahneman estiver certo, esse tipo de sabedoria prática é realmente raro.
Fatos e dialética em Aristóteles
No caso daquilo que Daniels (1979) chama de equilíbrio reflexivo amplo, nós trazemos a ciência pertinente e outros fatos como pano de fundo. Irwin (1988, especialmente os Capítulos 1-3) encontra em Aristóteles o que ele chama de dialética forte, que se assemelha a um amplo equilíbrio reflexivo na medida em que também incorpora fatos pertinentes, mas também a análise que Aristóteles faz deles. As obras metafísicas de Aristóteles fornecem-lhe uma concepção de substância (é a essência individual) que deriva da opinião comum, mas é superior a ela porque lhe dá um sentido mais claro. A noção de que uma substância é identificável através da mudança em virtude da persistência da sua essência e de que um ser humano é uma substância com uma essência está subjacente aos argumentos de Aristóteles em De Anima, a principal obra dele sobre psicologia. Assim, quando Aristóteles empreende uma investigação dialética na Ética a Nicômaco, ele está lidando não apenas com base na opinião comum, mas também com base nas suas próprias opiniões sobre a natureza humana e a vida boa. Não menos importante deles é que os humanos têm fins naturais, que ajudam a determinar a natureza da vida excelente. Essas visões não prejudicam radicalmente as opiniões comuns, mas geralmente as aguçam.
Lembre-se, por exemplo, que Aristóteles descarta a concepção de satisfação preferencial do bem humano ao dizer (NE X 3 1174a2–4) que ninguém escolheria viver uma vida com o intelecto de uma criança e a ideia de diversão de uma criança. Por que não? Aristóteles pode ter certeza de que qualquer leitor concordaria? No entanto, Aristóteles já tem argumentado, com as suas visões metafísicas como pano de fundo, que a vida excelente consiste na atualização das capacidades humanas. Nós podemos estar inclinados a concordar com ele; se assim for, o nosso assentimento terá provavelmente algo a ver com a nossa própria consideração sobre o que faz uma vida valer a pena ser vivida, baseada em parte nas nossas próprias opiniões sobre a natureza da humanidade. Nós não invejamos o idiota feliz.
Da mesma forma, quando nós consideramos a ética nos negócios dialeticamente, nós temos como pano de fundo algumas noções dos propósitos dos negócios e do que é provável que atinja esses propósitos. A maioria dos especialistas em ética nos negócios aceita a visão cada vez mais difundida de que o capitalismo é uma fonte de prosperidade, mas que tem que ser restringido em algumas áreas. A maioria de nós acredita que o trabalho e a autonomia são capazes de reforçar-se mutuamente, mas muitas vezes não o são. A maioria de nós opõe-se à discriminação com base em atributos pessoais irrelevantes. A maioria de nós é capaz de identificar casos de mau comportamento nas organizações e nos mercados. É importante ter algumas orientações para pensar mais profundamente sobre essas questões; portanto, como eu argumentarei nos Capítulos 6 e 7, há lugar para a dialética nas aulas de ética nos negócios e além dela.
Progresso ético
Nós fazemos progresso ético à medida que a nossa percepção moral melhora. Por exemplo, muitos homens, porém não todos, são capazes de agora olhar para uma mulher no local de trabalho e ver uma gerente, ao invés de uma mulher a quem foi atribuído um cargo de gestão. Muitas pessoas brancas, porém não todas, são capazes de agora ver Barack Obama como Presidente dos Estados Unidos e não como um Afro-Americano. Isso é, em parte, uma questão de aprender novos fatos, mas também uma questão de dar a certos fatos uma nova proeminência. Quando nós pensamos em Deborah, nós pensamos nela em primeiro lugar como uma colega profissional bem qualificada; do nosso ponto de vista, esse é um fato essencial sobre ela e o fato de ela ser mulher é secundário. Nós poderíamos não ter feito isso em 1977.
A nossa reação emocional, uma parte crucial da percepção moral, faz parte de como nós vemos Deborah. Se nos ressentirmos do seu sucesso, ou sentirmos um sentimento de atração sexual que faz com que seja difícil acompanhar as suas apresentações, ou se ficarmos desanimados com a cor do seu batom, nós teremos dificuldade em levá-la a sério como uma colega. Na verdade, as nossas atitudes podem influenciar a forma como nós julgamos o trabalho dela. Muitas vezes é difícil mudar as percepções das pessoas de um dia para o outro: elas tendem a ser imunes a novas informações, que geralmente são capazes de ser reinterpretadas, filtradas ou ignoradas e elas se apegam a informações que confirmam os seus preconceitos. Quando Jones levanta a voz, pensa-se que ele está sendo duro; quando Smith faz isso, ela está sendo histérica.
Suponhamos que eu acredite que as mulheres não deveriam ser consultoras de gestão, que elas e a sociedade estariam em melhor situação se elas viessem a ser professoras ou enfermeiras até se casarem. Você pode tentar usar a dialética para mudar a minha opinião. Poderia começar por me fazer admitir que a justiça exige que os empregos sejam distribuídos de acordo com as qualificações. Depois, poderia tentar fazer-me admitir que há pelo menos algumas mulheres que possuem as qualificações necessárias para cargos de gestão e que, portanto, as mulheres devem ser julgadas pelos seus próprios méritos. No entanto, eu poderia responder que a família nuclear é a base de uma boa sociedade e que requer esposas e mães a tempo inteiro para a manter florescente; portanto, as mulheres não devem tornar-se gerentes e minar o florescimento da família nuclear e, portanto, da sociedade. Essa afirmação não é facilmente refutada, em parte porque é o tipo de afirmação em que as pessoas acreditam porque elas querem.
Assim, nós podemos estar inclinados a dizer que a dialética funciona melhor entre aqueles (poucos) que são capazes de limpar as suas mentes de preconceitos, normalmente através de um processo que envolve mudança emocional. A habituação é a maneira óbvia de mudar as emoções, entretanto, elas são mais facilmente mudadas se entendermos que elas são irracionais. Nós somos capazes de pelo menos tentar limpar as nossas mentes de preconceitos. E os conservadores libertários que levam Milton Friedman a sério deveriam estar francamente ansiosos por reconhecer que a Bell Associates deve contratar e promover com base no que é melhor para a empresa e não para a sociedade como um todo.
Se assim for, então um conservador libertário deveria opor-se ao uso de ‘Deborah é uma mulher‘ como premissa em qualquer silogismo prático invocado nesse caso. O que contará é o valor da atuação de Deborah; isso é um fato saliente. Porém, Aristóteles não dá sinais de acreditar que identificar ou mesmo aceitar um fato saliente seja sempre fácil. Nós sabemos que a avaliação de desempenho é notoriamente vulnerável a preconceitos e tentar fazê-lo invocando índices quantificáveis tem todas as desvantagens das regras éticas e não muitas das suas vantagens. Trazer uma variedade de pontos de vista para a conversa dialética irá melhorá-la: onde nós não somos capazes de ter certeza de qual descrição de uma situação é a essencial, nós somos capazes de pelo menos tentar uma variedade delas. Mas mesmo isso não garante nada.
Contudo, a dialética como empreendimento conjunto ajuda a desenvolver a percepção moral. Novos pontos de vista e fatos de possível relevância irão encorajá-lo a olhar para os seus valores e compará-los com os seus princípios e julgamentos mais específicos, incluindo as premissas menores dos seus silogismos práticos. Se pensa que o fato de Deborah ser mulher é uma premissa menor saliente, poderá ser útil pedir-lhe que defenda a sua relevância, por exemplo, oferecendo boas razões para acreditar que as mulheres tendem a ser más consultoras. Ser obrigado a montar essa defesa pode não fazer com que você mude imediatamente de opinião, mas pode facilitar a reconsideração no devido tempo e alterar algumas de suas intuições.
Educação sem fim (interminável)
Aristóteles é um naturalista, um essencialista e alguma coisa de um tipo tradicionalista. Ele não contempla o tipo de mudança tecnológica, econômica e social a que nós estamos habituados. Porém, a dialética que nós deveríamos entender que não nos levará à verdade final sobre todas as questões, continuará a ser um dispositivo útil mesmo quando as coisas mudam, uma vez que leva em conta os fatos tanto como o faz o amplo equilíbrio reflexivo. Como naturalista, Aristóteles é capaz de absorver novos fatos e avaliar o significado deles, pois ele pensa que a sua ética é baseada em fatos. Dada a importância das emoções e a ausência de algoritmos, ele poderá ter alguma dificuldade em aceitar as nossas opiniões sobre mulheres, escravos, estrangeiros e outros. No entanto, ele tem o equipamento para o fazer, tal como nós, juntamente com preconceitos e pontos cegos, alguns dos quais sem dúvida nós mantemos. Há boas razões para acreditar que a dialética continuará a ser útil no futuro próximo, o que oferecerá novos problemas e novas intuições. Aristóteles não prevê um tempo em que, por exemplo, as diferenças físicas entre homens e mulheres venham a ser muito menos relevantes para o seu lugar na sociedade. Ele não prevê quaisquer possíveis controvérsias sobre propriedade intelectual ou a ameaça da tecnologia de telecomunicações à privacidade. Aristóteles pode não ter considerado a dialética uma forma de fazer progresso ético numa época de mudanças radicais, entretanto, nós somos capazes de pensar dessa maneira e ainda assim aprender com ele. No Capítulo 7 nós exploraremos esse ponto mais detalhadamente.
Não há razão para acreditar que algum dia necessitaremos de um conjunto totalmente novo de virtudes. Porém, as maneiras como a coragem, a benevolência, a justiça e o resto funcionam na prática podem muito bem mudar e não somos capazes de prever como. Não há dúvida de que os seres humanos continuarão a ser criaturas racionais e sociáveis, no entanto, as nossas noções do que é racional e de quais arranjos sociais fazem mais sentido mudarão. Aristóteles sabe que nós não somos inteiramente racionais, mas mesmo assim nós somos capazes de ver que ele é um tanto otimista quanto à nossa racionalidade. Nós sabemos, também, que nós somos criaturas sociáveis – por vezes em grau demasiado elevado: as influências sociais são capazes de interferir na nossa racionalidade. Mas também são capazes de apoiá-la, uma vez que a habituação é capaz de complementar a consideração racional. Se você se acostumar a trabalhar com mulheres ou membros de alguma minoria étnica, você provavelmente se sentirá mais confortável com elas, mais capaz de distingui-las como indivíduos, mais inclinado a vê-las como colegas, como parte de Nós e não Deles.(14) Esse processo pode preceder a declaração de que as mulheres são iguais aos homens, ou pode seguir a declaração e fazer com que ela seja sincera.
(14) Messick (1998) afirma que nós temos dificuldade em fazer distinções entre membros de um grupo social ou étnico desconhecido. Todos eles parecem iguais para nós.
Portanto, não há fim à vista para a nossa educação moral. Nós formamos novos hábitos, adquirimos novos fatos, enfrentamos novas situações e tentamos dar um sentido coerente a todas elas em meio ao clamor da emoção, da pressão social e de outros geradores de pontos cegos, bem como de insights. No entanto, nós não descobrimos quaisquer algoritmos que orientem a escolha de uma descrição saliente de uma ação ou de um estado de coisas e nós nem sempre somos capazes de fazer com que as nossas emoções apoiem a racionalidade que nós de fato temos.
O fato é que a dialética é um processo difícil e não direto (descomplicado). Nós normalmente não abandonamos as nossas intuições e reações emocionais associadas no momento em que elas parecem estar em tensão com os nossos princípios. Ao invés disso, às vezes nós ajustamos os nossos princípios para adequá-los às nossas intuições, ou até mesmo os alteramos. Consideremos o mandato individual que faz parte da Lei de Cuidados Acessíveis e Proteção ao Paciente [Affordable Care and Patient Protection Act], ou Obamacare. Durante anos, muitos Republicanos proeminentes, incluindo os senadores Hatch e Bennett de Utah e o governador Romney de Massachusetts, seguiram o exemplo da Heritage Foundation e de outros conservadores e apoiaram um mandato,(15) sem o qual as salas de emergência têm que oferecer aos pacientes não segurados cuidados caros que em última análise, será pago não pelos seus beneficiários, mas pelo segurado. Entretanto, quando um presidente Democrata propôs um esquema com mandato, esses Republicanos e praticamente todos os outros conservadores não só se opuseram ao mandato como também argumentaram que isso era inconstitucional. É difícil acreditar que a mudança de atitude deles tenha sido o resultado de um exame dialético das suas intuições e princípios.
(15) Romney apoiou o projeto de lei Bennett-Wyden, que incluía um mandato federal. O próprio Obama se opôs ao mandato durante a campanha dele nas primárias.
Haidt (2012) argumenta que é assim que a maioria das pessoas pensam na maior parte do tempo. Sobre o odioso Claggart, vilão de Billy Budd, Melville (2001) escreve: ‘A sua consciência era advogada de seu testamento‘. Haidt diria que Claggart não é incomum. Os princípios oferecidos em defesa dos nossos julgamentos e ações singulares são apenas relações públicas. Eles não nos motivam, tal como uma preocupação com a constitucionalidade não começou subitamente a motivar aqueles Republicanos proeminentes.(16) Para colocar a opinião de Haidt em termos Aristotélicos, a fraqueza de vontade é quase universal. Nos termos usados por Doris e seus aliados, Haidt está na verdade negando que o caráter seja um fator importante em nosso pensamento e ação.
(16) Haidt pode considerar-se uma exceção. Ele apresenta razões ponderadas pelas quais abandonou o seu liberalismo de longa data em favor de uma visão mais próxima do conservadorismo em alguns aspectos importantes.
Haidt considera-se um intuicionista, no sentido de que nós fazemos quase todos os nossos julgamentos morais com base na intuição, a menos que nós sejamos filósofos (2001, p. 829). Entretanto, Pizarro e Bloom (2003, p. 194) oferecem o que constitui um desafio notável a Haidt: eles argumentam que as intuições podem ‘servir como ponto de partida para o raciocínio deliberativo’, quase como se eles estivessem descrevendo a dialética. Eles salientam que nós somos capazes de influenciar as nossas reações intuitivas de pelo menos duas maneiras. Nós somos capazes de lembrar a nós mesmos de termos uma certa perspectiva sobre os acontecimentos: por exemplo, nós somos capazes de nos lembrar de nos colocar no lugar de alguém que nós podemos estar inclinados a julgar com severidade. Nós também somos capazes de controlar as nossas reações emocionais controlando o nosso ambiente de uma maneira que encoraje boas reações e bons desejos de segunda ordem (esse é o termo que eles usam; p. 195). Eles citam Aristóteles, embora não qualquer passagem específica e eles estão certos em fazê-lo. Uma condição necessária para raciocinar adequadamente é ter boas intuições e nós as obtemos através da habituação guiada por bons ensinamentos. E à medida que nós desenvolvemos princípios para nos guiar, nós somos capazes de refletir sobre as nossas intuições e ver quais delas necessitam ser mudadas.
Mas colocar esses princípios em prática e alinhar as nossas intuições com eles exige que desenvolvamos sabedoria prática. Isso envolve cultivar os desejos de uma pessoa madura, ao invés de cultivar os desejos de uma pessoa vil ou de uma criança. O hábito desempenha um papel no processo de cultivo (refinamento). Eu argumentarei no Capítulo 6 que a educação em virtude é capaz de ser uma força positiva para levar as pessoas, incluindo os empresários, a serem mais racionais no sentido que nós estamos discutindo. Como diz o próprio Haidt, o treinamento em filosofia é capaz de ajudar alguém a pensar de forma mais racional.”
—–
Bibliografia do livro “Virtue In Business”, autor Edwin M. Hartman
Abdolmohammadi, M., and M. F. Reeves. 2003. “Does Group Reasoning Improve Ethical Reasoning?” Business and Society Review, 108, 127–37.
Adler, P., and S. Kwon. 2002. “Social Capital: Prospects for a New Concept.”
Academy of Management Review, 27, 17–40.
Akerlof, G. 1982. “Labor Contracts as Partial Gift Exchange.” Quarterly Journal of Economics, 97, 543–69. – 2007. “The Missing Motivation in Macroeconomics.” Presidential Address. Nashville, TN: American Economic Association.
Allen, W. 2006. “Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation”. In Professional Responsibility, 35–47. NYU Stern, Course Book.
Alzola, M. 2008. “Character and Environment: The Status of Virtues in Organizations.” Journal of Business Ethics, 78, 343–57. – 2011. “The Reconciliation Project: Separation and Integration in Business Ethics Research.” Journal of Business Ethics, 99, 19–36. – 2012. “The Possibility of Virtue.” Business Ethics Quarterly, 22, 377–404.
Annas, J. 2011. Intelligent Virtue. New York: Oxford University Press.
Anscombe, G. 1957. Intention. Oxford: Basil Blackwell. – 1997. “Modern Moral Philosophy.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 26–44. New York: Oxford University Press.
Appiah, K. A. 2006. Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. New York: W. W. Norton.
Aristotle. 1894. Ethica Nicomachea. Edited by I. Bywater. Oxford: Clarendon Press. – 1907. De Anima. Edited by R. D. Hicks. Cambridge: Cambridge University Press. – 1957. Politica. Edited by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press. – 1962. The Politics of Aristotle. Translated by E. Barker. New York: Oxford University Press. – 1999. Nicomachean Ethics, 2nd edition. Translated by T. H. Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Asch, S. 1955. “Studies of Independence and Conformity: A Minority of One against a Unanimous Majority.” Psychological Monographs, 70.9, Whole No. 416.
Audi, R. 1989. Practical Reasoning. New York: Routledge. – 1997. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford University Press. 2012. “Virtue Ethics as a Resource in Business.” Business Ethics Quarterly, 22, 273–91.
Baumeister, R., and J. Tierney. 2011. Willpower: Discovering the Greatest Human Strength. New York: Penguin Press.
Bazerman, M., and A. Tenbrunsel. 2011. Blind Spots: Why We Fail to Do What’s Right and What to Do about It. Princeton: Princeton University Press.
Beabout, G. 2012. “Management as a Domain-Relative Practice that Requires and Develops Practical Wisdom.” Business Ethics Quarterly, 22, 405–32.
Beadle, R., and K. Knight. 2012. “Virtue and Meaningful Work.” Business Ethics Quarterly, 22, 433–50.
Beaman, A., P. Barnes, B. Klentz, and B. McQuirk. 1978. “Increasing Helping Rates Through Information Dissemination: Teaching Pays.” The Personality and Social Psychology Bulletin, 4, 406–11.
Belk, R. 1985. “Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World.” Journal of Consumer Research, 12, 265–80.
Berkowitz, P. 1999. Virtue and the Making of Modern Liberalism. Princeton: Princeton University Press.
Bertland, A. 2009. “Virtue Ethics in Business and the Capabilities Approach.” Journal of Business Ethics, 84, 25–32.
Blasi, A. 1999. “Emotions and Moral Motivation.” Journal for the Theory of Social Behavior, 29, 1–19.
Boatright, J. 1995. “Aristotle Meets Wall Street: The Case for Virtue Ethics in Business.” A review of Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business, by Robert C. Solomon. Business Ethics Quarterly, 5, 353–9.
Bowles, S., and H. Gintis. 2011. A Cooperative Species: Human Reciprocity and its Evolution. Princeton: Princeton University Press.
Bragues, G. 2006. “Seek the Good Life, Not Money: The Aristotelian Approach to Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 67, 341–57.
Burke, J. 1985. “Speech to the Advertising Council.” In W. M. Hoffman and J.M.Moore (Eds.), Management of Values: The Ethical Difference in Corporate Policy and Performance, 451–6. New York: McGraw-Hill Book Company.
Burns, J. 1978. Leadership. New York: Harper and Row.
Calkins, M., and P.Werhane. 1998. “Adam Smith, Aristotle, and the Virtues of Commerce.” The Journal of Value Inquiry, 32, 43–60.
Carroll, A. 1981. Business and Society: Managing Corporate Social Performance. Boston: Little, Brown.
Cartwright, N. 1983. How the Laws of Physics Lie. New York: Oxford University Press.
Chaiken, S., R. Giner-Sorolla, and S. Chen. 1996. “Beyond Accuracy: Defense and Impression Motives in Heuristic and Systematic Information Processing.” In P. M. Gollwitzer and J. A. Bargh (Eds.), The Psychology of Action: Linking Cognition and Motivation to Behavior, 553–78. New York: Guilford Press.
Chan, G. 2007. “The Relevance and Value of Confucianism in Contemporary Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 77, 347–60.
Chen, A., R. Sawyers, and P. Williams. 1997. “Reinforcing Ethical Decision Making through Corporate Culture.” Journal of Business Ethics, 16, 855–65.
Chicago Tribune 2002. “Tribune Special Report: A Final Accounting.” September 1–4.
Ciulla, J. 2000. The Working Life: The Promise and Betrayal of Modern Work. New York: Three Rivers Press.
Claassen, R. 2012. Review of Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets, by Debra Satz. Business Ethics Quarterly, 22, 585–97.
Cleckley, H. 1988. The Mask of Sanity, 5th edition. St. Louis: C. V. Mosby.
Coase, R. 1937. “The Nature of the Firm.” Economica, 4, 386–405.
Colle, S., and P. Werhane. 2008. “Moral Motivation Across Ethical Theories: What Can We Learn for Designing Corporate Ethics Programs?” Journal of Business Ethics, 81, 751–64.
Collins, J. 2001. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap. . . and Others Don’t. New York: Harper Business, and J. Porras. 2002. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. New York: HarperCollins.
Costa, P., and R. Mac Crae. 1994. “Stability and Change in Personality from Adolescence through Adulthood.” In C. Halvorson, G. Kohnstamm, and R. Martin (Eds.), The Developing Structure of Temperament and Personality from Infancy to Adulthood, 139–50. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Crary, A. 2007. Beyond Moral Judgment. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Damasio, A. 1994. Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Putnam. 256 Bibliography
Daniels, N. 1979. “Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics.” Journal of Philosophy, 76, 256–82.
Darley, J. 1996. “How Organizations Socialize Individuals into Evildoing.” In D. Messick and A. Tenbrunsel (Eds.), Codes of Conduct: Behavioral Research into Business Ethics, 13–43. New York: Russell Sage Foundation.
Davidson, D. 2001. Essays on Actions and Events, 2nd edition. New York: Oxford University Press.
DeSousa, R. 1987. The Rationality of Emotion. Cambridge: MIT Press.
Donaldson, L. 2005. “For Positive Management Theories While Retaining Science: Reply to Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 109–13.
Donaldson, T., and T. Dunfee. 1999. Ties that Bind: A Social Contracts Approach to Business Ethics. Boston: Harvard Business Press.
Doris, J. 2002. Lack of Character: Personality and Moral Behavior. New York: Cambridge University Press.
Drake, M., and J. Schlachter. 2008. “A Virtue-Ethics Analysis of Supply Chain Collaboration.” Journal of Business Ethics, 82, 851–64.
Duhigg, C. 2012. The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business. New York: Random House.
Dunbar, R. 1992. “Neocortex Size as a Constraint on Group Size in Primates.” Journal of Human Evolution, 22, 469–93.
Dunfee, T., and D. Warren. 2001. “Is Guanxi Ethical? A Normative Analysis of Doing Business in China.” Journal of Business Ethics, 32, 191–204.
Dyck, B., and R. Kleysen. 2001. “Aristotle’s Virtues and Management Thought: An Empirical Exploration of an Integrative Pedagogy.” Business Ethics Quarterly, 11, 561–74.
Eastman, W., and M. Santoro. 2003. “The Importance of Value Diversity in Corporate Life.” Business Ethics Quarterly, 13, 433–52.
Elster, J. 1985. Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality. New York: Cambridge University Press. – 1998. “Emotions and Economic Theory.” Journal of Economic Literature, 36, 47–74.
Ely, R., and D. Thomas. 2001. “Cultural Diversity at Work: The Effects of Diversity Perspectives on Work Group Processes and Outcomes.” Administrative Science Quarterly, 46, 229–73.
Festinger, L. 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.
Foot, P. 1997. “Virtues and Vices.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 163–77. New York: Oxford University Press.
Fort, T. 1999. “The First Man and the Company Man: The Common Good, Transcendence, and Mediating Institutions.” American Business Law Journal, 36, 391–435. – 2001. Ethics and Governance: Business as Mediating Institution. New York: Oxford University Press. – 2008. Prophets, Profits, and Peace: The Positive Role of Business in Promoting Religious Tolerance. New Haven: Yale University Press.
Fox, D. 1985. “Psychology, Ideology, Utopia, and the Commons.” American Psychologist, 40, 48–58.
Frank, R. 1988. Passions within Reason: The Strategic Role of the Emotions. New York: W. W. Norton & Company. – 2004. What Price the Moral High Ground? Ethical Dilemmas in Competitive Environments. Princeton: Princeton University Press – T. Gilovich, and D. Regan. 1993. “Does Studying Economics Inhibit Cooperation?” Journal of Economic Perspectives, 7, 159–71.
Frankfurt, H. 1981. “Freedom of the Will and the Concept of a Person.” In G. Watson (Ed.), Free Will, 81–95. New York: Oxford University Press.
Freeman, R. E. 1994. “The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions.” Business Ethics Quarterly, 4, 409–21. – J. Harrison, and A. Wicks. 2007. Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success. New Haven: Yale University Press.
Friedman, M. 1970. “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits.” New York Times Magazine, September 13.
Fritzsche, D. 1991. “A Model of Decision-Making Incorporating Ethical Values.” Journal of Business Ethics, 10, 841–52. – 2000. “Ethical Climates and the Ethical Dimension of Decision Making.” Journal of Business Ethics, 24, 125–40.
Furman, F. 1990. “Teaching Business Ethics: Questioning the Assumptions, Seeking New Directions.” Journal of Business Ethics, 9, 31–8.
Galston, W. 1991. Liberal Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the Liberal State. New York: Cambridge University Press.
Geertz, C. 1983. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books.
Ghoshal, S. 2005. “Bad Management Theories are Destroying Good Management Practices. Academy of Management Learning and Education, 4, 75–91.
Gilbert, D. 2006. Stumbling on Happiness. New York: Knopf. – E. Pinel, T. Wilson, S. Blumberg, and T. Wheatley. 1998. “Immune Neglect: A Source of Durability Bias in Affective Forecasting.” Journal of Personality and Social Psychology, 25, 617–38.
Giovanola, B. 2009. “Re-Thinking the Ethical and Anthropological Foundation of Economics and Business: Human Richness and Capabilities Enhancement.” Journal of Business Ethics, 88, 431–44.
Gladwell, M. 2005. Blink: The Power of Thinking Without Thinking. New York: Back Bay Books (Little, Brown).
Gould, S. 1995. “The Buddhist Perspective on Business Ethics: Experiential Exercises for Exploration and Practice.” Journal of Business Ethics, 14, 63–70.
Graafland, J. 2009. “Do Markets Crowd Out Virtues? An Aristotelian Framework.” Journal of Business Ethics, 91, 1–19.
Gutting, G. 2011. “Pinker on Reason and Morality.” New York Times (electronic edition), October 26, 2011.
Haidt, J. 2001. “The Emotional Dog and its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment.” Psychological Review, 108, 814–34. – 2006. The Happiness Hypothesis. New York: Basic Books. – 2012. The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion. New York: Pantheon Books.
Hambrick, D. 2005. “Just How Bad Are Our Theories? A Response to Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 104–7.
Hampshire, S. 1983. Morality and Conflict. Cambridge: Harvard University Press.
Hardin, G. 1968. ”The Tragedy of the Commons.” Science, 162, 1243–8.
Hare, R. D. 1993. Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths among Us. New York: Simon and Schuster.
Hare, R. M. 1952. The Language of Morals. Oxford: Oxford University Press.
Harman, G. 2003. “No Character or Personality.” Business Ethics Quarterly, 13, 87–94.
Hartman, E. 1977. Substance, Body, and Soul: Aristotelian Investigations. Princeton: Princeton University Press. – 1994. “The Commons and the Moral Organization.” Business Ethics Quarterly, 4, 253–69. – 1996. Organizational Ethics and the Good Life. New York: Oxford University Press. – 1998. “The Role of Character in Business Ethics.” Business Ethics Quarterly, 8, 547–59. – 2001. “An Aristotelian Approach to Moral Imagination.” Professional Ethics, 8, 58–77. – 2006. “Can We Teach Character? An Aristotelian Answer.” Academy of Management Learning and Education, 5, 68–81. Bibliography 259
Hausman, D. 2012. Preference, Value, Choice, and Welfare. New York: Cambridge University Press.
Heath, J. 2009. “The Uses and Abuses of Agency Theory.” Business Ethics Quarterly, 19, 497–528.
Heugens, P., M. Kaptein, and J. van Oosterhout. 2006. “The Ethics of the Node versus the Ethics of the Dyad? Reconciling Virtue Ethics and Contractualism.” Organization Studies, 27, 391–411.
Hirschman, A. 1982. “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble?” Journal of Economic Literature, 20, 1463–84.
Horvath, C. 1995. “MacIntyre’s Critique of Business.” Business Ethics Quarterly, 5, 499–532.
Hursthouse, R. 1999. On Virtue Ethics. New York: Oxford University Press. Irwin, T. 1988. Aristotle’s First Principles. New York: Oxford University Press.
Jackson, K. 2012. Virtuosity in Business: Invisible Law Guiding the Invisible Hand. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Jehn, K., G. Northcraft, andM. Neale. 1999. “Why Differences Make a Difference: A Field Study of Diversity, Conflict and Performance in Workgroups.” Administrative Science Quarterly, 44, 741–63.
Jensen, M. 2010. “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function.” Journal of Applied Corporate Finance, 22, 32–42.- and W. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics, 3, 305–60. – 1994. “The Nature of Man.” Journal of Applied Corporate Finance, 72 (Summer), 4–19.
Johnson, M. 1993. Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics. Chicago: University of Chicago Press.
Johnson and Johnson. 1943. Credo. New Brunswick, NJ: Johnson and Johnson.
Jones, S., and K. Hiltebeitel. 1995. “Organizational Influence in a Model of the Moral Decision Process of Accountants.” Journal of Business Ethics, 14, 417–31.
Jones, T., and L. Ryan. 2001. “The Effect of Organizational Forces on Individual Morality: Judgment, Moral Approbation, and Behavior.” In
J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 285–300. New York: Elsevier Science.
Jos, P., and M. Tompkins. 2004. “The Accountability Paradox in an Age of Reinvention: The Perennial Problem of Preserving Character and Judgment.” Administration and Society, 36, 255–81.
Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. – and A. Tversky (Eds.). 2000. Choices, Values, and Frames. New York: Cambridge University Press.
Kant, I. 1981. Grounding for the Metaphysics of Morals. Translated by J. Ellington. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Kasser, T., and R. Ryan. 1996. “Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals.” Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280–7.
Klein, S. 1995. “An Aristotelian Approach to Ethical Corporate Leadership.” Business and Professional Ethics Journal, 14, 3–23. – 1998. “Emotions and Practical Reasoning: Implications for Business Ethics.” Business and Professional Ethics Journal, 17, 3–29.
Koehn, D. 1992. “Toward an Ethic of Exchange.” Business Ethics Quarterly, 2, 341–55. – 1995. “A Role for Virtue Ethics in the Analysis of Business Practice. Business Ethics Quarterly, 5, 533–9. – 1998. “Virtue Ethics, the Firm, and Moral Psychology.” Business Ethics Quarterly, 8, 497–513.
Kohlberg, L. 1981. Essays on Moral Development. Volume I: The Philosophy of Moral Development. New York: Harper and Row.
Kraut, R. 1989. Aristotle on the Human Good. Princeton: Princeton University Press.
Kupperman, J. 1991. Character. New York: Oxford University Press. – 2005. “How Not to Educate Character.” In D. Lapsley and F. C. Power (Eds.), Character Psychology and Character Education, 201–17. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
LeBar, M. 2009. “Virtue Ethics and Deontic Constraints.” Ethics, 119, 642–71.
Lerner, J., and P. Tetlock. 2003. “Bridging Individual, Interpersonal, and Institutional Approaches to Judgment and Decision Making: The Impact of Accountability on Cognitive Bias.” In S. Schneider and J. Shanteau (Eds.), Emerging Perspectives on Judgment and Decision Research, 431–57. New York: Cambridge University Press.
Lewis, M. 1989. Liar’s Poker: Rising through the Wreckage on Wall Street. New York: W. W. Norton.
Lieberman, M. D. 2000. “Intuition: A Social Cognitive Neuroscience Approach.” Psychological Bulletin, 126, 109–37.
Loewenstein, G., and D. Adler. 2000. “A Bias in the Prediction of Tastes.” In D. Kahneman and A. Tversky (Eds.), Choices, Values, and Frames, 726–34. New York: Cambridge University Press.
Luban, D. 2003. “Integrity: Its Causes and Cures.” Fordham Law Review, 72, 279–310.
MacIntyre, A. 1985. After Virtue, 2nd edition. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Maitland, I. 1997. “Virtuous Markets: The Market as School of the Virtues.” Business Ethics Quarterly, 7, 17–31.
Martin, M. 2006. From Morality to Mental Health: Virtue and Vice in a Therapeutic Culture. New York: Oxford University Press.
Maslow, A. 1987. Motivation and Personality, 3rd edition. New York: Harper and Row.
Matson, W. 2001. “Unfair to Justice.” Modern Age, 372–278.
McCabe, D., and L. Trevino. 1995. “Cheating among Business Students: A Challenge for Business Leaders and Educators.” Journal of Management Education, 19, 205–18.
McCloskey, D. 2006. The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce. Chicago: University of Chicago Press.
McCracken, J., and B. Shaw. 1995. “Virtue Ethics and Contractarianism: Towards a Reconciliation.” Business Ethics Quarterly, 5, 297–312.
McDowell, J. 1997. “Virtue and Reason.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 141–62. New York: Oxford University Press.
McKinnon, C. 2005. “Character Possession and Human Flourishing.” In D. Lapsley and F. Power (Eds.), Character Psychology and Character Education, 36–66. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
Melé, D. 2003. “The Challenge of Humanistic Management.” Journal of Business Ethics, 44, 77–88.
Melville, H. 2001. Billy Budd, Sailor. Chicago: University of Chicago Press. Merck. 2011. http://www.merck.com/responsibility/access/access-featuremectizan. html.
Messick, D. 1998. “Social Categories and Business Ethics.” In R. E. Freeman (Ed.), Business, Science, and Ethics, 149–72, Ruffin Series No. 1. Business Ethics Quarterly (Special Issue).
Metcalfe, J., and W. Mischel. 1999. “A Hot–Cool System Analysis of Delay of Gratification: Dynamics of Willpower.” Psychological Review, 106, 3–19.
Milgram, S. 1974. Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper and Row.
Miller, F. 1995. Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics. New York: Oxford University Press.
Moberg, D. 1999. “The Big Five and Organizational Virtue.” Business Ethics Quarterly, 9, 245–72. – 2006. “Ethics Blind Spots in Organizations: How Systematic Errors in Person Perception Undermine Moral Agency.” Organization Studies, 27, 413–28.- and M. Seabright. 2000. “The Development of Moral Imagination.” Business Ethics Quarterly, 10, 845–84.
Moore, G. 2002. “On the Implications of the Practice–Institution Distinction: MacIntyre and the Application of Modern Virtue Ethics to Business.” Business Ethics Quarterly, 12, 19–32. – 2005a. “Corporate Character: Modern Virtue Ethics and the Virtuous Corporation.” Business Ethics Quarterly, 15, 659–85. – 2005b. “Humanizing Business: A Modern Virtue Ethics Approach.” Business Ethics Quarterly, 15, 237–55. – 2008. “Re-imagining the Morality of Management: A Modern Virtue Ethics Approach.” Business Ethics Quarterly, 18, 483– 511. – 2009. “Virtue Ethics and Business Organizations.” In J. Smith (Ed.), Normative Theory and Business Ethics, 35–59. New York: Rowman and Littlefield. – 2012. “The Virtue of Governance, the Governance of Virtue.” Business Ethics Quarterly, 22, 293–318. – and R. Beadle. 2006. “In Search of Organizational Virtue in Business: Agents, Goods, Practices, Institutions and Environments.” Organization Studies, 27, 369–89.
Morris, C. 2008. The Trillion Dollar Meltdown: Easy Money, High Rollers, and the Great Credit Crash. New York: Public Affairs.
N´eron, P., and W. Norman. 2008. “Citizenship, Inc.” Business Ethics Quarterly, 18, 1–26.
Newton, L. 1992. “Virtue and Role: Reflections on the Social Nature of Morality.” Business Ethics Quarterly, 2, 357–65.
Nickerson, R. 1994. “The Teaching of Thinking and Problem Solving.” In R. Sternberg (Ed.), Thinking and Problem Solving, 409–49. San Diego: Academic Press.
Nielsen, R. 2001. “Can Ethical Character be Stimulated and Enabled: An Action-Learning Approach to Teaching and Learning Organization Ethics.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 51–77. New York: Elsevier Science.
Norman, W. 2002. “Inevitable and Unacceptable? Methodological Rawlsianism in Anglo-American Political Philosophy.” Political Studies, 46, 276–94.
Numkanisorn, S. 2002. “Business and Buddhist Ethics.” The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies, 1, 39–58.
Nussbaum, M. 1990. “Finely Aware and Richly Responsible: Literature and the Moral Imagination.” In Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, 148–67. New York: Oxford University Press. – 2010. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press.
Ostrom, E., and T. K. Ahn. 2009. “The Meaning of Social Capital and its Link to Collective Action.” In G. Svendsen and G. L. Svendsen (Eds.), Handbook of Social Capital: The Troika of Sociology, Political Science and Economics, 17–35. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
Owen, G. 1960. “Logic and Metaphysics in Some Earlier Works of Aristotle.” In I. During and G. Owen (Eds.), Plato and Aristotle in the Mid- Fourth Century, 163–90. Goeteborg: Almquist and Wiksell. – 1986. “Tithenai ta phainomena.” In M. Nussbaum (Ed.), Science and Dialectic, 239–51. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Paine, L. 1991. “Ethics as Character Development: Reflections on the Objective of Ethics Education.” In R. Freeman (Ed.), Business Ethics: The State of the Art. 67–86. New York: Oxford University Press.
Pastoriza, D., M. Arino, and J. Ricart. 2007. “Ethical Managerial Behaviour as an Antecedent of Organizational Social Capital.” Journal of Business Ethics, 78, 329–41.
Peters, T., and R. Waterman. 1982. In Search of Excellence. New York: Harper and Row.
Pfeffer, J. 1982. Organizations and Organization Theory. Boston: Pitman. – 2005. “Why Do Bad Management Theories Persist? A Comment on Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 96–100.
Phillips, R., and C. Caldwell. 2005. “Value Chain Responsibility: A Farewell to Arm’s Length.” Business and Society Review, 110, 345– 70.
Pinker, S. 2011. The Better Angels of our Nature: Why Violence has Declined. New York: Viking.
Pizarro, D., and P. Bloom. 2003. “The Intelligence of Moral Intuitions: Comment on Haidt.” Psychological Review, 110, 193–6.
Porter, M. 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
Prior, W. 2001. “Eudaimonism.” Journal of Value Inquiry, 35, 325–42.
Putnam, H. 2002. The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Cambridge: Harvard University Press.
Putnam, R. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster. – and D. Campbell. 2010. American Grace: How Religion Divides and Unites Us. New York: Simon and Schuster.
Quine, W. 1980. From a Logical Point of View, 2nd edition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rabin, M. 1998. “Psychology and Economics.” Journal of Economic Literature, 36, 11–46.
Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. – 1993. Political Liberalism. New York: Columbia University Press. Roca, E. 2008. “Introducing Practical Wisdom in Business Schools.” Journal of Business Ethics, 82, 607–20.
Rosenzweig, P. 2007. The Halo Effect . . . and the Eight Other Business Delusions that Deceive Managers. New York: Free Press.
Ross, L., and R. Nisbet. 1991. The Person and the Situation: Perspectives of Social Psychology. New York: McGraw-Hill.
Ross, W. D. 1930. The Right and the Good. New York: Oxford University Press.
Russell, D. 2009. Practical Intelligence and the Virtues. Oxford: Clarendon Press.
Salmieri, G. 2009. “Aristotle’s Non-‘Dialectical’ Methodology in the Nicomachean Ethics.” Ancient Philosophy, 29, 311–35.
Sandel, M. 2012. What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Schein, E. H. 1985. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
Sen, A. 1987. On Ethics and Economics. New York: Basil Blackwell. – 1997. “Human Rights and Asian Values.” New Republic, July 14–21. https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/sen.htm. – 2009. The Idea of Justice. Cambridge, MA: The Belknap Press. – and B. Williams (Eds.), 1982. Utilitarianism and Beyond. New York: Cambridge University Press.
Sennett, R. 1998. The Corrosion of Character: The Transformation of Work in Modern Capitalism. New York: W. W. Norton & Company.
Shaw, B. 1995. “Virtues for a Postmodern World.” Business Ethics Quarterly, 5, 843–63.
Shiller, R. 2012. Finance and the Good Society. Princeton: Princeton University Press.
Shoda, Y.,W. Mischel, and P. Peake. 1990. “Predicting Adolescent Cognitive and Self-regulatory Competencies from Pre-school Delay of Gratification: Identifying Diagnostic Conditions.” Developmental Psychology, 26, 978–86.
Simmel, G. 1955. Conflict and the Web of Group Affiliations. Trans. By K. H. Wolfe. Glencoe, IL: The Free Press.
Simon, H. 1954. “A Behavioral Theory of Rational Choice.” Quarterly Journal of Economics, 69, 99–118.
Sims, R., and T. Keon. 1999. “Determinants of Ethical Decision Making: The Relationship of the Perceived Organizational Environment.” Journal of Business Ethics, 19, 393–401.
Sison, A. 2003. The Moral Capital of Leaders: Why Ethics Matters. Northampton, MA: Edward Elgar. – 2008. Corporate Governance and Ethics: An Aristotelian Perspective. Northampton, MA: Edward Elgar. – 2011. “Aristotelian Citizenship and Corporate Citizenship: Who is
a Citizen of the Corporate Polis?” Journal of Business Ethics, 100, 3–9. – and J. Fontrodona. 2012. “The Common Good of the Firm in the Aristotelian-Thomistic Tradition.” Business Ethics Quarterly, 22, 211–46.
Skidelsky, E. 2009. “Capitalism and the Good Life.” In S. Gregg and J. Stoner (Eds.), Profit, Prudence, and Virtue: Essays in Ethics, Business and Management, 242–53. Exeter, UK: Imprint Academic.
Skinner, B. 1972. Beyond Freedom and Dignity. New York: Bantam Vintage.
Slater, L. 2004. Opening Skinner’s Box: Great Psychological Experiments of the Twentieth Century. New York: W. W. Norton.
Slote, M. 1983. Goods and Virtues. New York: Oxford University Press. – 1992 From Morality to Virtue. New York: Oxford University Press. – 2001. Morals from Motives. New York: Oxford University Press.
Smith, H. 2012. Who Stole the American Dream? New York: Random House.
Solomon, R. 1992. Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business. New York: Oxford University Press.
Sommers, M. C. 1997. “Useful Friendships: A Foundation for Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 16, 1453–8.
Stark, A. 1993. “What’s the Matter with Business Ethics?” Harvard Business Review, 71, 38–48.
Sundman, P. 2000. “The Good Manager – A Moral Manager?” Journal of Business Ethics, 27, 247–54.
Toulmin, S. 1990. Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. Chicago: University of Chicago Press.
Trevino, L. K. 1986. “Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model.” Academy of Management Review, 11, 607–17. – K. Butterfield, and D. McCabe. 2001. “The Ethical Context in Organizations: Influences on Employee Attitudes and Behaviors.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 301–37. New York: Elsevier Science.
Trist, E., and K. Bamforth. 1951. “Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Coal Getting.” Human Relations, 4, 3–38.
Tsalikis, J., and O. Wachukwu. 2000. “A Comparison of Nigerian to American Views of Bribery and Extortion in International Commerce.” Journal of Business Ethics, 10, 85–98.
Tsoukas, H., and S. Cummings. 1997. “Marginalization and Recovery: The Emergence of Aristotelian Themes in Organization Studies.” Organization Studies, 18, 655–83.
Turbow, J., with M. Duca. 2010. The Baseball Codes: Beanballs, Sign Stealing, and Bench-Clearing Brawls: The Unwritten Rules of America’s Pastime. New York: Pantheon Books.
Turner, N., J. Barling, O. Epitropaki, V. Butcher, and C. Milner. 2002. “Transformational Leadership and Moral Reasoning.” Journal of Applied Psychology, 87, 304–11.
Tversky, A., and D. Kahneman. 1981. “The Framing of Decisions and the Psychology of Choice.” Science, 211, 453–8.
Vidaver-Cohen, D. 1997. “Moral Imagination in Organizational Problem-Solving: An Institutional Perspective.” Business Ethics Quarterly, 7, 1–26. – 2001. “Motivational Appeal in Normative Theories of Enterprise.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 3–26. New York: Elsevier Science.
Vlastos, G. 1994. Socratic Studies. New York: Cambridge University Press.
Walton, C. 2001. “Character and Integrity in Organizations: The Civilization of the Workplace.” Business and Professional Ethics Journal, 20, 105–28.
Weaver, G. 2006. “Virtue in Organizations: Moral Identity as a Foundation for Moral Agency.” Organization Studies, 27, 341–68. – and B. Agle. 2002. “Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A Symbolic Interactionist Perspective.” Academy of Management Review, 27, 77–97.
Weick, K. 1969. The Social Psychology of Organizing. Reading, MA: Addison-Wesley. – K. Sutcliffe, and D. Obstfeld. 2005. “Organizing and the Process of Sensemaking.” Organization Science, 16, 409–21.
Wells, T., and J. Graafland. 2012. “Adam Smith’s Bourgeois Virtues in Competition.” Business Ethics Quarterly, 22, 319–50.
Werhane, P. 1991. Adam Smith and his Legacy for Modern Capitalism. New York: Oxford University Press. – 1999. Moral Imagination and Management Decision-making. New York: Oxford University Press. – and M. Gorman. 2005. “Intellectual Property Rights, Moral Imagination, and Access to Life-enhancing Drugs.” Business Ethics Quarterly, 15, 595–613. – L. Hartman, D. Moberg, E. Englehardt, M. Pritchard, and B. Parmar. 2011. “Social Constructivism, Mental Models, and Problems of Obedience.” Journal of Business Ethics, 100, 103–18.
Whetstone, J. 2003. “The Language of Managerial Excellence: Virtues as Understood and Applied.” Journal of Business Ethics, 44, 343–57.
Williams, B. 1981. Moral Luck. New York: Cambridge University Press. – 1985. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge: Harvard University Press.
Williamson, O. 1975. Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-trust Implications. New York: Free Press.
Winter, S. 1971. “Satisficing, Selection, and the Innovative Remnant.” Quarterly Journal of Economics, 85, 237–61.
Woodruff, P. 2001. Reverence: Renewing a Forgotten Virtue. New York: Oxford University Press.
Zimbardo, P. 2007. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. New York: Random House.
—–