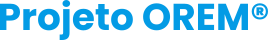What’s a Business For? – Revista Harvard Business Review – Dezembro de 2002 – Escrito por Charles Handy
Tradução livre Projeto OREM®
Para quem e para o que serve um Negócio?
O cenário de negócios que o autor Charles Handy didaticamente retrata, na época da publicação de seu artigo, ainda reflete com perfeição o que se passa nos dias de hoje no ambiente decisório empresarial.
Alguns esforços inovadores pipocando aqui e ali, mas ainda como uma exceção à regra de um capitalismo selvagem, onde apenas o frio e calculista lucro é a meta, custe o que custar.
A busca por inovações tecnológicas, de processos de produção, de produtos, de serviços, em marketing, em logística, de modelo organizacional, de modelo de negócio … passaram a fazer parte do plano de ação e do planejamento estratégico de empresas em geral, visando a sua competição com a globalização e a manutenção no mercado selvagem. Aqui a vida é um campo de batalha.
Por outro lado percebe-se que uma massa crítica consideravelmente grande de pessoas estão fervorosamente à procura de uma experiência de vida muito mais espiritual do que material, o que tem forçado o mercado empresarial a rever os seus modelos organizacionais, de negócios e de políticas para tomadas de decisão. Como sabido os negócios são feitos por pessoas.
A meu ver uma nova e poderosa inovação já teve início para atender aos mercados empresariais maduros que precisam reagir a esse cenário tão bem retratado pelo autor nesse artigo em destaque, assim como atender a essa gigante massa crítica de buscadores da verdade e do despertar espiritual.
Trata-se da Inovação da Visão de Propósito de Negócios, com foco em Espiritualidade nas Empresas (EE) ou em Organizações Baseadas na Espiritualidade (OBE). Aqui a vida passa a ser uma sala de aula.
A implantação inconteste desse novo tipo de Inovação (EE ou OBE) fica clara após experienciarmos o cenário de negócios abaixo descortinado pelo autor.
Assim começa o artigo de Charles Handy:
“Os capitalistas poderiam realmente derrubar o capitalismo? Um redator do New York Times fez essa pergunta no início deste ano, à medida que os escândalos contábeis envolvendo grandes empresas dos EUA se acumulavam. Não, ele concluiu, provavelmente não. Algumas maçãs podres não contaminariam todo o pomar, os mercados acabariam separando as boas das ruins e, no devido tempo, o mundo continuaria como antes.
Nem todo mundo é tão complacente. Os mercados dependem de regras e leis, mas essas regras e leis, por sua vez, dependem da verdade e da confiança. Esconda a verdade ou corroa a confiança e o jogo se torna tão pouco confiável que ninguém vai querer jogar. Os mercados se esvaziarão e os preços das ações entrarão em colapso, à medida que as pessoas comuns encontrarem outros lugares para colocar o seu dinheiro – em suas casas, talvez, ou debaixo de suas camas. A grande virtude do capitalismo – que fornece um meio para que as economias da sociedade sejam usadas para a criação de riqueza – terá sido corroída. Assim, nós teremos que confiar cada vez mais nos governos para a criação de nossa riqueza, algo que eles sempre foram visivelmente ruins em fazer.
Esses cenários extremos podem ter parecido risíveis alguns anos atrás, quando o triunfo do capitalismo ao estilo americano parecia evidente, mas ninguém deveria estar rindo agora. Nos escândalos recentes, a verdade parecia muito facilmente sacrificada à conveniência e à necessidade, como as empresas a viam, de assegurar aos mercados que os lucros estavam no alvo.
John May, analista de ações de um serviço de investidores dos EUA, apontou que os anúncios de lucros proforma das 100 maiores empresas da NASDAQ nos primeiros nove meses de 2001 superestimaram os lucros auditados reais em US$ 100 bilhões. Até as contas auditadas, ao que parece, muitas vezes faziam as coisas parecerem melhores do que realmente elas eram.
A confiança também é frágil. Como um pedaço de porcelana, uma vez rachada, nunca mais é a mesma. E a confiança das pessoas nos negócios e naqueles que os lideram, está rachando hoje. Para muitos, parece que os executivos não dirigem mais as suas empresas em benefício dos consumidores, ou mesmo de seus acionistas e funcionários, mas por sua ambição pessoal e ganho financeiro.
Uma pesquisa Gallup realizada no início deste ano descobriu que 90% dos Americanos achavam que as pessoas que administravam corporações não eram confiáveis para cuidar dos interesses de seus funcionários e apenas 18% achavam que as corporações cuidavam muito de seus acionistas. Quarenta e três por cento, na verdade, acreditavam que os executivos seniores estavam envolvidos apenas por si mesmos. Na Grã-Bretanha, esse número, de acordo com outra pesquisa, foi de 95%.
O que deu errado? É tentador culpar as pessoas no topo. Keynes escreveu certa vez: ‘O capitalismo é a crença espantosa de que o mais perverso dos homens fará as coisas mais perversas para o maior bem de todos’. Keynes estava exagerando. Cobiça pessoal, escrutínio insuficiente dos assuntos corporativos, insensibilidade ou indiferença à opinião pública: essas acusações podem ser levantadas contra alguns líderes empresariais, mas poucos, felizmente, foram culpados de fraude ou maldade deliberada. Tudo o que eles estão fazendo é jogar o jogo de acordo com as novas regras.
Poucos líderes empresariais, felizmente, foram culpados de fraude ou maldade deliberada. Tudo o que eles estão fazendo é jogar o jogo de acordo com as novas regras.
Na atual versão Anglo-Americana do capitalismo do mercado de ações, o critério de sucesso é o valor para o acionista, expresso pelo preço das ações de uma empresa. Existem muitas maneiras de influenciar o preço das ações, das quais aumentar a produtividade e a lucratividade a longo prazo é apenas uma delas. Cortar ou adiar gastos que são voltados para o futuro e não para o presente aumentará os lucros imediatamente, mesmo que os coloque em perigo a longo prazo. A compra e venda de empresas é outra estratégia favorecida. É uma maneira muito mais rápida de aumentar o seu balanço patrimonial e o preço das ações do que confiar no crescimento orgânico e, para aqueles que estão no topo, pode ser muito mais interessante. O fato de que a maioria das fusões e aquisições não agregam valor, no final das contas, não desencorajou muitos executivos a tentar.
Um resultado da obsessão pelo preço das ações é um inevitável encurtamento de horizontes. Paul Kennedy não é o único a acreditar que as empresas estão hipotecando os seus futuros em troca de um preço mais alto das ações no presente, mas pode estar otimista ao pressentir o fim da obsessão pelo valor para o acionista.
A opção de ações, essa nova filha favorita do capitalismo do mercado de ações, também deve arcar com grande parte da culpa. Enquanto em 1980 apenas cerca de 2% da remuneração dos executivos nos Estados Unidos estava vinculada a opções de ações, agora acredita-se que seja mais de 60%. Os executivos, como é natural, querem realizar as suas opções o mais rápido possível, em vez de depender das ações de seus sucessores. A opção de compra de ações também adquiriu uma nova popularidade na Europa, à medida que mais e mais empresas abrem o seu capital. Para muitos Europeus, no entanto, opções de ações extremamente subvalorizadas parecem apenas mais uma maneira de permitir que os executivos roubem de suas empresas e de seus acionistas.
Os Europeus levantam as sobrancelhas, às vezes com inveja, mas mais frequentemente com indignação, com os níveis de remuneração dos executivos sob o capitalismo do mercado de ações. Relatos de que os CEO’s nos Estados Unidos ganham mais de 400 vezes os salários de seus trabalhadores mais mal pagos zombam do ideal de Platão, no que era, reconhecidamente, um mundo menor e mais simples, de que nenhuma pessoa deveria valer mais do que quatro vezes outra.
Por que, alguns se perguntam, os executivos de negócios deveriam ser recompensados financeiramente muito melhor do que aqueles que servem à sociedade em todas as outras profissões? A suspeita, certa ou errada, de que a empresa cuida de si mesma antes de cuidar dos outros apenas alimenta a desconfiança latente.
Os Europeus continuam a olhar para a América com um misto de inveja e apreensão. Eles admiram o dinamismo, a energia empreendedora e a insistência no direito de cada um de traçar a sua própria vida. Mas eles se preocupam agora, enquanto observam os seus próprios mercados de ações seguirem Wall Street ladeira abaixo, que as falhas no modelo Americano de capitalismo são contagiosas.
A doença Americana não é apenas uma questão de ética pessoal duvidosa ou de algumas empresas desonestas falsificando bilhões. Toda a cultura empresarial do país pode ter se tornado distorcida. Essa foi a cultura que encantou os Estados Unidos por uma geração, uma cultura sustentada por uma doutrina que proclamava o rei do mercado, sempre priorizava o acionista e acreditava que os negócios eram o principal motor do progresso e, portanto, deveriam ter precedência nas decisões políticas.
Foi uma doutrina inebriante que simplificou a vida com o seu dogma da linha de fundo e, durante os anos Thatcher, infectou a Grã-Bretanha. Certamente reavivou o espírito empreendedor naquele país, mas também contribuiu para o declínio da sociedade civil e para a erosão da atenção e do dinheiro dedicados aos setores não empresariais de saúde, educação e transporte – uma negligência cujos efeitos assombram o atual governo Britânico.
A Europa Continental sempre foi menos fascinada pelo modelo Americano. O capitalismo do mercado de ações não tinha lugar para muitas das coisas que os Europeus consideram como benefícios da cidadania – assistência médica gratuita e educação de qualidade para todos, moradia para os desfavorecidos e garantia de padrões de vida razoáveis na velhice, na doença ou no desemprego.
No entanto, as acusações do outro lado do Atlântico de falta de dinamismo na Europa, de economias esclerosadas atoladas em regulamentações e de gestão sem brilho começaram a doer e mesmo no Continente o jeito Americano de fazer negócios começou a se firmar. Agora, depois de uma série de exemplos da própria Europa de trapaça no topo e alguns colapsos corporativos de alto perfil devido a políticas de aquisição excessivamente ambiciosas, muitos no Continente se perguntam se eles se desviaram demais para o capitalismo do mercado de ações.
Agora podemos ver, em retrospectiva, que nos anos de boom da década de 1990, os Estados Unidos muitas vezes estavam criando valor onde não existia, elevando a capitalização de mercado das empresas para 64 vezes os lucros, ou mais. E isso está longe de ser o único problema do país. O nível de endividamento dos consumidores dos EUA pode ser insustentável, junto com as dívidas do país com estrangeiros. Acrescente a isso a erosão da confiança nos balanços e conselhos de administração de algumas das maiores corporações dos EUA e todo o sistema de canalização das economias dos cidadãos em investimentos frutíferos começa a parecer questionável. Esse é o contágio que a Europa teme.
O fundamentalismo capitalista pode ter perdido o seu brilho, mas a necessidade urgente agora é reter a energia produzida pelo antigo modelo enquanto remedia as suas falhas. Uma regulamentação melhor e mais rígida ajudaria, assim como uma separação mais clara entre auditoria e consultoria.
A governança corporativa certamente será agora levada mais a sério por todos os envolvidos, com responsabilidades mais claramente definidas, penalidades explicadas claramente e defensores nomeados. Mas estes serão emplastros em uma ferida aberta. Eles não vão curar a doença que está no cerne da cultura empresarial.
A necessidade urgente agora é reter a energia produzida pelo modelo antigo enquanto remedia as suas falhas.
Nós não podemos escapar da pergunta fundamental: Para quem e para o que serve um negócio? A resposta uma vez parecia clara, mas não mais. Os termos do negócio mudaram. A propriedade foi substituída pelo investimento e os ativos de uma empresa são cada vez mais encontrados em seu pessoal, não em seus prédios e máquinas. À luz dessa transformação, nós precisamos repensar as nossas premissas sobre o propósito do negócio. E ao fazê-lo, nós precisamos perguntar se há coisas que os negócios Americanos podem aprender com a Europa, assim como houve lições valiosas que os Europeus absorveram do dinamismo dos Americanos.
Ambos os lados do Atlântico concordariam que há, em primeiro lugar, uma necessidade clara e importante de atender às expectativas dos proprietários teóricos de uma empresa: os acionistas. No entanto, seria mais correto chamar a maioria deles de investidores, talvez até de jogadores. Eles não têm o orgulho ou a responsabilidade da propriedade e, verdade seja dita, estão lá apenas pelo dinheiro.
No entanto, se a administração não cumprir as suas expectativas financeiras, o preço das ações cairá, expondo a empresa a predadores indesejados e dificultando a obtenção de novos financiamentos. Mas transformar as necessidades dos acionistas em propósito é cometer uma confusão lógica, confundir uma condição necessária com uma condição suficiente. Precisamos comer para viver; o alimento é uma condição necessária da vida. Mas se vivêssemos principalmente para comer, fazendo da comida um propósito suficiente ou único da vida, nos tornaríamos com excesso de peso.
O objetivo de um negócio, em outras palavras, não é obter lucro, ponto final. É ter lucro para que o negócio possa fazer algo mais ou melhor. Esse ‘algo’ torna-se a verdadeira justificativa para o negócio. Os donos sabem disso. Os investidores não precisam se importar.
Para muitos, isso soará como uma troca de palavras. Não é verdade. É uma questão moral. Confundir o meio com o fim é entregar-se a si mesmo, o que Santo Agostinho chamou de um dos maiores pecados. No fundo, as suspeitas sobre o capitalismo estão enraizadas no sentimento de que os seus instrumentos, as corporações, são imorais, pois não têm outro propósito além de si mesmas. Fazer essa suposição pode ser uma grande injustiça para muitas empresas, mas elas se decepcionaram com a sua própria retórica e comportamento.
É salutar perguntar sobre qualquer organização: ‘Se ela não existisse, nós a inventaríamos?’ ‘Somente se pudesse fazer algo melhor ou mais útil do que qualquer outra pessoa’ teria que ser a resposta e o lucro seria o meio para esse fim maior.
A ideia de que aqueles que fornecem o financiamento são os donos legítimos de uma empresa e não apenas os seus financistas, data dos primeiros dias dos negócios, quando o financista era genuinamente o proprietário e geralmente o executivo-chefe também.
Uma segunda ressaca de épocas anteriores é a ideia de que uma empresa é uma propriedade, sujeita às leis de propriedade e posse. Isso era verdade há dois séculos, quando surgiu o direito societário e uma empresa consistia em um conjunto de ativos físicos. Agora que o valor de uma empresa reside em grande parte em sua propriedade intelectual, em suas marcas e patentes e nas habilidades e experiência de sua força de trabalho, parece irreal tratar essas coisas como propriedade de financistas, para serem descartadas como quiserem. Isso ainda pode ser a lei, mas dificilmente parece justiça.
Certamente, aqueles que carregam essa propriedade intelectual dentro de si, que contribuem com o seu tempo e o seu talento ao invés de seu dinheiro, deveriam ter alguns direitos, alguns dizem no futuro o que eles também consideram como a empresa ‘deles’?
Isso fica cada vez pior. Os empregados de uma empresa são tratados, pela lei e pelas contas, como propriedade dos proprietários e são registrados como custos e não como ativos. Isso é humilhante, no mínimo. Custos são coisas a serem minimizadas, ativos coisas a serem valorizadas e cultivadas. A linguagem e as medidas dos negócios precisam ser revertidas.
Um bom negócio é uma comunidade com um propósito e uma comunidade não é algo para ser ‘possuído’. Uma comunidade tem membros e esses membros têm certos direitos, incluindo o direito de votar ou expressar as suas opiniões sobre questões importantes. É irônico que os países que se gabam mais estridentemente de seus princípios democráticos obtenham a sua riqueza de instituições que são desafiadoramente antidemocráticas, nas quais todo o poder sério é detido por forasteiros e o poder interno é exercido por uma ditadura ou, na melhor das hipóteses, por uma oligarquia.
A legislação societária nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha está desatualizada. Já não se ajusta à realidade dos negócios na economia do conhecimento. Talvez nem se encaixasse nos negócios da era industrial.
Em 1944, Lord Eustace Percy, na Grã-Bretanha, disse o seguinte: ‘Aqui está o desafio mais urgente à invenção política já oferecido a um estadista ou jurista. A associação humana que de fato produz e distribui riqueza, a associação de operários, gerentes, técnicos e diretores, não é uma associação reconhecida por lei. A associação que a lei reconhece – a associação de acionistas, credores e diretores – é incapaz de produção ou distribuição e não é esperada pela lei que desempenhe essas funções. Temos que dar lei à associação real e retirar privilégios sem sentido da imaginária’.
Quase 60 anos depois, o escritor Europeu de gestão Arie de Geus argumentou que as empresas morrem porque os seus gerentes se concentram na atividade econômica de produzir bens e serviços e esquecem que a verdadeira natureza de sua organização é a de uma comunidade de pessoas. Nada, ao que parece, mudou.
Os países da Europa Continental, no entanto, sempre consideraram a corporação como uma comunidade cujos membros têm direitos legais, incluindo, na Alemanha, por exemplo, o direito dos funcionários a ter metade, menos um, dos assentos no conselho fiscal, bem como inúmeras garantias contra a demissão sem justa causa e uma série de benefícios legais. Esses direitos certamente limitam a flexibilidade da gestão, mas ajudam a cultivar um senso de comunidade, gerando a sensação de segurança que possibilita a inovação e a experimentação e a lealdade e o comprometimento que podem ver uma empresa em momentos ruins.
Os acionistas são vistos como depositários da riqueza herdada do passado. O seu dever é preservar e, se possível, aumentar essa riqueza para que possa ser transmitida às gerações futuras.
Essa abordagem é mais fácil para as empresas do Continente. Os seus sistemas de posse mais fechados e maior dependência de financiamento bancário de longo prazo os protegem de predadores e pressões de lucro de curto prazo. Na maioria dos casos, o capital social de uma empresa está concentrado nas mãos de outras empresas, bancos ou redes familiares, com acionistas privados detendo apenas uma pequena porcentagem.
Os fundos de pensão também não são tão grandes nem tão poderosos quanto nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, principalmente porque as empresas Europeias mantêm as pensões sob o seu próprio controle, usando os fundos como capital de giro.
As estruturas de propriedade e governança diferem de país para país, mas em geral pode-se dizer que o culto da equidade não é tão proeminente na Europa Continental. Como resultado, aquisições hostis são difíceis e raras e as empresas podem prestar mais atenção ao longo prazo e às necessidades de outros constituintes que não os acionistas.
Os países são moldados por suas histórias. As nações Anglo-Saxônicas não poderiam adotar nenhum dos modelos Europeus, mesmo que quisessem. Ambas as culturas, no entanto, precisam restaurar a confiança nas possibilidades de criação de riqueza do capitalismo e em seus instrumentos, as corporações. Em ambas as culturas algumas coisas precisam mudar. Mais honestidade e realidade no relato dos resultados ajudariam, para começar. Mas quando tantos ativos de uma empresa são agora invisíveis e, portanto, incontáveis e quando as teias de alianças, joint ventures e parcerias de subcontratação são tão complexas, nunca será possível apresentar uma simples imagem financeira de um grande negócio ou encontre um número que resuma tudo.
A nova exigência dos Estados Unidos de que os executivos-chefes e diretores financeiros atestem a veracidade das demonstrações financeiras de suas empresas pode concentrar as suas mentes em alto grau, mas dificilmente se pode esperar que verifiquem novamente o trabalho de seus contadores e auditores.
Se, no entanto, esse novo requisito empurrar a responsabilidade por dizer a verdade, algo de bom pode resultar. Se uma empresa leva a sério a ideia de si mesma como uma comunidade criadora de riqueza, com membros em vez de funcionários, será sensato que os membros validem os resultados de seu trabalho antes de apresentá-los aos financiadores, que podem, por sua vez, ter maior confiança na veracidade dessas declarações.
E se o culto da opção de compra de ações diminuir com o declínio do mercado de ações e as empresas decidirem recompensar as suas pessoas chave com uma parte dos lucros, então esses membros estarão ainda mais propensos a ter um grande interesse na verdade dos números. Parece justo que os dividendos sejam pagos àqueles que contribuem com as suas habilidades, bem como àqueles que contribuíram com o seu dinheiro. A maioria destes últimos, afinal, não pagou nenhum dinheiro à própria empresa, mas apenas aos proprietários anteriores das ações.
Parece justo que os dividendos sejam pagos àqueles que contribuem com as suas habilidades, bem como àqueles que contribuíram com seu dinheiro.
Pode ser apenas uma questão de tempo até que tais mudanças aconteçam. Já as pessoas cujos bens pessoais são altamente valorizados — banqueiros, corretores, atores de cinema, estrelas do esporte e afins — fazem uma participação nos lucros, ou um bônus, uma condição de seu emprego. Outros, como os autores, recebem toda a sua remuneração de uma parcela do fluxo de renda. Essa forma de remuneração relacionada ao desempenho, na qual a contribuição de um único membro ou grupo pode ser identificada, parece destinada a crescer junto com o poder de barganha dos principais talentos.
Nós não devemos ignorar os exemplos de organizações, como equipes esportivas e editoras, cujo sucesso sempre esteve atrelado ao talento dos indivíduos e que, ao longo dos anos ou mesmo dos séculos, tiveram que descobrir a melhor forma de compartilhar tanto os riscos e as recompensas do trabalho inovador. No crescente mundo dos negócios de talentos, os funcionários estarão cada vez mais relutantes em vender os frutos de seus ativos intelectuais por um salário anual.
Algumas pequenas corporações Europeias já distribuem uma proporção fixa de lucros após impostos para a força de trabalho e esses pagamentos se tornam uma expressão muito tangível dos direitos dos membros. À medida que a prática se espalha, fará sentido discutir estratégias e planos em linhas gerais com representantes dos membros para que eles possam compartilhar a responsabilidade por seus ganhos futuros. A democracia, de certa forma, terá se infiltrado através do pacote de pagamento, trazendo consigo, espera-se, mais compreensão, mais compromisso e mais contribuição.
Essas mudanças na compensação podem ajudar a remediar o déficit democrático do capitalismo, mas não vão reparar a imagem dos negócios na comunidade mais ampla. Eles podem, de fato, serem vistos como espalhando um pouco mais o culto do egoísmo. Mais duas coisas precisam acontecer para curar a doença atual do capitalismo – e há sinais de que essas mudanças já estão em andamento.
O antigo juramento de Hipócrates que muitos médicos fazem na formatura inclui uma liminar para não causar danos. Os manifestantes antiglobalização de hoje afirmam que as empresas globais não apenas causam danos, mas que o dano supera o bem. Para que essas acusações sejam refutadas e para que as empresas restaurem a sua reputação como amigas, não inimigas, do progresso em todo o mundo, os líderes dessas empresas precisam se comprometer com um juramento equivalente.
Não causar danos vai além de atender aos requisitos legais em relação ao meio ambiente, condições de emprego, relações com a comunidade e ética. A lei sempre fica atrás das melhores práticas. As empresas precisam assumir a liderança em áreas como a sustentabilidade ambiental e social, em vez de se deixarem empurrar para sempre na defensiva.
John Browne, CEO da BP, a gigante do petróleo, é uma pessoa que está preparada para fazer parte da advocacia necessária. Em uma palestra pública transmitida pela rádio BBC em 2000, ele disse que a comunidade empresarial não se opõe ao desenvolvimento sustentável, mas é de fato essencial para a sustentabilidade, porque somente as empresas podem produzir as inovações tecnológicas e fornecer os meios para um progresso genuíno nesse domínio. E os negócios precisam de um planeta sustentável para a sua própria sobrevivência, pois poucas empresas são entidades de curto prazo; elas querem fazer negócios de novo e de novo, ao longo de décadas. Muitos outros líderes empresariais agora concordam com Browne e estão começando a moldar as suas ações para se adequarem às suas palavras. Alguns estão até descobrindo que é possível ganhar dinheiro com a criação de produtos e serviços que a sustentabilidade exige.
Infelizmente, a maioria das empresas ainda vê conceitos como sustentabilidade e responsabilidade social como atividades que só os ricos podem pagar. Para eles, o negócio dos negócios é um negócio e deve continuar assim. Se a sociedade quiser impor mais restrições à maneira como os negócios operam, argumentam eles, ela pode aprovar mais leis e aplicar mais regulamentações. Uma abordagem tão minimalista e legalista deixa os negócios parecendo o potencial espoliador que deve ser controlado. E dado o atraso legal, as rédeas podem sempre parecer muito soltas.
Na economia do conhecimento, a sustentabilidade deve se estender tanto ao nível humano quanto ao ambiental. Muitas pessoas viram a sua capacidade de equilibrar o trabalho com o resto de suas vidas se deteriorar constantemente, à medida que se tornam vítimas do estresse da cultura de longas horas. Uma vida executiva, preocupa alguns, está se tornando insustentável em termos sociais. Nós corremos o risco de encher as empresas com o equivalente moderno dos monges, que renunciam a tudo o mais por causa de seu chamado.
Se a empresa contemporânea, com a sua base de ativos humanos, quiser sobreviver, terá que encontrar melhores maneiras de proteger as pessoas das demandas dos empregos que lhes dá. Negligenciar o meio ambiente pode afastar clientes, mas negligenciar a vida das pessoas pode afastar membros-chave da força de trabalho. Aqui, novamente, ajudaria as empresas a se verem como comunidades cujos membros têm necessidades individuais, bem como habilidades e talentos individuais. Eles não são recursos humanos anônimos.
O exemplo Europeu – com as suas férias anuais de cinco a sete semanas, licenças parentais obrigatórias para pais e mães juntos, uso crescente de licenças sabáticas para executivos seniores e semanas de trabalho de menos de 40 horas – ajuda a promover a ideia de que o trabalho longo não é necessariamente um bom trabalho e que a organização atende a seus próprios interesses quando protege os superzelosos de si mesmos.
Muitas empresas Francesas ficaram surpresas com o aumento da produtividade quando o seu último governo exigiu que restringissem a semana de trabalho a 35 horas em média (exigência revogada pelo atual governo). A abordagem da Europa é uma manifestação do conceito da organização como comunidade. A crescente prática de customização de contratos de trabalhadores e planos de desenvolvimento é outra.
Mais democracia corporativa e melhor comportamento corporativo contribuirão muito para melhorar a cultura empresarial atual aos olhos do público, mas a menos que essas mudanças sejam acompanhadas por uma nova visão do propósito dos negócios, elas serão vistas como meros paliativos. É hora de elevar a nossa visão acima do puramente pragmático.
O artigo 14, seção 2, da Constituição Alemã afirma: ‘A propriedade impõe deveres. O seu uso também deve servir ao bem público.’ Não existe tal cláusula na Constituição dos Estados Unidos, mas o sentimento ecoa nas filosofias de algumas empresas.
Dave Packard disse uma vez: ‘Eu acho que muitas pessoas assumem, erroneamente, que uma empresa existe simplesmente para ganhar dinheiro. Embora este seja um resultado importante para a existência de uma empresa, nós temos que nos aprofundar e encontrar as reais razões do nosso ser. Ao investigarmos isso, inevitavelmente chegamos à conclusão de que um grupo de pessoas se reúne e existe como uma instituição que chamamos de empresa, para que possam realizar coletivamente algo que não poderiam realizar separadamente – elas contribuem para a sociedade, uma frase que soa banal, mas é fundamental.’
A ética da contribuição sempre foi uma forte força motivadora. Sobreviver, mesmo prosperar, não é suficiente. Nós desejamos deixar uma pegada nas areias do tempo e se pudermos fazer isso com a ajuda e a companhia de outros, tanto melhor. Nós precisamos nos associar a uma causa para dar propósito às nossas vidas. A busca de uma causa de fato não precisa ser prerrogativa de instituições de caridade e do setor sem fins lucrativos. De fato a missão de melhorar o mundo também não faz dos negócios uma agência social.
Ao criar novos produtos, difundir tecnologia e aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e melhorar o serviço, as empresas sempre foram o agente ativo do progresso. Ajuda a tornar as coisas boas da vida disponíveis e acessíveis a cada vez mais pessoas. Este processo é impulsionado pela concorrência e impulsionado pela necessidade de proporcionar retornos adequados a quem arrisca o seu dinheiro e a sua carreira, apenas isso é, por si só, uma causa nobre. Nós devemos fazer mais disso. Nós devemos, como fazem as organizações de caridade, medir o sucesso em termos de resultados para os outros e para nós mesmos.
Nós devemos, como fazem as organizações de caridade, medir o sucesso em termos de resultados para os outros e para nós mesmos.
George W. Merck, filho do fundador da empresa farmacêutica, sempre insistiu que a medicina era para os pacientes, não para os lucros. Em 1987, mantendo esse valor fundamental, os seus sucessores decidiram doar um medicamento chamado Mectizan, que cura a oncocercose, uma doença em vários países em desenvolvimento. Os acionistas provavelmente não foram consultados, mas se o fossem, muitos se orgulhariam de estar associados a tal gesto.[https://mectizan.org/]
Os negócios nem sempre podem ser tão generosos com tantas pessoas, mas fazer o bem não exclui necessariamente um lucro razoável. Você pode, por exemplo, ganhar dinheiro servindo tanto aos pobres quanto aos ricos.
Como C. K. Prahalad e Allen Hammond apontaram recentemente nesta revista, há um enorme mercado negligenciado em bilhões de pobres no mundo em desenvolvimento. Empresas como Unilever e Citicorp estão começando a adaptar as suas tecnologias para entrar nesse mercado.
A Unilever agora pode entregar sorvete na Índia por apenas dois centavos a porção porque repensou a tecnologia de refrigeração.
O Citicorp agora pode fornecer serviços financeiros para pessoas, também na Índia, que têm apenas US$ 25 para investir, mais uma vez repensando a tecnologia.
Em ambos os casos as empresas ganham dinheiro, mas a força motriz é a necessidade de atender consumidores negligenciados. O lucro geralmente vem do progresso.
Há mais histórias desse tipo de negócios esclarecidos em empresas americanas e europeias, mas elas continuam sendo a minoria. Até e a menos que se tornem a norma, o capitalismo continuará sendo visto como o jogo do homem rico, servindo principalmente a si mesmo e a seus agentes. Talentos de alto nível podem começar a evitá-lo e os clientes abandoná-lo. Pior ainda, as pressões democráticas podem forçar os governos a algemar as corporações, limitando a sua independência e regulando os mínimos detalhes de suas operações. E seremos todos os perdedores.”
Uma versão deste artigo foi publicada na edição de dezembro de 2002 da Harvard Business Review.
Charles Handy é um colaborador de longa data da HBR e autor de mais de uma dúzia de livros. O seu novo livro é “The Second Curve: Thoughts on Reinventing Society”.
Imagem pexels-fauxels-3184302-1.jpg
—–
A Espiritualidade nas Empresas trata-se de uma Filosofia cujos Princípios podem ajudar tanto as Pessoas como as Organizações.