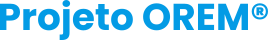Trechos do livro “Virtue In Business”, autor Edwin M. Hartman, para o nosso conhecimento e entendimento sobre as Organizações Baseadas na Espiritualidade (OBE) e a Espiritualidade no Ambiente de Trabalho (EAT).
Tradução livre Projeto OREM® (PO)
Virtude nos Negócios
Negócios, Criação de Valor e Sociedade
A abordagem da virtude à ética nos negócios é um tópico de importância crescente no mundo dos negócios. Concentrando-se na teoria de Aristóteles de que as virtudes do caráter e não as ações, são fundamentais para a ética, Edwin M. Hartman apresenta aos leitores desse livro o valor de aplicar a abordagem das virtudes de Aristóteles aos negócios.
Usando numerosos exemplos do mundo real, ele argumenta que os líderes empresariais têm boas razões para levar a sério o caráter ao explicar e avaliar os indivíduos nas organizações. Ele demonstra como a abordagem da virtude pode aprofundar o nosso entendimento da ética nos negócios e como pode contribuir para discussões contemporâneas sobre caráter, racionalidade, cultura corporativa, educação ética e ética global.
Escrito por um dos principais estudiosos Aristotélicos que trabalham atualmente na área, essa introdução oficial para o papel da ética da virtude nos negócios é um texto valioso para estudantes de pós-graduação e pesquisadores acadêmicos em ética nos negócios, ética aplicada e filosofia.
Edwin M. Hartman foi Professor Visitante de Ética Nos Negócios e codiretor do Seminário Paduano de Ética Nos Negócios na Stern School of Business da Universidade de Nova York até a sua aposentadoria em dezembro de 2009.
Antes de ingressar na Stern, ele lecionou por mais de vinte anos na escola de negócios e no departamento de filosofia da Rutgers University, onde ele foi diretor fundador do Prudential Business Ethics Center da Rutgers. Ele também é o autor de Substance, Body, and Soul: Aristotelian Investigations, de Conceptual Foundations of Organization Theory e de Organizational Ethics and the Good Life (nomeado Livro do Ano [2003] pela Divisão de Questões Sociais em Gestão da Academia de Administração).
Um resumo do argumento – Capítulo 1:
Aristóteles enfatiza corretamente as virtudes do caráter ao explicar e justificar o comportamento. Uma pessoa de bom caráter é racional e sociável e possui consistentemente emoções apropriadas e a capacidade de reconhecer detalhes cruciais. Os princípios, especialmente os princípios utilitários que fundamentam grande parte da economia e da teoria da gestão, são de ajuda limitada na tomada de decisões éticas. O que é necessário é a sabedoria prática, que não pode ser reduzida a nenhum princípio.
Capítulo 1
Virtudes e princípios
Princípios e os seus problemas
Os filósofos morais há muito têm sustentado que a ética trata de princípios que um agente pode aplicar em situações de escolha para encontrar a ação certa a realizar.
Um utilitarista, por exemplo, defenderá que se deve agir para maximizar a felicidade.
Um filósofo moral preocupado com a justiça poderia argumentar que nós devemos agir de forma imparcial, ou em apoio de um certo tipo de igualdade na distribuição de bens ou oportunidades.
Um libertário argumentará que a regra primordial é que nós devemos respeitar os direitos das pessoas, não interferindo nas suas ações autônomas, desde que essas não prejudiquem os outros.
Um utilitarista discreto poderia argumentar que nós deveríamos agir com base em certos princípios de justiça e de direitos, porque fazê-lo maximizará a felicidade a longo prazo, ao passo que focar na maximização da felicidade ao considerar cada ato que nós realizamos irá frustrar o propósito do utilitarismo.
Um kantiano exigirá que nós atuemos com base em princípios cuja aplicação universal nós somos capazes de apoiar.
Os princípios parecem ter um desempenho melhor do que as virtudes ao nos dizer como agir, como nós podemos pensar que a ética deveria ser capaz de fazer.(1) Se você me disser para ser generoso ou corajoso e agir de acordo, eu posso me perguntar exatamente o que eu devo fazer e se é possível para mim simplesmente decidir ser corajoso ou benevolente, se ainda eu não o sou.(2) Eu posso pensar que seria melhor ser servido por um conselho para seguir algum princípio moral: não minta; trate as pessoas da mesma forma, a menos que haja boas razões para tratá-las de forma diferente; melhore a situação das pessoas.
(1)Isso não é evidente, entretanto. Annas (2011, pp. 32–34) argumenta que a ética não deve dizer aos adultos o que fazer em detalhes. Eles deveriam resolver isso sozinhos.
(2)Essas duas questões são os tópicos dos Capítulos 2 e 4.
Mas existem alguns problemas com a noção de que a moralidade tem a ver com princípios. Para começar, os defensores dos princípios pressupõem muitas vezes com demasiada facilidade que o mundo se apresenta a nós de formas que acomodam prontamente as teorias padrão. Por exemplo, os kantianos parecem assumir que nós somos capazes de identificar facilmente a máxima de uma determinada ação, o princípio em que ela se baseia, entretanto, muitas vezes nós não conseguimos.
Em situações de importância (relevância) ética, há tantas descrições e, portanto, princípios possíveis que se aplicam a um caso particular, que pode ser difícil determinar qual deles merece ser chamado de máxima. Se eu mentir para a polícia secreta para salvar um amigo, eu estou agindo de acordo com a máxima de que mentir pode ser universalizado, ou que mentir para a polícia secreta para salvar um amigo pode ser universalizado?
Na verdade, o próprio Kant (1981, p. 3) diz que nós necessitamos ‘um poder de julgamento aguçado pela experiência’ para conectar as máximas ao caso particular (Kupperman, 2005, p. 204).
Os utilitaristas estão numa situação semelhante: eles muitas vezes assumem que nós sabemos quais das provavelmente numerosas consequências de um ato são importantes para a sua qualidade moral e quanto e quais não.
Koehn (1995, p. 534) observa que as teorias morais padrão menosprezam o contexto de um ato, em parte porque se concentram apenas em alguns dos seus resultados e outras características.(3)
(3)Para mais informações nesse sentido, ver Kupperman (1991, especialmente pp. 74-89 e 115) e Sen e Williams (1982).
Os críticos levantam a questão da incomensurabilidade contra os utilitaristas, especialmente os economistas, que normalmente pressupõem que os bens podem ser facilmente comparados numa escala comum e que, portanto, calcular benefícios e danos não apresenta problemas sérios. Se a moralidade fosse como a rentabilidade, a avaliação moral não seria, em princípio, mais difícil do que calcular até que ponto as realizações dos vários funcionários contribuem para a riqueza dos acionistas – o que em si não é uma tarefa fácil.
Nós podemos então ser capazes de ‘provar’ que as vidas das pessoas ricas valem mais do que as das pessoas pobres porque as pessoas ricas pagam regularmente mais do que as pessoas pobres em segurança para reduzir a probabilidade da sua morte em acidentes de automóvel e noutros locais; portanto, nós temos que presumir que as próprias pessoas pobres consideram que as suas próprias vidas têm menos valor do que as dos proprietários de Volvos, ao invés de carros compactos.
Nós temos motivos para abandonar os princípios utilitários em casos que maximizam a felicidade, no entanto, que violam a justiça e os direitos. Entretanto, se nós concordarmos que a justiça exige que nós tratemos os casos de forma semelhante, se forem semelhantes em aspectos relevantes, como nós decidiremos quais são os aspectos relevantes?
Nós não fazemos julgamentos morais sólidos começando com uma certa noção de justiça ou qualquer outro padrão e depois aplicando-os aos negócios, à política ou a qualquer área da vida, pois a noção de justiça tem pouco conteúdo substantivo se isso não tiver ligação com qualquer uma dessas áreas.
Suponhamos que nós digamos, de forma plausível, que é injusto tratar melhor ou pior as pessoas de acordo com características pessoais que elas não são capazes de deixar de ter.
Então nós teríamos que concordar que as pessoas talentosas não deveriam receber mais do que as sem talento. Mas a maioria de nós acredita que é justo pagar aos empregados de acordo com o que eles contribuem para os resultados financeiros e, portanto, rejeitará uma concepção de justiça que regule o contrário, talvez por motivos utilitários. Por outro lado, aqueles cujo talento lhes permite contribuir mais para a economia certamente não merecem mais votos. Nós não somos capazes de resolver essas questões invocando um princípio de justiça anterior e amplamente aceitável.
A dificuldade de usar princípios é evidente para todos que iniciam um curso de ética nos negócios falando sobre diversas teorias éticas que devem ser aplicadas a situações reais ou possíveis. A justiça tem alguma relação com a distribuição de rendimentos?(4) Como nós decidimos quais os direitos dos trabalhadores? Como é que nós – pessoas que estão tentando fazer a coisa certa e não apenas filosofando – escolhemos entre os princípios disponíveis?
Nós deveríamos tentar encontrar princípios que governem a aplicação desses princípios? Então, adicionais princípios para aplicar àqueles e assim até o infinito?
Deixando de lado as questões de aplicação, nós não somos capazes de ter certeza de que seja possível um consenso sobre princípios morais. As intuições diferem e parece haver poucas perspectivas de acordo entre utilitaristas como Peter Singer e libertários nos moldes de Robert Nozick. Quanto mais fácil for chegar a um consenso sobre um princípio, mais vago e menos útil será o princípio.
Um defensor de princípios poderia argumentar que nós temos alguns princípios básicos e prontos que nós somos capazes de usar para todos os fins práticos. Mas nós? Existem poucas questões éticas interessantes o suficiente para merecer discussão em uma empresa ou aula de ética nos negócios que são capazes de serem resolvidas pela aplicação de um princípio básico e pronto.
Às vezes nós somos capazes de fazer o que Sócrates fez: nós somos capazes de mostrar que algum argumento moral apresentado sofre de premissas incoerentes ou de consequências contra intuitivas ou aterradoras.(5) O que nós não somos capazes de fazer é aplicar um princípio que tanto ganhará aceitação universal como resolverá um argumento sobre se, por exemplo, fazer um pagamento substancial de facilitação (suborno).(6)
(4)Matson (2001) argumenta que a justiça tem a ver com ganhar e possuir e não com igualdade. Ele rejeita a tentativa de Rawls (1971) de dividir a diferença.
(5)No Capítulo 4 nós introduzimos a dialética, a versão mais elaborada de Aristóteles do método de Sócrates. Nós revisitamos Sócrates no Capítulo 6.
Uma comparação com a gestão
Essas dificuldades não devem surpreender nenhum gestor. A relação entre os princípios éticos e a realidade complexa assemelha-se à relação entre as teorias de gestão e a eficácia prática.(7) O trabalho teórico sobre a amplitude de controle, por exemplo, é inquestionavelmente valioso. Entretanto, mesmo que um recém-formado Master of Business Administration (MBA) convença Smith, um gestor experiente, de que uma pesquisa competente sobre a amplitude de controle mostra que Jones deveria ser capaz de lidar com mais subordinados, Smith poderia lembrar ao MBA que Jones, em alguns aspectos relevantes, não é um gestor muito bom, ou que os subordinados têm funções extraordinariamente diversas ou estão fisicamente separados por uma distância significativa, ou algo do tipo não abordado na literatura. Os MBAs que ainda não descobriram a aplicabilidade limitada do que aprenderam na escola de administração podem ficar surpresos ao descobrir com que precisão um gestor experiente, sem nenhum conhecimento discernível da teoria, pode prever se outro gestor terá sucesso. MBAs com experiência em negócios entenderão algumas das dificuldades de aplicação das melhores teorias, ao mesmo tempo que eles reconhecem o valor delas.
Os eticistas da virtude não pretendem fazer com que a ética seja muito precisa. Pelo contrário, Aristóteles diz que a ética não é como a geometria. É mais como uma medicina (pelo menos a medicina da época de Aristóteles) ou uma comédia, diz ele (NE IV 8 1028a23-34); e eu acrescentaria gestão ou avaliação de desempenho. Existem regras, entretanto, elas não são tão definidas como as da geometria (NE I 7 1098a29–34) e são mais difíceis de aplicar ao mundo real.
Você tem que desenvolver um sentimento para isso. No entanto, isso não implica relativismo: o fato de a gestão ser diferente da geometria não significa claramente que não existam respostas certas ou erradas para questões sobre gestão. Nem mostra que não existem princípios de gestão úteis, nem bons ou maus gestores.(8) E o mesmo acontece com a ética.
(6)O famoso relato de Kohlberg (1981) sobre o desenvolvimento moral considera os princípios universais como o estágio mais elevado da moralidade. Ele não considera argumentos contra princípios.
(7)Indiscutivelmente, as teorias de gestão são mais fáceis de aplicar do que os princípios éticos porque muitos desses últimos não têm declarações claras de propósito por trás deles.
(8)No entanto, Pfeffer (1982) e Rosenzweig (2007) estão entre os teóricos da gestão que acreditam que os acontecimentos e os estados externos determinam mais o destino de uma empresa do que a boa ou a má gestão.
Os eticistas da virtude de fato afirmam que falar sobre virtudes é mais útil do que falar sobre ações corretas. Suponha que eu seja um executivo sênior procurando um substituto para Smith, que tem acabado de deixar a empresa. Eu solicito a sua opinião sobre Jones como um sucessor. Se você disser que Jones é um mau administrador, provavelmente eu pedirei mais informações. Ele é ruim (tem mau desempenho) em pensamento estratégico? Incapaz de motivar o seu pessoal? Preguiçoso? Não é tecnicamente competente?
Se você responde a perguntas como essa dizendo que ele não agrega valor, você não estará me ajudando. Da mesma forma, se eu lhe perguntar se Jones é uma boa pessoa, você não me satisfará dizendo que ele geralmente faz a coisa certa, ou mesmo que ele geralmente faz a coisa produtiva, ou que ele discrimina apenas com base em atributos relevantes. Você será muito mais útil se você me disser que ele é gentil, porém exigente, corajoso, paciente, porém não muito paciente, com a cabeça no lugar, porém não sem coração e honesto.
Nós poderíamos objetar que as virtudes não são observáveis, mas Dyck e Kleysen (2001) argumentam de forma convincente que certas virtudes o são e que nos permitem classificar de forma útil as capacidades e o comportamento dos gestores. Horvath (1995) defende uma posição semelhante. Nós devemos ter cuidado para não levar a questão longe demais. Muitas vezes eu sou capaz de saber por observação que Jones está zangado, mas Jones às vezes consegue esconder a sua raiva. Porém não sempre; e, em qualquer caso, é um erro restringir o campo das observáveis àquelas coisas e acontecimentos que podem ser facilmente observados sem inferência ou conhecimento do contexto.
Alguns acharão mais credível falar sobre as virtudes de Jones, ao invés de falar sobre o fato de ter feito a coisa certa. Eu posso ser um tanto cético em relação à moralidade; portanto, se você me disser que Jones é uma pessoa moral, eu posso me perguntar se você e eu temos os mesmos padrões morais ou se há algum que esteja suficientemente fundamentado para guiar a todos nós. No entanto, você é capaz de fornecer evidências reais de que quando Jones fala o que ele pensa, ele é motivado pela coragem e não pela propensão a fazer barulho.
A ética da virtude usa termos normativos em explicações factuais; Eu não vejo nenhum problema nisso. Stalin matou um grande número de pessoas porque ele era mau. Isso não é mais problemático do que dizer que alguém cometeu um erro flagrante porque é estúpido ou sofre de transtorno de déficit de atenção.
A tendência da situação atual
A maior parte do que eu tenho dito até agora não é muito original, pois nos últimos anos as virtudes têm voltado a ocupar o primeiro plano na filosofia moral e também na ética nos negócios. MacIntyre (1985) é talvez o mais conhecido dos eticistas da virtude entre os especialistas em ética nos negócios. Anscombe (1997) e Foot (1997) foram pioneiros. Williams (1981, 1985), Slote (1983, 1992, 2001), Kupperman (1991, 2005), Annas (2011), McDowell (1997), Hursthouse (1999) e Russell (2009) também têm sido influentes.
Solomon (1992), Koehn (1992, 1995, 1998), Weaver (2006), Klein (1995, 1998), Alzola (2008, 2012), Jackson (2012), Sison (2003, 2008), Shaw (1995), Walton (2001) e Moore (2002, 2005a, 2005b, 2008, 2009, 2012) enfatizam as virtudes e o caráter na ética nos negócios, assim como alguns outros mencionados na bibliografia. Audi (1997, 2012) foi influente na teoria da virtude antes de começar a aplicar as suas lições à ética nos negócios. Há muito que existem professores em universidades Católicas (DesJardins, Duska, Moberg e Cavanagh, por exemplo) que se dedicam à ética da virtude, em parte graças à tradição de Tomás de Aquino.
Esses eticistas da virtude, muitas vezes seguindo a Ética a Nicômaco de Aristóteles, argumentam que a ética trata principalmente do caráter, bom ou mau e das virtudes que o constituem. O que mais importa e deveria ser o tema principal da deliberação moral e da educação, é que tipo de pessoa alguém é. Os éticos das virtudes acreditam caracteristicamente que a ação correta é definida por referência às virtudes, não vice-versa e não por referência a princípios.
O que é uma virtude
Uma virtude é, para começar, uma disposição estável para agir. Uma disposição, no sentido que eu tenho em mente, não é apenas uma tendência de fazer alguma coisa sob determinadas circunstâncias. Uma virtude não é como fragilidade. Uma pessoa virtuosa caracteristicamente prefere agir e geralmente de fato age de uma forma que é, em alguns aspectos, boa para os outros ou para a pessoa virtuosa.
A pessoa virtuosa gosta de agir virtuosamente e quer ser o tipo de pessoa que gosta de agir virtuosamente. Portanto, você é uma pessoa generosa se e somente se agir generosamente. Se você dá dinheiro a pessoas necessitadas de forma esporádica ou relutante, ou porque está tentando impressionar alguém ou porque se sente culpado, você não está agindo com generosidade. A generosidade e outras virtudes são capazes de explicar o comportamento e justificá-lo: as virtudes causam atos virtuosos e esses atos são bons porque são virtuosos. A virtude exige que você saiba o que está fazendo; a decisão tem que ser sua e tem que ser em prol da ação em si;(9) e você tem que decidir o que fazer com base em um estado psicológico que seja firme e imutável (NE II 4 1105a29–33).
(9)Essa característica levanta questões complexas que nós devemos discutir em vários contextos.
As virtudes e os vícios são semelhantes aos traços de personalidade, no entanto, com significado ético: uma virtude é caracteristicamente parte da boa vida de um agente que é membro contribuinte de uma boa comunidade. Alguém que tem o traço de personalidade levemente compulsivo provavelmente também é ordeiro, confiável, pontual, íntegro e detalhista. Esses [traços] são virtudes, a maioria deles; entretanto, em excesso alguns deles são vícios, assim como os seus defeitos correspondentes e as virtudes são um meio-termo entre eles (NE II 6–8). A coragem é uma virtude; imprudência e covardia são vícios. A indiferença ao sofrimento dos outros é um vício; a indiferença ao resultado da Copa do Mundo, não. Aristóteles considera a inteligência uma virtude, que ele classifica como uma virtude intelectual, mas é uma condição necessária para agir de forma consistente e correta em qualquer sentido.
Aristóteles não distingue virtudes de vícios numa base puramente utilitária, embora bons resultados resultem caracteristicamente de ações virtuosas. Uma virtude – arête também pode ser traduzida como excelência – faz parte da realização da natureza de uma coisa. É da natureza do ser humano ser sociável e racional. Isso significa que eles naturalmente, embora não de forma confiável, aspiram e devem e às vezes são capazes de viver de uma forma que cumpra o propósito da vida humana. Isso, por sua vez, implica ter os objetivos certos, incluindo a própria saúde psicológica e física e a saúde da comunidade.
Uma das razões para nos concentrarmos nas pessoas virtuosas e na forma como as suas virtudes as fazem pensar e agir, mais do que no seu comportamento manifesto, é que se é capaz de realizar um ato que, considerado puramente em si mesmo, pareceria ser moralmente bom, no entanto, isso é causado por um vício e, portanto, não é uma boa ação. Assim, por exemplo, eu posso fazer horas extraordinárias sem remuneração adicional e, assim, beneficiar a minha organização, entretanto, com a intenção de ganhar a confiança do meu supervisor, em caso de necessitar enganar ele/ela mais tarde. Nesse caso, eu não estou agindo por virtude. Pode-se seguir as regras e fazer a coisa certa por esperança de ganho ou por ignorância ou por medo de punição ou por alguma outra razão não relacionada à virtude; essa é outra razão para dizer que ter uma virtude não é uma questão de cumprir as regras.
O meio-termo e o contexto
Uma virtude é um meio-termo entre vícios extremos, diz Aristóteles. Assim, por exemplo, a coragem está no meio-termo entre os vícios extremos da covardia e da imprudência. Aristóteles deduz disso que a pessoa corajosa se opõe firmemente ou teme as coisas certas para o propósito certo, da maneira certa e no momento certo (NE III 7 1115b17-19). As suas emoções fazem parte do seu caráter, para o bem ou para o mal. Elas também não devem ser excessivas nem deficientes. Ou seja, elas têm que acontecer no momento certo, tratar das coisas certas, relacionar-se com as pessoas certas e focar-se no fim certo e da maneira certa (II 6 1106b16–22). Você é um exaltado se as pequenas coisas o irritam, no entanto, fleumático se as grandes coisas não o irritam (IV 5 1125b26–1126a8). Eu deduzo o seguinte: nós não temos boas razões para dizer que Jones é justo se nós reconhecermos que ele não tem nenhuma reação emocional a qualquer ato de injustiça da sua parte ou de qualquer outra parte.
A vida seria mais simples se nós pudéssemos agir com confiança de acordo com princípios sem rodeios, como ‘sempre fugir do perigo’ ou ‘nunca fugir do perigo.’ Entretanto, ambos esses princípios e muitos outros semelhantes estão simplesmente errados. A coragem exige que peguemos em armas contra o perigo em alguns contextos, entretanto não em outros e nós temos a difícil tarefa de descobrir quando é apropriado fazê-lo. O mesmo acontece com a maioria das virtudes e dos vícios.(10) A reação daqueles que aprendem pela primeira vez sobre a doutrina do meio-termo é muitas vezes a de que ela é muito vaga para guiar a nossa ação com qualquer precisão.
(10)Contudo, existem alguns princípios absolutos: a inveja e o assassinato, por exemplo, são simplesmente errados (NE II 6 1107a10–14).
Talvez seja apenas esse o ponto de vista de Aristóteles: se um princípio orienta a ação de forma precisa e absoluta, ele é provavelmente um mau princípio, quer represente ou não um extremo.
A partir disso nós vemos que o contexto é importante para a virtude, como argumenta Koehn (1995, p. 536). Portanto, nós temos motivos para chamar virtudes de conceitos densos, no sentido de Geertz (1983): elas são conceitos que nós só somos capazes de entender vendo como estão incorporados nas práticas de uma comunidade, que constituem uma rede complexa de conceitos, pressupostos e valores. Nem sempre será fácil descobrir qual é a coisa virtuosa a fazer; difere de caso a caso. Os contextos de guerra e de negócios, por exemplo, mudam a aparência da virtude. O que um soldado ou executivo virtuoso faz com base nas obrigações inerentes ao cargo pode não ser adequado para você ou para mim. Você e eu normalmente não temos o direito de matar ou o empoderamento de atirar.
Se eu for empregado de uma organização, eu tenho que desempenhar uma ou mais funções nela. Essas funções criam obrigações para mim, tanto éticas quanto legais: se eu estou sob contrato, eu devo atuar de acordo, a menos que haja alguma razão ética imperiosa para não fazê-lo. Um dos problemas fundamentais da ética nos negócios é que eu posso ter a obrigação baseada na função de fazer algo que, na ausência da função, consideraria moralmente repugnante.
Por exemplo, eu posso estar sob pressão para demitir o meu amigo Jones, que realmente necessita do emprego, mesmo que eu acredite que ele não mereça ser demitido. Ao decidir o que fazer, eu tenho que levar muitos fatores em consideração – incluindo, por exemplo, se o meu amigo recebeu o devido processo, se eu sou capaz de mudar a opinião do meu chefe, se a demissão seria ilegal, se a empresa como um todo merece prosperar e assim por diante.
Nós sabemos que não é suficiente compreender um dos extremos: não é suficiente cumprir as ordens do meu chefe sem hesitação e sem questionar, ou, por outro lado, ignorar completamente o meu chefe e agir sempre puramente de acordo com o meu próprio julgamento. Nós também sabemos que nós temos que fazer as coisas certas, para o propósito certo, da maneira certa, na hora certa. Todos esses parâmetros nós temos que levar em consideração, como na maioria dos casos em que as nossas obrigações éticas parecem entrar em conflito.(11)
(11)Para muito mais sobre papéis e obrigações, ver Alzola (2008).
Às vezes, o contexto nos permite não apenas avaliar um ato, mas também identificá-lo. Aristóteles diz em Metaphysics VIII 2 que algumas coisas são o que são em virtude de seu lugar (por exemplo, um soleira da porta em vez de um lintel) ou de seu tempo (por exemplo, café da manhã ao invés do almoço). Portanto, nesse sentido, o contexto faz com que algo seja o que é; é como forma para a matéria da coisa. Da mesma forma, nós somos capazes de inferir que um de dois casos psicologicamente idênticos de raiva pode ser petulância e o outro indignação, dependendo de ser dirigida às coisas certas, da maneira certa, no momento certo, em prol do propósito certo.
O contexto corporativo de um ato pode não apenas alterar os parâmetros morais de um ato, mas também fazer com que ele seja o ato que ele é. Eu poderia dizer ‘Smith deixou algumas manchas de tinta em um pedaço de papel’, quando o papel era um contrato e as manchas de tinta eram a assinatura dela e Smith era a diretora executiva (CEO) da empresa em cujo nome ela fez um acordo ou cometeu um crime. A minha declaração seria inadequada e enganosa. O mesmo se aplica a outras ações realizadas no cumprimento do dever corporativo. ‘Eu estava apenas cumprindo ordens’ não é uma afirmação honesta e nem uma desculpa. Se você está desempenhando um determinado tipo de papel o que parece ser a sua ação individual, pode, na verdade, ser uma ação de uma comunidade ou de uma corporação, mas o cenário não o isenta de toda responsabilidade pessoal.
Princípios: o exemplo da generosidade
A maioria dos eticistas da virtude, incluindo Aristóteles, aceita princípios. Uma pessoa generosa age de acordo com princípios derivados da natureza da generosidade; assim, Hursthouse (1999) argumenta sobre o que ela chama de regras-v.(12) Assim, Aristóteles diz (NE I 4 1120a25f.) que uma pessoa generosa dá alegremente de forma adequada às pessoas certas, nas quantidades certas.
Mas é claro que mesmo o mais generoso dos amigos não consegue encontrar princípios que indiquem exatamente o quão necessitado Jones deve ser ou quanto dinheiro se deve emprestar-lhe, ou quaisquer algoritmos que mostrem como priorizar princípios concorrentes relacionados, por exemplo, com a justiça. .
Uma pessoa virtuosa, de bom caráter, será benevolente e justa e agirá de acordo com princípios baseados nessas virtudes, sem acreditar que os princípios oferecem orientação precisa. Os eticistas da virtude não ignoram considerações de utilidade ou justiça, por exemplo; pelo contrário, esses podem ser importantes para as deliberações de uma pessoa virtuosa. Ao dar dinheiro a uma pessoa necessitada, uma pessoa generosa leva em conta que Jones merece o presente ou que esse o beneficiará.(13)
(12)Como observa Audi (2012), os deveres prima facie nomeados pelo grande intuicionista e estudioso Aristotélico W. D. Ross (1930) parecem ser do tipo gerado por algumas virtudes familiares.
(13)No Capítulo 3 eu devo argumentar que a ética da virtude Aristotélica não só leva a utilidade a sério, mas oferece uma análise superior da mesma.
Uma pessoa pouco generosa não ignora necessariamente os princípios pertinentes à generosidade. Você pode conhecer alguns desses princípios, porém ser mesquinho de qualquer maneira. O mero conhecimento dos princípios não faz de ninguém uma boa pessoa. Só por essa razão, ter as virtudes que constituem um bom caráter, que são de fato suficientes para a ação ética, não é redutível ao conhecimento de princípios. Você não deve apenas saber o que a virtude exige em certas situações, mas também estar inclinado a agir virtuosamente. E se você estiver inclinado a agir virtuosamente, normalmente irá gostar quando o fizer. Jones se beneficiará com o seu ato generoso, no entanto, esse ato será bom em si próprio para você.
Os pais dizem aos filhos para não mentirem, assim como os empregadores dizem aos novos empregados para não se atrasarem para o trabalho. Além disso, porém, muitos pais criam os filhos para serem honestos – isto é, para estarem inclinados a não mentirem, para sentirem alguma repugnância quando mentem, mesmo em circunstâncias que o justificam. Nesse caso, um princípio que proíba a mentira não responderá a considerações utilitaristas. Os empregadores, da mesma forma, querem que os funcionários trabalhem bem por lealdade genuína. Pois as virtudes envolvem não apenas disposições, mas também atitudes.
Considere a gratidão: quando você me dá um presente generoso, eu não deveria apenas agradecer, mas também ficar grato. Os eticistas que se baseiam apenas em princípios terão dificuldade em dizer por que é que alguém tem a obrigação de ser grato ou de se preocupar com o sucesso do seu empregador. Aqueles que acreditam que se têm a obrigação de ser grato têm que defender a visão de que se é moralmente responsável pelos seus sentimentos, que não parecem ser voluntários. Aristóteles sabe que você não pode se sentir grato em uma ocasião específica, entretanto, ele acredita que, com o tempo, você é capaz de vir a ser o tipo de pessoa que fica grato em ocasiões apropriadas. (Ver NE I 3 1095a2–13 e II 1–3.)(14) Se ele estiver certo, não é absurdo tentar ajudar a fazer com que alguém – um estudante, por exemplo – seja um certo tipo de pessoa.(15)
Mesmo que uma pessoa ética seja alguém que age de acordo com certos princípios, não se segue que a melhor maneira de ensinar Smith a ser ético seja dar-lhe princípios a seguir. Por analogia, mesmo que nós sejamos capazes de mostrar que ela é uma excelente funcionária ao declarar os seus números de vendas, um profissional de treinamento se concentrará em seus conhecimentos, habilidades e atitude como forma de melhorar os seus números de vendas. O análogo na ética é melhorar o caráter de Smith como forma de fazê-la agir de acordo com princípios morais apropriados.(16)
(14)Nós discutiremos o cultivo de virtudes, incluindo emoções, no Capítulo 4.
(15) Bazerman e Tenbrunsel (2011, p. 27f.) tomam nota da pesquisa que mostra que estudar ou mesmo ensinar ética não faz com que as pessoas sejam mais éticas. Eu argumentarei, especialmente no Capítulo 6, que ensinar a ética da virtude pode de fato ajudar nesse sentido.
(16)Observe que a analogia sugere que meros incentivos financeiros não são a melhor maneira de fazer com que alguém seja um bom vendedor, muito menos uma boa pessoa. Há evidências para essa afirmação, como nós veremos no Capítulo 3.
Aristóteles acredita que vir a ser uma boa pessoa é natural para nós, embora não seja fácil. Na visão de Aristóteles, agir virtuosamente é uma questão de agir de acordo com a natureza humana. Os seres humanos são caracteristicamente racionais e sociáveis e a sua excelência ou virtude implica uma disposição firme para agir em conformidade. Agir dessa forma, independentemente dos resultados, é intrinsecamente bom para o agente. Dizer o que Aristóteles quer dizer com isso e o que isso implica será a tarefa principal do restante desse livro, entretanto, alguns pontos introdutórios serão úteis.
Sociabilidade, racionalidade e emoções: uma palavra introdutória
Sociabilidade
De acordo com a tradução padrão da palavra grega politikon, Aristóteles diz que o ser humano é um animal político. A minha tradução de politikon é sociável. Num sentido fraco do termo, as abelhas nas colmeias são sociáveis porque trabalham cooperativamente para um propósito comum.(17)
(17)Nesse parágrafo, eu estou em dívida com Miller (1995, pp. 31-6), embora ele não traduza politikon como eu o faço.
As pessoas num agregado familiar são mais sociáveis do que as abelhas porque, sendo humanas, elas são capazes de escolher e prosseguir os objetivos delas de forma racional e coordenar a sua atividade na medida em que os objetivos o exigem. As pessoas também respondem racionalmente a considerações éticas; elas são capazes de virem a ser virtuosas, no entanto, apenas numa polis, que é o principal professor e guardião ético delas.
[Obs. PO: A polis (πόλις) — plural: poleis (πόλεις) — era o modelo das antigas cidades Gregas, desde o final do período Homérico, período Arcaico até o período Clássico, vindo a perder importância a partir do domínio Romano. Devido às suas características, o termo pode ser usado como sinônimo de cidade-Estado. As poleis, definindo um modo de vida urbano que seria a base da civilização Ocidental, mostraram-se um elemento fundamental na constituição da cultura Grega, a ponto de se dizer que o homem é um “animal político”. Essa comunidade organizada, é formada pelos cidadãos (no Grego “πολίτικοι”, “polítikoi”), isso é, pelos homens nascidos no solo da Cidade, livres e iguais e também tinham o seu próprio governo. Fonte: Wikipedia]
Pois os humanos não são autossuficientes fora de uma polis e uma vida humana fora da polis não pode ser uma vida boa (NE I 7 1097b8–13, 8 1099a31–b6, VI 9 1142a9f.). Portanto, nós não temos apenas uma capacidade inata de participar na vida política (Politica [doravante Pol] I 2 1253a7–18), mas também um desejo de fazê-lo (29f. e III 6 1278b15–30). Não é surpreendente que Aristóteles sustente que a teoria política é contínua com a ética (NE I 2, X 9).
Aristóteles diz que a polis é anterior ao indivíduo (Pol I 3 1253a18–29). Isso parece significar que uma pessoa que não faz parte de uma polis é incompleta, tal como um pé amputado: nenhum dos dois é capaz de cumprir a sua função essencial independentemente do todo em que desempenha essa função. Isolada de qualquer comunidade, uma pessoa não é totalmente humana.
No entanto, Aristóteles não defende qualquer tipo de coletivismo radical. A sua polis é suficientemente pequena para que qualquer cidadão possa realisticamente esperar participar na política. Se você é um cidadão, você é capaz de ver e assumir a responsabilidade pelas consequências de suas próprias ações; você é capaz de ver como as decisões dos outros afetam você; você é capaz de ver a importância da cooperação e do compromisso na busca de objetivos comuns.
Ele de fato atribui à polis algumas funções, especialmente no que diz respeito à ética, que excedem o que a maioria de nós hoje se sentiria confortável em atribuir a qualquer entidade política. Em III 9 1280b6-8, por exemplo, ele diz que uma verdadeira polis tem que ser epimeles – atenta ou responsável pela – virtude. Não é uma mera aliança para proteção mútua (8f.). As instituições sociais, partes da polis, tratam da amizade. O propósito da polis é viver bem (33–40) – isso é, a boa vida para cada pessoa na polis.
Um agregado familiar suporta um senso de sociabilidade mais fraco do que uma polis. Os pais podem preparar uma criança para o mundo real fora da família, entretanto, não se é capaz de aprender a virtude sem ter experiência nesse mundo real e, em particular, através da participação numa polis que crie justiça para todos os cidadãos (NE II 1–3, X 9). No entanto, uma razão pela qual nós somos sociáveis, tanto como membros da família e como cidadãos, é que nós somos criaturas dependentes. As crianças não são capazes de sobreviver sem os pais; as pessoas não são capazes de serem adultos plenamente funcionais sem a polis.
Nós também somos sociáveis no sentido de que nós somos capazes de amizade (NE VIII e X). Os amigos são capazes de nos divertir ou podem ser úteis. Entretanto, a amizade no sentido mais forte é uma relação entre duas pessoas virtuosas, uma vez que elas desejam o que é verdadeiramente bom para o outro e para si próprios. Tal como acontece com a virtude em geral, esse tipo de amizade é natural e boa em si porque é uma conquista culminante em nossas vidas, embora nem todos a consigam.
Num outro aspecto importante, Aristóteles considera os humanos sociáveis. Em sua discussão sobre justiça em troca, em NE V 5, ele fala da troca como uma forma de manter a comunidade unida, pois pessoas que não necessitam umas das outras não trocam (V 5 1132b31–3, 1133a16–18, b6–8). Porque nós somos criaturas dependentes, nós criamos comunidades com mercados.(18)
(18)Entretanto, na Pol I 10, Aristóteles diz que o comércio é explorador. Talvez a questão seja que o mercado é capaz de ser explorador, entretanto, nas circunstâncias certas ele é justo. Para mais informações sobre as opiniões de Aristóteles sobre o intercâmbio, ver Koehn (1992).
Racionalidade
A racionalidade é a outra característica humana definitiva. Ela pode ser teórica ou prática; nós estamos interessados nessa última, naquilo que Aristóteles chama de sabedoria prática. Na explicação de Aristóteles, a racionalidade faz com que eu seja capaz não só de fazer inferências sobre o que fazer com base nos meus desejos, mas também de desejar o tipo de coisa que é certa para um ser humano desejar (NE VI 7 1141b12-14). Uma decisão baseia-se num desejo que, por sua vez, se baseia na deliberação relativa a algum fim.
A pessoa virtuosa visa o que é realmente bom, a pessoa má visa o que apenas parece bom (NE III 3 1113a9–12 e III 4 1113a22–6). Você é moralmente responsável pelo que lhe parece bom: você pode ser responsabilizado com justiça se errar (III 5 1114a31–b3).
Aristóteles não separa totalmente a sociabilidade e a racionalidade como características humanas essenciais. A forma mais elevada de sociabilidade humana implica o exercício da capacidade inata de ser cidadão e amigo no sentido mais amplo de ambos os termos. Isso requer um nível de racionalidade que excede o suficiente para manter uma colmeia ou mesmo uma família humana em funcionamento.
A racionalidade humana natural permite ao agente escolher não apenas meios eficientes para atingir os fins, mas também os melhores fins possíveis, que constituem uma vida boa. E essa boa vida é uma vida sociável como um amigo e um cidadão.
Ainda assim, parece justo dizer que Aristóteles faz da racionalidade a característica dominante da humanidade e da virtude. Nós teremos mais a dizer sobre a racionalidade em vários contextos, pois ela está intimamente relacionada com quase todas as coisas que Aristóteles diz sobre a ética.
Emoções
A afirmação de Aristóteles de que certas emoções apoiam a virtude é sólida. Elster (1998) e Frank (1988) estão entre aqueles que defendem que a emoção apropriada é necessária para apoiar o comportamento moral. Os psicopatas normalmente sabem o que é certo, mas o seu conhecimento não tem suporte emocional – é o que dizem Cleckley (1988) e Hare (1993). Phineas Gage, com danos cerebrais, descrito por Damasio (1994, pp. 3-33), é um exemplo excelente e terrível. Haidt (2001, especialmente p. 824) discute essas obras em um artigo sobre emoção e razão. Walton(19) observa semelhanças entre as visões de Aristóteles e de Damásio. Como outros igualmente prejudicados, Gage era perfeitamente capaz de raciocinar sobre ética, entretanto, era incapaz de qualquer tipo de emoção típica de uma pessoa moral.
[Obs. PO: Phineas Gage (Lebanon, 9 de julho de 1823 – São Francisco, 21 de maio de 1860) foi um operário Americano que, num acidente com explosivos, teve o seu cérebro perfurado por uma barra de metal, sobrevivendo apesar da gravidade do acidente. Após o ocorrido, Phineas, que aparentemente não tinha sequelas, apresentou uma mudança acentuada de comportamento, sendo objeto para estudos de caso muito conhecidos entre neurocientistas. Fonte: Wikipedia]
Essas pessoas às vezes têm dificuldades em tomar decisões, talvez porque o tipo de capacidade emocional que lhes falta é o que faz com que isso seja possível às pessoas normais identificar aspectos salientes de uma situação em que uma decisão pode ser baseada.(20) Nós somos capazes de inferir que é um erro acreditar que pessoas emocionais não são racionais. Ser totalmente sem emoção equivale a simplesmente não se importar e não há nada de racional nisso. Blasi (1999) argumenta que as emoções parecem basear-se em preocupações preexistentes, tipicamente morais e, portanto, são efeitos e não causas de preocupações e ações morais. E como as emoções surgem involuntariamente, elas não podem ser causas de ações intencionais, que têm que ser o resultado de razões morais conscientes para que elas sejam moralmente aceitáveis. Como nós veremos, Aristóteles tem uma visão um pouco diferente.
(19)Walton, C. 1997. “Cérebro, Sentimento e Sociedade: Damasio e Aristóteles em Neurobiologia e Psicologia Moral”. Publicado e distribuído pelo autor.
(20)Klein (1998) encontra precisamente esse ponto em DeSousa (1987). Eu terei mais a dizer sobre aspectos importantes no Capítulo 2.
Virtudes como causas
Ao dizer que a ética da virtude diz respeito ao tipo de pessoa que alguém é e não ao que se faz, nós não devemos esquecer que os dois estão intimamente relacionados, pois nós inferimos virtudes olhando para o comportamento, porque as virtudes causam o comportamento.(21) Como diz Aristóteles em NE I 5 1095b33, uma vida inativa não é virtuosa. Ao pensar sobre a ética, nós temos algumas das razões para nos concentrarmos nas virtudes, bem como na ação, que os cientistas naturais têm por focar nas relações entre entidades teóricas, bem como em acontecimentos observáveis. Na verdade, eu deverei argumentar, as virtudes têm um estatuto semelhante ao dos traços postulados pelos psicólogos para explicar o comportamento. Virtudes e outras características também podem explicar desejos e emoções.(22)
A história causal é um pouco obscura, no entanto. É importante para Aristóteles que as virtudes e os vícios sejam causas do comportamento e não apenas formas de descrever resumidamente como as pessoas se comportam. Mas ele não entende a causalidade como nós: ele não a considera uma relação baseada em leis naturais que possa abranger entidades inobserváveis. Portanto, ele não se preocupa, como nós poderíamos, sobre como acreditar que p se relaciona acreditar que q quando p implica q. Essas não são relações simples, pois os estados e acontecimentos psicológicos são por vezes descritos em termos normativos ou epistémicos. Se p implica q, uma crença para p causa uma crença para q? Em alguns casos, acontece, pois uma pedra caindo na cabeça às vezes causa uma concussão.
As leis que relacionam os dois eventos em cada caso são leis fisiológicas subjacentes, não expressas em termos de crenças ou aprovações. (Ver, por exemplo, Davidson, 2001, Ensaio 1.) As relações lógicas entre estados epistêmicos, como a crença, não garantem que existam relações causais paralelas: alguém pode acreditar em uma proposição, no entanto, não acreditar no que ela implica. A relação causal entre as duas crenças reflete a relação lógica apenas se a pessoa for racional. Assim, uma teoria em que os estados psicológicos, como as crenças, são variáveis, o tipo de teoria que um psicólogo ou um estudioso do comportamento organizacional poderia oferecer, não pode ter o rigor de uma teoria científica padrão.
(21)Aqui eu evito o Behaviorismo, que reduz as virtudes ao comportamento real e possível. A relação é causal, não lógica.
(22)Essa é uma das razões pelas quais a virtude não é uma simples disposição para se comportar de uma determinada maneira.
Um dos alvos de Davidson era a visão, popular quando o seu ensaio apareceu pela primeira vez em 1963, de que a relação entre intenções e ações não era causal, mas lógica, uma vez que é uma verdade necessária que a intenção de fazer A é o tipo de coisa que é por definição normalmente seguida pela ação do agente A. A Intenção de Anscombe (1957) foi um argumento influente nesse sentido. Por mais errada que essa afirmação provavelmente fosse, o relato dela era sutil e ela e Davidson tinham algumas opiniões importantes em comum. Ambos estavam muito sob a influência de Aristóteles.
Aristóteles acredita que a relação entre a crença do agente de que a ação A é a coisa certa a fazer e o desempenho da ação A pelo agente não é invariante (invariável). Como ele explica na sua discussão sobre a fraqueza da vontade, pode-se saber que a ação A é a melhor coisa a fazer, mas não a fazer se faltar racionalidade. Mas Aristóteles sustenta que uma verdadeira virtude sempre causa o comportamento correspondente (e emoção e assim por diante), porque uma pessoa verdadeiramente virtuosa é racional.
Ética nos negócios hoje
Estudiosos de gestão e virtude
A abordagem virtuosa da ética nos negócios está lentamente começando a ganhar aceitação. Uma possível razão para a lentidão é a influência dos estudiosos da teoria organizacional que, por tentarem normalmente identificar princípios de gestão eficaz, também são capazes de ver o objetivo pretendido dos princípios éticos. Muitos teóricos organizacionais querem ser científicos. Eles procuram operacionalizar os seus conceitos e observar e medir tudo o que puderem (ver Ghoshal, 2005).(23) Os eticistas treinados principalmente em teoria organizacional muitas vezes veem a ética como uma subdisciplina desse campo e tendem a assumir que a sua metodologia deveria ser semelhante.(24)
Embora os filósofos morais na ética nos negócios não acreditam que a ética seja científica, eles têm que conversar com os teóricos das organizações, que estão no que é de fato um campo estreitamente aliado. Em qualquer caso, os teóricos organizacionais superam os eticistas nos negócios e são capazes de superá-los em votos nas reuniões departamentais. É difícil defender a aparente imprecisão da ética das virtudes e ainda mais difícil é a visão de que não existe uma métrica única na ética – em particular, que a ética não se baseia na análise de custo-benefício.
A teoria organizacional é influenciada pela economia e pela visão da motivação humana que os economistas oferecem, assim como a ética nos negócios. Na medida em que os economistas são hospitaleiros com a ética, eles tendem a favorecer o utilitarismo e a identificar o bem com a utilidade. Traços psicológicos, atitudes e crenças são eticamente importantes apenas na medida em que levam a bons ou maus resultados.
Os estudiosos do comportamento organizacional, como os psicólogos, levam essas entidades a sério, no entanto, muitas vezes procuram operacionalizá-las; portanto, uma virtude pode ser convertida em nada mais do que uma disposição para agir de uma determinada maneira, ao contrário do que acreditam os eticistas da virtude.(25)
Os teóricos organizacionais, tal como os sociólogos, confiam menos em estados e acontecimentos psicológicos e são por vezes relutantes em apoiá-los. Assim, os eticistas nos negócios que levam as virtudes a sério e, em particular, as consideram como mais do que meras disposições para agir, podem enfrentar colegas céticos.
(23)MacIntyre (1985) argumenta, com base em razões semelhantes às de Ghoshal, que a própria noção de ciência social é concebida de maneira equivocada. Ghoshal teme que a concepção ‘instrumental’ da motivação humana afaste a ética (p. 76).
(24)Certa vez eu ouvi um ilustre teórico da gestão perguntar numa sessão de conferência: ‘Por que vocês, eticistas, não são capazes de operacionalizar os seus conceitos?’
(25 Essa forma de reducionismo não é universal, como observam Hambrick (2005) e Donaldson (2005).
Contudo, nem todos os colegas deles defenderão que as organizações são temas de ciência exata. Weber, Taylor e Barnard não estão mais na moda. Não há consenso hoje de que as organizações sejam máquinas. Tsoukas e Cummings (1997), escrevendo oito anos antes de Ghoshal, vêem uma oposição generalizada aos métodos antigos, em grande parte porque o assunto é demasiado indeterminado para admitir a abordagem científica.(26)
(26)Tsoukas e Cummings discernem ‘temas Aristotélicos’ emergentes nos estudos organizacionais. Muitos dos seus praticantes concordariam com MacIntyre (1985) sobre as pretensões das ciências sociais.
…..Continua Parte II…..
—–
Bibliografia do livro “Virtue In Business”, autor Edwin M. Hartman
Abdolmohammadi, M., and M. F. Reeves. 2003. “Does Group Reasoning Improve Ethical Reasoning?” Business and Society Review, 108, 127–37.
Adler, P., and S. Kwon. 2002. “Social Capital: Prospects for a New Concept.”
Academy of Management Review, 27, 17–40.
Akerlof, G. 1982. “Labor Contracts as Partial Gift Exchange.” Quarterly Journal of Economics, 97, 543–69. – 2007. “The Missing Motivation in Macroeconomics.” Presidential Address. Nashville, TN: American Economic Association.
Allen, W. 2006. “Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation”. In Professional Responsibility, 35–47. NYU Stern, Course Book.
Alzola, M. 2008. “Character and Environment: The Status of Virtues in Organizations.” Journal of Business Ethics, 78, 343–57. – 2011. “The Reconciliation Project: Separation and Integration in Business Ethics Research.” Journal of Business Ethics, 99, 19–36. – 2012. “The Possibility of Virtue.” Business Ethics Quarterly, 22, 377–404.
Annas, J. 2011. Intelligent Virtue. New York: Oxford University Press.
Anscombe, G. 1957. Intention. Oxford: Basil Blackwell. – 1997. “Modern Moral Philosophy.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 26–44. New York: Oxford University Press.
Appiah, K. A. 2006. Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. New York: W. W. Norton.
Aristotle. 1894. Ethica Nicomachea. Edited by I. Bywater. Oxford: Clarendon Press. – 1907. De Anima. Edited by R. D. Hicks. Cambridge: Cambridge University Press. – 1957. Politica. Edited by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press. – 1962. The Politics of Aristotle. Translated by E. Barker. New York: Oxford University Press. – 1999. Nicomachean Ethics, 2nd edition. Translated by T. H. Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Asch, S. 1955. “Studies of Independence and Conformity: A Minority of One against a Unanimous Majority.” Psychological Monographs, 70.9, Whole No. 416.
Audi, R. 1989. Practical Reasoning. New York: Routledge. – 1997. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford University Press. 2012. “Virtue Ethics as a Resource in Business.” Business Ethics Quarterly, 22, 273–91.
Baumeister, R., and J. Tierney. 2011. Willpower: Discovering the Greatest Human Strength. New York: Penguin Press.
Bazerman, M., and A. Tenbrunsel. 2011. Blind Spots: Why We Fail to Do What’s Right and What to Do about It. Princeton: Princeton University Press.
Beabout, G. 2012. “Management as a Domain-Relative Practice that Requires and Develops Practical Wisdom.” Business Ethics Quarterly, 22, 405–32.
Beadle, R., and K. Knight. 2012. “Virtue and Meaningful Work.” Business Ethics Quarterly, 22, 433–50.
Beaman, A., P. Barnes, B. Klentz, and B. McQuirk. 1978. “Increasing Helping Rates Through Information Dissemination: Teaching Pays.” The Personality and Social Psychology Bulletin, 4, 406–11.
Belk, R. 1985. “Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World.” Journal of Consumer Research, 12, 265–80.
Berkowitz, P. 1999. Virtue and the Making of Modern Liberalism. Princeton: Princeton University Press.
Bertland, A. 2009. “Virtue Ethics in Business and the Capabilities Approach.” Journal of Business Ethics, 84, 25–32.
Blasi, A. 1999. “Emotions and Moral Motivation.” Journal for the Theory of Social Behavior, 29, 1–19.
Boatright, J. 1995. “Aristotle Meets Wall Street: The Case for Virtue Ethics in Business.” A review of Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business, by Robert C. Solomon. Business Ethics Quarterly, 5, 353–9.
Bowles, S., and H. Gintis. 2011. A Cooperative Species: Human Reciprocity and its Evolution. Princeton: Princeton University Press.
Bragues, G. 2006. “Seek the Good Life, Not Money: The Aristotelian Approach to Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 67, 341–57.
Burke, J. 1985. “Speech to the Advertising Council.” In W. M. Hoffman and J.M.Moore (Eds.), Management of Values: The Ethical Difference in Corporate Policy and Performance, 451–6. New York: McGraw-Hill Book Company.
Burns, J. 1978. Leadership. New York: Harper and Row.
Calkins, M., and P.Werhane. 1998. “Adam Smith, Aristotle, and the Virtues of Commerce.” The Journal of Value Inquiry, 32, 43–60.
Carroll, A. 1981. Business and Society: Managing Corporate Social Performance. Boston: Little, Brown.
Cartwright, N. 1983. How the Laws of Physics Lie. New York: Oxford University Press.
Chaiken, S., R. Giner-Sorolla, and S. Chen. 1996. “Beyond Accuracy: Defense and Impression Motives in Heuristic and Systematic Information Processing.” In P. M. Gollwitzer and J. A. Bargh (Eds.), The Psychology of Action: Linking Cognition and Motivation to Behavior, 553–78. New York: Guilford Press.
Chan, G. 2007. “The Relevance and Value of Confucianism in Contemporary Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 77, 347–60.
Chen, A., R. Sawyers, and P. Williams. 1997. “Reinforcing Ethical Decision Making through Corporate Culture.” Journal of Business Ethics, 16, 855–65.
Chicago Tribune 2002. “Tribune Special Report: A Final Accounting.” September 1–4.
Ciulla, J. 2000. The Working Life: The Promise and Betrayal of Modern Work. New York: Three Rivers Press.
Claassen, R. 2012. Review of Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets, by Debra Satz. Business Ethics Quarterly, 22, 585–97.
Cleckley, H. 1988. The Mask of Sanity, 5th edition. St. Louis: C. V. Mosby.
Coase, R. 1937. “The Nature of the Firm.” Economica, 4, 386–405.
Colle, S., and P. Werhane. 2008. “Moral Motivation Across Ethical Theories: What Can We Learn for Designing Corporate Ethics Programs?” Journal of Business Ethics, 81, 751–64.
Collins, J. 2001. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap. . . and Others Don’t. New York: Harper Business, and J. Porras. 2002. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. New York: HarperCollins.
Costa, P., and R. Mac Crae. 1994. “Stability and Change in Personality from Adolescence through Adulthood.” In C. Halvorson, G. Kohnstamm, and R. Martin (Eds.), The Developing Structure of Temperament and Personality from Infancy to Adulthood, 139–50. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Crary, A. 2007. Beyond Moral Judgment. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Damasio, A. 1994. Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Putnam. 256 Bibliography
Daniels, N. 1979. “Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics.” Journal of Philosophy, 76, 256–82.
Darley, J. 1996. “How Organizations Socialize Individuals into Evildoing.” In D. Messick and A. Tenbrunsel (Eds.), Codes of Conduct: Behavioral Research into Business Ethics, 13–43. New York: Russell Sage Foundation.
Davidson, D. 2001. Essays on Actions and Events, 2nd edition. New York: Oxford University Press.
DeSousa, R. 1987. The Rationality of Emotion. Cambridge: MIT Press.
Donaldson, L. 2005. “For Positive Management Theories While Retaining Science: Reply to Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 109–13.
Donaldson, T., and T. Dunfee. 1999. Ties that Bind: A Social Contracts Approach to Business Ethics. Boston: Harvard Business Press.
Doris, J. 2002. Lack of Character: Personality and Moral Behavior. New York: Cambridge University Press.
Drake, M., and J. Schlachter. 2008. “A Virtue-Ethics Analysis of Supply Chain Collaboration.” Journal of Business Ethics, 82, 851–64.
Duhigg, C. 2012. The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business. New York: Random House.
Dunbar, R. 1992. “Neocortex Size as a Constraint on Group Size in Primates.” Journal of Human Evolution, 22, 469–93.
Dunfee, T., and D. Warren. 2001. “Is Guanxi Ethical? A Normative Analysis of Doing Business in China.” Journal of Business Ethics, 32, 191–204.
Dyck, B., and R. Kleysen. 2001. “Aristotle’s Virtues and Management Thought: An Empirical Exploration of an Integrative Pedagogy.” Business Ethics Quarterly, 11, 561–74.
Eastman, W., and M. Santoro. 2003. “The Importance of Value Diversity in Corporate Life.” Business Ethics Quarterly, 13, 433–52.
Elster, J. 1985. Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality. New York: Cambridge University Press. – 1998. “Emotions and Economic Theory.” Journal of Economic Literature, 36, 47–74.
Ely, R., and D. Thomas. 2001. “Cultural Diversity at Work: The Effects of Diversity Perspectives on Work Group Processes and Outcomes.” Administrative Science Quarterly, 46, 229–73.
Festinger, L. 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.
Foot, P. 1997. “Virtues and Vices.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 163–77. New York: Oxford University Press.
Fort, T. 1999. “The First Man and the Company Man: The Common Good, Transcendence, and Mediating Institutions.” American Business Law Journal, 36, 391–435. – 2001. Ethics and Governance: Business as Mediating Institution. New York: Oxford University Press. – 2008. Prophets, Profits, and Peace: The Positive Role of Business in Promoting Religious Tolerance. New Haven: Yale University Press.
Fox, D. 1985. “Psychology, Ideology, Utopia, and the Commons.” American Psychologist, 40, 48–58.
Frank, R. 1988. Passions within Reason: The Strategic Role of the Emotions. New York: W. W. Norton & Company. – 2004. What Price the Moral High Ground? Ethical Dilemmas in Competitive Environments. Princeton: Princeton University Press – T. Gilovich, and D. Regan. 1993. “Does Studying Economics Inhibit Cooperation?” Journal of Economic Perspectives, 7, 159–71.
Frankfurt, H. 1981. “Freedom of the Will and the Concept of a Person.” In G. Watson (Ed.), Free Will, 81–95. New York: Oxford University Press.
Freeman, R. E. 1994. “The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions.” Business Ethics Quarterly, 4, 409–21. – J. Harrison, and A. Wicks. 2007. Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success. New Haven: Yale University Press.
Friedman, M. 1970. “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits.” New York Times Magazine, September 13.
Fritzsche, D. 1991. “A Model of Decision-Making Incorporating Ethical Values.” Journal of Business Ethics, 10, 841–52. – 2000. “Ethical Climates and the Ethical Dimension of Decision Making.” Journal of Business Ethics, 24, 125–40.
Furman, F. 1990. “Teaching Business Ethics: Questioning the Assumptions, Seeking New Directions.” Journal of Business Ethics, 9, 31–8.
Galston, W. 1991. Liberal Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the Liberal State. New York: Cambridge University Press.
Geertz, C. 1983. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books.
Ghoshal, S. 2005. “Bad Management Theories are Destroying Good Management Practices. Academy of Management Learning and Education, 4, 75–91.
Gilbert, D. 2006. Stumbling on Happiness. New York: Knopf. – E. Pinel, T. Wilson, S. Blumberg, and T. Wheatley. 1998. “Immune Neglect: A Source of Durability Bias in Affective Forecasting.” Journal of Personality and Social Psychology, 25, 617–38.
Giovanola, B. 2009. “Re-Thinking the Ethical and Anthropological Foundation of Economics and Business: Human Richness and Capabilities Enhancement.” Journal of Business Ethics, 88, 431–44.
Gladwell, M. 2005. Blink: The Power of Thinking Without Thinking. New York: Back Bay Books (Little, Brown).
Gould, S. 1995. “The Buddhist Perspective on Business Ethics: Experiential Exercises for Exploration and Practice.” Journal of Business Ethics, 14, 63–70.
Graafland, J. 2009. “Do Markets Crowd Out Virtues? An Aristotelian Framework.” Journal of Business Ethics, 91, 1–19.
Gutting, G. 2011. “Pinker on Reason and Morality.” New York Times (electronic edition), October 26, 2011.
Haidt, J. 2001. “The Emotional Dog and its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment.” Psychological Review, 108, 814–34. – 2006. The Happiness Hypothesis. New York: Basic Books. – 2012. The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion. New York: Pantheon Books.
Hambrick, D. 2005. “Just How Bad Are Our Theories? A Response to Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 104–7.
Hampshire, S. 1983. Morality and Conflict. Cambridge: Harvard University Press.
Hardin, G. 1968. ”The Tragedy of the Commons.” Science, 162, 1243–8.
Hare, R. D. 1993. Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths among Us. New York: Simon and Schuster.
Hare, R. M. 1952. The Language of Morals. Oxford: Oxford University Press.
Harman, G. 2003. “No Character or Personality.” Business Ethics Quarterly, 13, 87–94.
Hartman, E. 1977. Substance, Body, and Soul: Aristotelian Investigations. Princeton: Princeton University Press. – 1994. “The Commons and the Moral Organization.” Business Ethics Quarterly, 4, 253–69. – 1996. Organizational Ethics and the Good Life. New York: Oxford University Press. – 1998. “The Role of Character in Business Ethics.” Business Ethics Quarterly, 8, 547–59. – 2001. “An Aristotelian Approach to Moral Imagination.” Professional Ethics, 8, 58–77. – 2006. “Can We Teach Character? An Aristotelian Answer.” Academy of Management Learning and Education, 5, 68–81. Bibliography 259
Hausman, D. 2012. Preference, Value, Choice, and Welfare. New York: Cambridge University Press.
Heath, J. 2009. “The Uses and Abuses of Agency Theory.” Business Ethics Quarterly, 19, 497–528.
Heugens, P., M. Kaptein, and J. van Oosterhout. 2006. “The Ethics of the Node versus the Ethics of the Dyad? Reconciling Virtue Ethics and Contractualism.” Organization Studies, 27, 391–411.
Hirschman, A. 1982. “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble?” Journal of Economic Literature, 20, 1463–84.
Horvath, C. 1995. “MacIntyre’s Critique of Business.” Business Ethics Quarterly, 5, 499–532.
Hursthouse, R. 1999. On Virtue Ethics. New York: Oxford University Press. Irwin, T. 1988. Aristotle’s First Principles. New York: Oxford University Press.
Jackson, K. 2012. Virtuosity in Business: Invisible Law Guiding the Invisible Hand. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Jehn, K., G. Northcraft, and M. Neale. 1999. “Why Differences Make a Difference: A Field Study of Diversity, Conflict and Performance in Workgroups.” Administrative Science Quarterly, 44, 741–63.
Jensen, M. 2010. “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function.” Journal of Applied Corporate Finance, 22, 32–42.- and W. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics, 3, 305–60. – 1994. “The Nature of Man.” Journal of Applied Corporate Finance, 72 (Summer), 4–19.
Johnson, M. 1993. Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics. Chicago: University of Chicago Press.
Johnson and Johnson. 1943. Credo. New Brunswick, NJ: Johnson and Johnson.
Jones, S., and K. Hiltebeitel. 1995. “Organizational Influence in a Model of the Moral Decision Process of Accountants.” Journal of Business Ethics, 14, 417–31.
Jones, T., and L. Ryan. 2001. “The Effect of Organizational Forces on Individual Morality: Judgment, Moral Approbation, and Behavior.” In
J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 285–300. New York: Elsevier Science.
Jos, P., and M. Tompkins. 2004. “The Accountability Paradox in an Age of Reinvention: The Perennial Problem of Preserving Character and Judgment.” Administration and Society, 36, 255–81.
Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. – and A. Tversky (Eds.). 2000. Choices, Values, and Frames. New York: Cambridge University Press.
Kant, I. 1981. Grounding for the Metaphysics of Morals. Translated by J. Ellington. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Kasser, T., and R. Ryan. 1996. “Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals.” Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280–7.
Klein, S. 1995. “An Aristotelian Approach to Ethical Corporate Leadership.” Business and Professional Ethics Journal, 14, 3–23. – 1998. “Emotions and Practical Reasoning: Implications for Business Ethics.” Business and Professional Ethics Journal, 17, 3–29.
Koehn, D. 1992. “Toward an Ethic of Exchange.” Business Ethics Quarterly, 2, 341–55. – 1995. “A Role for Virtue Ethics in the Analysis of Business Practice. Business Ethics Quarterly, 5, 533–9. – 1998. “Virtue Ethics, the Firm, and Moral Psychology.” Business Ethics Quarterly, 8, 497–513.
Kohlberg, L. 1981. Essays on Moral Development. Volume I: The Philosophy of Moral Development. New York: Harper and Row.
Kraut, R. 1989. Aristotle on the Human Good. Princeton: Princeton University Press.
Kupperman, J. 1991. Character. New York: Oxford University Press. – 2005. “How Not to Educate Character.” In D. Lapsley and F. C. Power (Eds.), Character Psychology and Character Education, 201–17. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
LeBar, M. 2009. “Virtue Ethics and Deontic Constraints.” Ethics, 119, 642–71.
Lerner, J., and P. Tetlock. 2003. “Bridging Individual, Interpersonal, and Institutional Approaches to Judgment and Decision Making: The Impact of Accountability on Cognitive Bias.” In S. Schneider and J. Shanteau (Eds.), Emerging Perspectives on Judgment and Decision Research, 431–57. New York: Cambridge University Press.
Lewis, M. 1989. Liar’s Poker: Rising through the Wreckage on Wall Street. New York: W. W. Norton.
Lieberman, M. D. 2000. “Intuition: A Social Cognitive Neuroscience Approach.” Psychological Bulletin, 126, 109–37.
Loewenstein, G., and D. Adler. 2000. “A Bias in the Prediction of Tastes.” In D. Kahneman and A. Tversky (Eds.), Choices, Values, and Frames, 726–34. New York: Cambridge University Press.
Luban, D. 2003. “Integrity: Its Causes and Cures.” Fordham Law Review, 72, 279–310.
MacIntyre, A. 1985. After Virtue, 2nd edition. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Maitland, I. 1997. “Virtuous Markets: The Market as School of the Virtues.” Business Ethics Quarterly, 7, 17–31.
Martin, M. 2006. From Morality to Mental Health: Virtue and Vice in a Therapeutic Culture. New York: Oxford University Press.
Maslow, A. 1987. Motivation and Personality, 3rd edition. New York: Harper and Row.
Matson, W. 2001. “Unfair to Justice.” Modern Age, 372–278.
McCabe, D., and L. Trevino. 1995. “Cheating among Business Students: A Challenge for Business Leaders and Educators.” Journal of Management Education, 19, 205–18.
McCloskey, D. 2006. The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce. Chicago: University of Chicago Press.
McCracken, J., and B. Shaw. 1995. “Virtue Ethics and Contractarianism: Towards a Reconciliation.” Business Ethics Quarterly, 5, 297–312.
McDowell, J. 1997. “Virtue and Reason.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 141–62. New York: Oxford University Press.
McKinnon, C. 2005. “Character Possession and Human Flourishing.” In D. Lapsley and F. Power (Eds.), Character Psychology and Character Education, 36–66. Notre Dame, IN: University of Notre Dame
Press.
Melé, D. 2003. “The Challenge of Humanistic Management.” Journal of Business Ethics, 44, 77–88.
Melville, H. 2001. Billy Budd, Sailor. Chicago: University of Chicago Press. Merck. 2011. http://www.merck.com/responsibility/access/access-featuremectizan.html.
Messick, D. 1998. “Social Categories and Business Ethics.” In R. E. Freeman (Ed.), Business, Science, and Ethics, 149–72, Ruffin Series No. 1. Business Ethics Quarterly (Special Issue).
Metcalfe, J., and W. Mischel. 1999. “A Hot–Cool System Analysis of Delay of Gratification: Dynamics of Willpower.” Psychological Review, 106, 3–19.
Milgram, S. 1974. Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper and Row.
Miller, F. 1995. Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics. New York: Oxford University Press.
Moberg, D. 1999. “The Big Five and Organizational Virtue.” Business Ethics Quarterly, 9, 245–72. – 2006. “Ethics Blind Spots in Organizations: How Systematic Errors in Person Perception Undermine Moral Agency.” Organization Studies, 27, 413–28.- and M. Seabright. 2000. “The Development of Moral Imagination.” Business Ethics Quarterly, 10, 845–84.
Moore, G. 2002. “On the Implications of the Practice–Institution Distinction: MacIntyre and the Application of Modern Virtue Ethics to Business.” Business Ethics Quarterly, 12, 19–32. – 2005a. “Corporate Character: Modern Virtue Ethics and the Virtuous Corporation.” Business Ethics Quarterly, 15, 659–85. – 2005b. “Humanizing Business: A Modern Virtue Ethics Approach.” Business Ethics Quarterly, 15, 237–55. – 2008. “Re-imagining the Morality of Management: A Modern Virtue Ethics Approach.” Business Ethics Quarterly, 18, 483– 511. – 2009. “Virtue Ethics and Business Organizations.” In J. Smith (Ed.), Normative Theory and Business Ethics, 35–59. New York: Rowman and Littlefield. – 2012. “The Virtue of Governance, the Governance of Virtue.” Business Ethics Quarterly, 22, 293–318. – and R. Beadle. 2006. “In Search of Organizational Virtue in Business: Agents, Goods, Practices, Institutions and Environments.” Organization Studies, 27, 369–89.
Morris, C. 2008. The Trillion Dollar Meltdown: Easy Money, High Rollers, and the Great Credit Crash. New York: Public Affairs.
N´eron, P., and W. Norman. 2008. “Citizenship, Inc.” Business Ethics Quarterly, 18, 1–26.
Newton, L. 1992. “Virtue and Role: Reflections on the Social Nature of Morality.” Business Ethics Quarterly, 2, 357–65.
Nickerson, R. 1994. “The Teaching of Thinking and Problem Solving.” In R. Sternberg (Ed.), Thinking and Problem Solving, 409–49. San Diego: Academic Press.
Nielsen, R. 2001. “Can Ethical Character be Stimulated and Enabled: An Action-Learning Approach to Teaching and Learning Organization Ethics.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 51–77. New York: Elsevier Science.
Norman, W. 2002. “Inevitable and Unacceptable? Methodological Rawlsianism in Anglo-American Political Philosophy.” Political Studies, 46, 276–94.
Numkanisorn, S. 2002. “Business and Buddhist Ethics.” The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies, 1, 39–58.
Nussbaum, M. 1990. “Finely Aware and Richly Responsible: Literature and the Moral Imagination.” In Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, 148–67. New York: Oxford University Press. – 2010. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press.
Ostrom, E., and T. K. Ahn. 2009. “The Meaning of Social Capital and its Link to Collective Action.” In G. Svendsen and G. L. Svendsen (Eds.), Handbook of Social Capital: The Troika of Sociology, Political Science and Economics, 17–35. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
Owen, G. 1960. “Logic and Metaphysics in Some Earlier Works of Aristotle.” In I. During and G. Owen (Eds.), Plato and Aristotle in the Mid- Fourth Century, 163–90. Goeteborg: Almquist and Wiksell. – 1986. “Tithenai ta phainomena.” In M. Nussbaum (Ed.), Science and Dialectic, 239–51. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Paine, L. 1991. “Ethics as Character Development: Reflections on the Objective of Ethics Education.” In R. Freeman (Ed.), Business Ethics: The State of the Art. 67–86. New York: Oxford University Press.
Pastoriza, D., M. Arino, and J. Ricart. 2007. “Ethical Managerial Behaviour as an Antecedent of Organizational Social Capital.” Journal of Business Ethics, 78, 329–41.
Peters, T., and R. Waterman. 1982. In Search of Excellence. New York: Harper and Row.
Pfeffer, J. 1982. Organizations and Organization Theory. Boston: Pitman. – 2005. “Why Do Bad Management Theories Persist? A Comment on Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 96–100.
Phillips, R., and C. Caldwell. 2005. “Value Chain Responsibility: A Farewell to Arm’s Length.” Business and Society Review, 110, 345– 70.
Pinker, S. 2011. The Better Angels of our Nature: Why Violence has Declined. New York: Viking.
Pizarro, D., and P. Bloom. 2003. “The Intelligence of Moral Intuitions: Comment on Haidt.” Psychological Review, 110, 193–6.
Porter, M. 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
Prior, W. 2001. “Eudaimonism.” Journal of Value Inquiry, 35, 325–42.
Putnam, H. 2002. The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Cambridge: Harvard University Press.
Putnam, R. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster. – and D. Campbell. 2010. American Grace: How Religion Divides and Unites Us. New York: Simon and Schuster.
Quine, W. 1980. From a Logical Point of View, 2nd edition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rabin, M. 1998. “Psychology and Economics.” Journal of Economic Literature, 36, 11–46.
Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. – 1993. Political Liberalism. New York: Columbia University Press. Roca, E. 2008. “Introducing Practical Wisdom in Business Schools.” Journal of Business Ethics, 82, 607–20.
Rosenzweig, P. 2007. The Halo Effect . . . and the Eight Other Business Delusions that Deceive Managers. New York: Free Press.
Ross, L., and R. Nisbet. 1991. The Person and the Situation: Perspectives of Social Psychology. New York: McGraw-Hill.
Ross, W. D. 1930. The Right and the Good. New York: Oxford University Press.
Russell, D. 2009. Practical Intelligence and the Virtues. Oxford: Clarendon Press.
Salmieri, G. 2009. “Aristotle’s Non-‘Dialectical’ Methodology in the Nicomachean Ethics.” Ancient Philosophy, 29, 311–35.
Sandel, M. 2012. What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Schein, E. H. 1985. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
Sen, A. 1987. On Ethics and Economics. New York: Basil Blackwell. – 1997. “Human Rights and Asian Values.” New Republic, July 14–21. https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/sen.htm. – 2009. The Idea of Justice. Cambridge, MA: The Belknap Press. – and B. Williams (Eds.), 1982. Utilitarianism and Beyond. New York: Cambridge University Press.
Sennett, R. 1998. The Corrosion of Character: The Transformation of Work in Modern Capitalism. New York: W. W. Norton & Company.
Shaw, B. 1995. “Virtues for a Postmodern World.” Business Ethics Quarterly, 5, 843–63.
Shiller, R. 2012. Finance and the Good Society. Princeton: Princeton University Press.
Shoda, Y.,W. Mischel, and P. Peake. 1990. “Predicting Adolescent Cognitive and Self-regulatory Competencies from Pre-school Delay of Gratification: Identifying Diagnostic Conditions.” Developmental Psychology, 26, 978–86.
Simmel, G. 1955. Conflict and the Web of Group Affiliations. Trans. By K. H. Wolfe. Glencoe, IL: The Free Press.
Simon, H. 1954. “A Behavioral Theory of Rational Choice.” Quarterly Journal of Economics, 69, 99–118.
Sims, R., and T. Keon. 1999. “Determinants of Ethical Decision Making: The Relationship of the Perceived Organizational Environment.” Journal of Business Ethics, 19, 393–401.
Sison, A. 2003. The Moral Capital of Leaders: Why Ethics Matters. Northampton, MA: Edward Elgar. – 2008. Corporate Governance and Ethics: An Aristotelian Perspective. Northampton, MA: Edward Elgar. – 2011. “Aristotelian Citizenship and Corporate Citizenship: Who is a Citizen of the Corporate Polis?” Journal of Business Ethics, 100, 3–9. – and J. Fontrodona. 2012. “The Common Good of the Firm in the Aristotelian-Thomistic Tradition.” Business Ethics Quarterly, 22, 211–46.
Skidelsky, E. 2009. “Capitalism and the Good Life.” In S. Gregg and J. Stoner (Eds.), Profit, Prudence, and Virtue: Essays in Ethics, Business and Management, 242–53. Exeter, UK: Imprint Academic.
Skinner, B. 1972. Beyond Freedom and Dignity. New York: Bantam Vintage.
Slater, L. 2004. Opening Skinner’s Box: Great Psychological Experiments of the Twentieth Century. New York: W. W. Norton.
Slote, M. 1983. Goods and Virtues. New York: Oxford University Press. – 1992 From Morality to Virtue. New York: Oxford University Press. – 2001. Morals from Motives. New York: Oxford University Press.
Smith, H. 2012. Who Stole the American Dream? New York: Random House.
Solomon, R. 1992. Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business. New York: Oxford University Press.
Sommers, M. C. 1997. “Useful Friendships: A Foundation for Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 16, 1453–8.
Stark, A. 1993. “What’s the Matter with Business Ethics?” Harvard Business Review, 71, 38–48.
Sundman, P. 2000. “The Good Manager – A Moral Manager?” Journal of Business Ethics, 27, 247–54.
Toulmin, S. 1990. Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. Chicago: University of Chicago Press.
Trevino, L. K. 1986. “Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model.” Academy of Management Review, 11, 607–17. – K. Butterfield, and D. McCabe. 2001. “The Ethical Context in Organizations: Influences on Employee Attitudes and Behaviors.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 301–37. New York: Elsevier Science.
Trist, E., and K. Bamforth. 1951. “Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Coal Getting.” Human Relations, 4, 3–38.
Tsalikis, J., and O. Wachukwu. 2000. “A Comparison of Nigerian to American Views of Bribery and Extortion in International Commerce.” Journal of Business Ethics, 10, 85–98.
Tsoukas, H., and S. Cummings. 1997. “Marginalization and Recovery: The Emergence of Aristotelian Themes in Organization Studies.” Organization Studies, 18, 655–83.
Turbow, J., with M. Duca. 2010. The Baseball Codes: Beanballs, Sign Stealing, and Bench-Clearing Brawls: The Unwritten Rules of America’s Pastime. New York: Pantheon Books.
Turner, N., J. Barling, O. Epitropaki, V. Butcher, and C. Milner. 2002. “Transformational Leadership and Moral Reasoning.” Journal of Applied Psychology, 87, 304–11.
Tversky, A., and D. Kahneman. 1981. “The Framing of Decisions and the Psychology of Choice.” Science, 211, 453–8.
Vidaver-Cohen, D. 1997. “Moral Imagination in Organizational Problem-Solving: An Institutional Perspective.” Business Ethics Quarterly, 7, 1–26. – 2001. “Motivational Appeal in Normative Theories of Enterprise.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 3–26. New York: Elsevier Science.
Vlastos, G. 1994. Socratic Studies. New York: Cambridge University Press.
Walton, C. 2001. “Character and Integrity in Organizations: The Civilization of the Workplace.” Business and Professional Ethics Journal, 20, 105–28.
Weaver, G. 2006. “Virtue in Organizations: Moral Identity as a Foundation for Moral Agency.” Organization Studies, 27, 341–68. – and B. Agle. 2002. “Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A Symbolic Interactionist Perspective.” Academy of Management Review, 27, 77–97.
Weick, K. 1969. The Social Psychology of Organizing. Reading, MA: Addison-Wesley. – K. Sutcliffe, and D. Obstfeld. 2005. “Organizing and the Process of Sensemaking.” Organization Science, 16, 409–21.
Wells, T., and J. Graafland. 2012. “Adam Smith’s Bourgeois Virtues in Competition.” Business Ethics Quarterly, 22, 319–50.
Werhane, P. 1991. Adam Smith and his Legacy for Modern Capitalism. New York: Oxford University Press. – 1999. Moral Imagination and Management Decision-making. New York: Oxford University Press. – and M. Gorman. 2005. “Intellectual Property Rights, Moral Imagination, and Access to Life-enhancing Drugs.” Business Ethics Quarterly, 15, 595–613. – L. Hartman, D. Moberg, E. Englehardt, M. Pritchard, and B. Parmar. 2011. “Social Constructivism, Mental Models, and Problems of Obedience.” Journal of Business Ethics, 100, 103–18.
Whetstone, J. 2003. “The Language of Managerial Excellence: Virtues as Understood and Applied.” Journal of Business Ethics, 44, 343–57.
Williams, B. 1981. Moral Luck. New York: Cambridge University Press. – 1985. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge: Harvard University Press.
Williamson, O. 1975. Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-trust Implications. New York: Free Press.
Winter, S. 1971. “Satisficing, Selection, and the Innovative Remnant.” Quarterly Journal of Economics, 85, 237–61.
Woodruff, P. 2001. Reverence: Renewing a Forgotten Virtue. New York: Oxford University Press.
Zimbardo, P. 2007. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. New York: Random House.
Imagem Polis – Athens-Acropolis-The-Acropolis-of-the-ancient-city-state-of-Athens-Greece-Neil-Beer-Getty-Images.jpg – 27 de fevereiro de 2024
—–