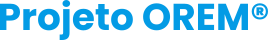Trechos do livro “Virtue In Business”, autor Edwin M. Hartman, para o nosso conhecimento e entendimento sobre as Organizações Baseadas na Espiritualidade (OBE) e a Espiritualidade no Ambiente de Trabalho (EAT).
Tradução livre Projeto OREM® (PO)
Virtude nos Negócios
Negócios, Criação de Valor e Sociedade
A abordagem da virtude à ética nos negócios é um tópico de importância crescente no mundo dos negócios. Concentrando-se na teoria de Aristóteles de que as virtudes do caráter e não as ações, são fundamentais para a ética, Edwin M. Hartman apresenta aos leitores desse livro o valor de aplicar a abordagem das virtudes de Aristóteles aos negócios.
Usando numerosos exemplos do mundo real, ele argumenta que os líderes empresariais têm boas razões para levar a sério o caráter ao explicar e avaliar os indivíduos nas organizações. Ele demonstra como a abordagem da virtude pode aprofundar o nosso entendimento da ética nos negócios e como pode contribuir para discussões contemporâneas sobre caráter, racionalidade, cultura corporativa, educação ética e ética global.
Escrito por um dos principais estudiosos Aristotélicos que trabalham atualmente na área, essa introdução oficial para o papel da ética da virtude nos negócios é um texto valioso para estudantes de pós-graduação e pesquisadores acadêmicos em ética nos negócios, ética aplicada e filosofia.
Edwin M. Hartman foi Professor Visitante de Ética Nos Negócios e codiretor do Seminário Paduano de Ética Nos Negócios na Stern School of Business da Universidade de Nova York até a sua aposentadoria em dezembro de 2009.
Antes de ingressar na Stern, ele lecionou por mais de vinte anos na escola de negócios e no departamento de filosofia da Rutgers University, onde ele foi diretor fundador do Prudential Business Ethics Center da Rutgers. Ele também é o autor de Substance, Body, and Soul: Aristotelian Investigations, de Conceptual Foundations of Organization Theory e de Organizational Ethics and the Good Life (nomeado Livro do Ano [2003] pela Divisão de Questões Sociais em Gestão da Academia de Administração).
…..Continuação da Parte II…..
Um resumo do argumento – Capítulo 2
Falar de virtudes pode orientar a ação: você pode proveitosamente me dizer para ser corajoso ou generoso. Entretanto, alguém é capaz de errar como resultado de fraqueza de vontade, o que muitas vezes é uma questão de enquadrar incorretamente a situação. Quase o mesmo pode ser dito da tomada de decisões estratégicas. A cultura corporativa pode ter um efeito tão forte nas ações de uma pessoa que alguns psicólogos questionam se faz algum sentido postular o caráter, ou, nesse caso, a racionalidade, como causa do comportamento. Aristóteles tenta explicar os nossos lapsos na racionalidade, no entanto, contra ele estão muitos que duvidam que normalmente nós pensamos com racionalidade.
Capitulo 2
Virtudes e decisões
Como eu devo decidir o que fazer? Suponha que você esteja tentando tomar uma decisão ética. Que tipo de conselho você esperaria que um eticista da virtude lhe desse? ‘Seja generoso’, o seu conselheiro poderia dizer. Isso parece tão útil quanto o suposto conselho de Aristóteles sobre o golfe: acertar bem a bola, de acordo com a razão e como um profissional a acertaria. Dizer-lhe para ser generoso, ou mesmo para agir como uma pessoa generosa o faria, pode lhe parecer dar apenas uma vaga ideia do que fazer. Em qualquer caso, você não pode vir a ser generoso instantaneamente, ou mesmo ser capaz de acertar bem a bola.(1) No entanto, na verdade, ser instruído a mostrar generosidade e fazer o que uma pessoa generosa o faria – isso é, ajudar alguém que necessita e que merece ajuda apenas porque a ajuda é necessária e merecida – pode ser um conselho útil. No mínimo, aquele que dá o conselho, ou aquele que contempla a ação, está identificando uma situação como aquela que exige generosidade.
(1)Discutimos o primeiro problema nesse capítulo e o segundo principalmente no Capítulo 4.
Suponha que a decisão seja sobre um funcionário relativamente novo em sua empresa, um jovem inteligente que não é conhecido nem pela modéstia dele nem por admiração dele por você. Você descobre que ele está prestes a fazer uma apresentação para a alta administração. Você reconhece que faltam algumas informações necessárias para que a apresentação dele seja bem-sucedida. Ele não está ciente que você tem esse tipo de informação e é capaz de interpretá-la de maneira útil, ou que ele necessita dela. Você está considerando em abordá-lo e oferecer o que você tem.
A sua amiga Smith pode dar esse conselho: ‘Olha, eu concordo com você que Jones é um pouco idiota, entretanto, a melhor coisa a fazer é mostrar alguma generosidade. Isso ajudará Jones e a empresa também e você não se arrependerá disso.’ O conselho da sua amiga para que você demonstre generosidade nessa situação não é trivial. A coragem, por exemplo, não deveria estar em primeiro plano. Você pode pensar em justiça, no entanto, é uma questão secundária aqui e seria fácil aplicá-la de maneira equivocada. Você pode supor que seria muito útil para esse jovem se você o deixasse fazer a apresentação sem a informação, especialmente porque ele não procurou a sua ajuda. No entanto, isso não seria verdadeiramente justo, especialmente tendo em conta a sua obrigação para com a empresa que emprega a ambos. Portanto, você faria bem em se lembrar, caso outra pessoa não o lembre, para ser generoso, de pensar e agir como faria uma pessoa generosa, talvez alguma pessoa em particular que lhe pareça um modelo de generosidade.
O conselho só será útil se você souber como é a generosidade nessa situação. Isso implica fazer um esforço para evitar não só o egoísmo estreito, mas também a liberalidade excessiva. Você deveria estar disposto a ajudar esse homem, entretanto, você não deveria chegar ao extremo de insistir em ajudá-lo se ele rejeitar arrogantemente a sua oferta de ajuda. Você pode pensar duas vezes antes de agir de acordo com a sua generosidade se tiver bons motivos para acreditar que ele ocultará ou até mesmo negará a sua contribuição e depois usará isso contra você. Portanto, você deve perguntar se essa é a ocasião certa para a generosidade, se ele é o destinatário certo e assim por diante.
O entendimento deve levar à ação: você deve agir com generosidade ou, se não for uma pessoa generosa, agir como se fosse generoso. É muito fácil saber o que fazer, mas simplesmente não fazer. Em alguns casos, a sua relutância em agir, talvez agravada pela pressão social, levará você a interpretar a situação de uma forma que favoreça o que (no seu egoísmo ou na sua necessidade neurótica de aprovação) você deseja fazer. Você pode dizer a si mesmo que ajudar essa pessoa é ser explorado e permitir a sua ambição grosseira, entretanto, é possível que o verdadeiro problema seja que você simplesmente não gosta dele e gostaria de vê-lo receber o seu castigo. Se assim for, seria difícil e doloroso para você reconhecer conscientemente esse preconceito, já que você se considera uma pessoa de generosidade apropriada e o tipo de participante da equipe que a organização necessita.
Portanto, Smith lhe dará bons conselhos se ela ajudar você a se concentrar na situação da maneira certa. Ao dizer que a generosidade é necessária, ela está fazendo com que você se pergunte como você pode fazer algo de bom para Jones e para a empresa, ao invés de como você é capaz de colocar esse idiota arrogante no lugar dele. A melhor pergunta levará a uma resposta melhor, embora não por si só a uma resposta exata, uma vez que nem a pergunta nem qualquer outra coisa lhe dá orientação exata sobre o que a generosidade exige nesse caso.
E, claro, mesmo que você pense que Smith está lhe dando um bom conselho, você pode agir contra ele. O eticista da virtude e o eticista que tenta aplicar princípios a situações como essa dão conselhos que são semelhantes em alguns aspectos. O primeiro diz que se deve ativar a generosidade. O segundo poderia dizer que se devem aplicar princípios relacionados com o apoio ao colega de trabalho. O eticista da virtude, ao dizer que você deve fazer o que a generosidade exige, está recomendando que você aja de acordo com princípios derivados da natureza da generosidade e, implicitamente, lembrando-o de considerar os detalhes da situação, o que provavelmente incluiria a importância da apresentação, a reação do jovem, o momento e a maneira como isso é feito.
O conselho baseado na virtude que você recebe não tem o próprio procedimento de decisão característico dele, como acontece com o utilitarismo, por exemplo. No entanto, isso não é uma desvantagem, uma vez que nenhum procedimento de decisão único é apropriado para todos os casos – talvez nem mesmo para um único caso. Jensen (2010) provavelmente não concordaria, pois argumenta que, uma vez que é impossível maximizar em múltiplas dimensões, a empresa tem que aceitar uma função objetiva de valor único. Eu entendo que Alzola (2011, p. 22) rejeita essa visão, com razão. A vida seria mais simples se funções objetivas de valor único fossem suficientes para a ética corporativa ou pessoal, entretanto, nenhuma delas é uma questão de maximização.
Portanto, uma pessoa de bom caráter, possuidora de todas as virtudes, está pronta para agir com base em uma ampla gama de boas razões. Um eticista da virtude poderia dizer, num caso particular, que se deve agir com benevolência – isso é, ser particularmente gentil com alguém – no entanto, evitar o excesso de ignorar os perigos de recompensar um mau desempenho. Se alguma política pública estiver em discussão, poderá ser apropriado adoptar uma abordagem utilitarista, entretanto, apenas um utilitarista extremo ignoraria todas as considerações de justiça. Em alguns casos, o eticista da virtude pode dizer que se deve agir com justiça. Portanto, o genro do CEO deveria ser demitido se fosse pego em um ato de desonestidade grosseira; no entanto, então será necessária coragem para recomendar uma punição justa. A pessoa virtuosa, armada de sabedoria prática, sabe quando implementar os princípios e as atitudes associados à benevolência, ou aqueles associados ao bem público, ou aqueles associados à justiça retributiva e o que fazer quando eles parecem entrar em conflito. Isso dificilmente faz com que a ética da virtude seja inferior a qualquer uma das formas padrão de ética baseada em princípios.
Pelo contrário, a ética da virtude acrescenta algumas características à ética baseada em princípios. Como nós temos discutido, uma virtude é mais do que uma disposição estabelecida para agir de acordo com um princípio: ela tem um componente emocional e um componente de desejo. Portanto, se você é uma pessoa generosa, deseja ser e é o tipo de pessoa que gosta de ser generoso e aproveita com alegria as oportunidades para fazê-lo. Se você é uma pessoa praticamente sábia, será capaz de identificar uma situação como aquela que exige generosidade – a sua reação emocional pode ajudar na identificação – e terá um senso bem desenvolvido do que a generosidade exige. Você não tem essa concepção bem desenvolvida de generosidade antes de ser capaz de começar a aplicá-la, como sugere a expressão um tanto equivocada de ‘ética aplicada’.
Pelo contrário, ter um bom sentido de generosidade requer o desenvolvimento de sensibilidades éticas, incluindo um forte sentimento pelas relações humanas, baseado numa grande experiência com situações como a que envolve o colega chato. Isso também requer autoconsciência: você tem que ser capaz de perceber e resistir quando estiver inclinado a racionalizar um comportamento pouco generoso ou a ceder muito prontamente a exigências irracionais. E requer um compromisso emocional apropriado com a generosidade: você tem que ser capaz de sentir simpatia.
Assim, embora numa determinada ocasião a ética da virtude forneça conselhos que são pelo menos tão bons quanto os oferecidos pela ética baseada em princípios, ela é caracteristicamente dirigida a questões de longo alcance. Ela gera conselhos sobre o tipo de pessoa que você deveria ser; e uma vez comprometido em ser virtuoso, você estará muito mais bem equipado para lidar com ocasiões específicas.
Agir por generosidade ou qualquer outra virtude é agir de acordo com o modelo de Aristóteles da ação intencional de uma criatura racional e sociável, que os seres humanos são por natureza. No entanto, embora seja natural que os humanos sejam racionais, isso não significa, nem é verdade, que nós sejamos sempre racionais. Nós gostamos de pensar em nós mesmos como tendo valores que orientam as nossas preferências e, portanto, as nossas ações, no entanto, isso é claro para Aristóteles – e para os psicólogos sociais e outros – que nem sempre é assim que isso acontece dessa maneira.
Raciocínio prático e fraqueza de vontade
A ação irracional é bastante comum, no entanto, a própria noção levanta um problema. Se uma ação intencional é caracteristicamente realizada por uma razão, como é capaz de uma ação ser intencional, mas ao mesmo tempo irracional? Se eu disser: ‘Eu estou plenamente ciente de que, em todos os aspectos importantes, essa ação que eu estou considerando é um erro grave, entretanto, eu estou fazendo isso de qualquer maneira’, você poderá achar a minha afirmação não apenas difícil de acreditar, mas difícil de entender. É como se eu dissesse: ‘Eu estou plenamente ciente de que a evidência contra a proposição p é conclusiva, no entanto eu acredito em p’. Esse tipo de coisa acontece, no entanto, nós queremos uma explicação quando isso acontecer.
Como eu sou capaz de saber o que é a coisa certa a fazer, porém eu não a faço? Essa é a questão da fraqueza de vontade, à qual Aristóteles responde longamente e, na minha opinião, de forma plausível. Ao fazê-lo, ele fortalece o argumento a favor da virtude e da ética da virtude e contra os céticos que não acham que vale a pena postular virtudes. Uma razão para abordar a questão é que a frequente desconexão entre os seus desejos, especialmente os de segunda ordem e as suas ações tem sido considerada por alguns filósofos e psicólogos como implicando que não faz sentido postular virtudes ou caráter, pois eles não explicam qualquer coisa. Eu não concordo, no entanto, vale a pena levar a sério o desafio.
Ter uma virtude implica conhecer, embora não necessariamente ser capaz de afirmar, um princípio da forma ‘É bom para uma pessoa agir de uma determinada maneira.’ O exemplo não totalmente útil que ele dá é esse: ‘Alimento seco é bom para os seres humanos comerem.’ (Isso não quer dizer que Aristóteles acredite que o alimento seco seja apropriado para todos os seres humanos em todas as circunstâncias, ou que, em geral, as suas primeiras premissas sejam princípios fundamentais ou irrepreensíveis de nutrição ou ética.) Especificações de princípios desse tipo normalmente funcionam como primeiras premissas dos silogismos práticos. Portanto, você pode começar a sua deliberação com esse pensamento: ‘Comer comida seca é bom (ou seja, nutritivo) para o ser humano.’ Como Aristóteles assimila o interesse próprio e a ética, como eu argumentarei no Capítulo 3, ele também aceitaria como primeira premissa ‘Respeitar a propriedade de outras pessoas é bom (ou seja, justo) para um ser humano.’ Entretanto, Aristóteles quer explicar como você é capaz de afirmar com aparente sinceridade que valoriza alguma coisa – reconhecer que ela é boa – no entanto, agir intencionalmente contra o seu valor. (NE VII 2–4.)
Imagine que uma pessoa bem informada sobre nutrição esteja tomando café da manhã. As opções são granola e donut. Quem toma o café da manhã sabe que a granola é melhor para o ser humano do que os donuts, entretanto alguém come o donut porque ele é delicioso. Da mesma forma, você pode ser capaz de dizer, se lhe perguntarem, que é bom respeitar a propriedade dos outros, entretanto você pode jogar algum lixo na área de um vizinho, mesmo você sabendo que essa não é uma maneira de obter satisfação psíquica a longo prazo, assim como comer donuts não é uma maneira de alcançar a saúde a longo prazo. Em ambos os casos você aparentemente age contra os seus valores.
O que tem dado errado?(2) De acordo com Aristóteles, você é capaz de fazer intencionalmente o que não valoriza porque há algo a ser dito a favor e também contra comer donuts e se livrar do lixo facilmente. Você sabe que não deve comer o donut, porque ele engorda; entretanto, você quer comê-lo, porque é uma delícia. Você pode até dizer para si mesmo: ‘Eu não deveria comer esse donut.’ Porém, quando você diz as palavras, você é como um bêbado recitando poesia: você não tem a convicção (uma palavra que Audi, 1989, usa) que o conhecimento real – ou a crença real, nesse caso – acarreta. Você tem que se desenvolver em conhecimento real e isso leva tempo (NE VII 3 1147a21f.). Em 1147b15-17, Aristóteles diz que o seu reconhecimento de que, na verdade, o donut engorda e, portanto, é ruim para você, não é um conhecimento adequado porém uma percepção.
Então você, sendo talvez uma pessoa jovem ou eticamente inexperiente, age de acordo com a descrição errada do ato – isso é, que você está comendo algo delicioso. Se perguntado: ‘Mas isso não engorda?’ você é capaz de dizer: ‘Sim, eu sei, entretanto, tem um gosto ótimo.’ Porém, num sentido importante, você não sabe realmente, segundo Aristóteles, porque você realiza o ato sob alguma outra descrição, a qual, se você pensar bem, você reconhecerá que que não é aquele [ato] mais evidente. Portanto, o conhecimento que lhe falta não é, como Sócrates argumenta, puramente discursivo.(3) Ou, nós poderíamos dizer, você realiza o ato sob um princípio diferente, não o correto – não um princípio associado à virtude mais aplicável neste caso.
(2)Precisamente como Aristóteles analisa essa situação é uma questão de controvérsia de longa data. A minha interpretação não é radicalmente nova; Eu estou em dívida com muitos comentadores, especialmente Audi (1989, pp. 19-24) e com a tradução e comentários de Irwin (Aristóteles, 1999, pp. 256-62), entretanto, eu não tenho a certeza se algum deles concordaria inteiramente comigo.
(3)O conhecimento associado às virtudes nunca é puramente discursivo porque envolve emoções, que podem distorcer a percepção e fazer com que você veja a situação sob uma descrição errada. Os psicopatas não são capazes de saber o que é generosidade porque lhes faltam as emoções apropriadas.
Consideremos novamente o caso do jovem chato. Se você decidir deixá-lo falhar, você estará deixando de agir de acordo com a virtude da generosidade. Você deveria olhar para esse caso como um caso em que a generosidade é necessária, entretanto, ao invés disso você convence a si mesmo de que o seu silogismo prático é sobre justiça e age erroneamente com base no revanchismo.
Aristóteles distingue entre o caso em que você é tentado a comer o donut, porém resiste à tentação porque tem continência (enkrateia) [controle das funções corporais] a partir daquilo em que você nem é tentado porque você tem temperança (sophrosune). No primeiro caso, a sua escolha saudável ou ética custa a você alguma coisa. No segundo caso, você está tão fortemente motivado por considerações de saúde que a escolha não custa nada a você. Há algo de admirável em não ceder ao desejo de alguém, mas é melhor, do ponto de vista ético e de outras formas, nem mesmo desejar – ou, para ser mais amplo, nem mesmo querer fazer o que é a coisa errada (covarde, desonesta, injusta, vingativa). Os santos são assim; pessoas de bom caráter têm virtudes de segunda ordem, como a capacidade de resistir à tentação.
Essa forma de fraqueza de vontade é uma questão de agir de acordo com princípios errados que se baseiam em diferentes descrições de uma situação. Como nós temos observado, em ética múltiplas considerações empurram-nos em direções contraditórias e não existe um algoritmo para escolher ser conduzido para um lado ou para outro, ou para escolher a descrição da situação que é mais evidente. Se você é um funcionário leal de uma empresa geralmente boa, na qual as pessoas que você respeita decidem fazer algo que você considera um pouco desprezível, você pode dizer a si mesmo que, ao cooperar, você está agindo fora da lealdade ao seu empregador geralmente bom. Aristóteles sugere que, em tais casos, alguém com um bom histórico ético – isso é, uma pessoa de sabedoria prática – reagirá com desconforto à ideia de concordar com a vulgaridade e que essa experiência emocional apurada tem peso cognitivo. Mas se você tiver uma vontade fraca, poderá sentir um impulso emocional decisivo para seguir em frente, reconhecendo ou não que recusar seria a coisa certa a fazer.
Assim, Aristóteles está claramente ciente de que nem sempre nós agimos racionalmente, que nós podemos escolher premissas maiores irracionais e premissas menores irracionais; por exemplo, nós podemos agir com base nas delícias em vez da nutrição se nós não soubermos que a nutrição conta mais e mesmo que o saibamos. Ao fazê-lo, nós podemos estar raciocinando na direção errada: ao invés de tirar conclusões das nossas boas razões, nós começamos com as conclusões e escolhemos as razões que as apoiam.
Aristóteles parece estar ciente dessa possibilidade, embora ele não mencione explicitamente a situação em que se ignora a questão da nutrição ou se toma o caminho mais fácil para se matar, ao mesmo tempo que se diz a si mesmo e aos outros que existe alguma razão mais respeitável sobre a qual se age. Apesar do que sabe sobre a irracionalidade, contudo, ele não está disposto a abandonar a ideia de que a racionalidade caracteristicamente humana tem tipicamente um lugar na explicação do comportamento, ou que os próprios fins e não apenas os meios para atingir os fins podem ser racionais.
Enquadramento
O que Aristóteles diz tem implicações imediatas em relação ao enquadramento, o que é fácil de errar. Você é capaz de enquadrar comer um donut como uma experiência prazerosa ou um ato de engordar, pois são as duas coisas, no entanto, uma pessoa preocupada com a saúde deve considerar a segunda maneira de enquadrar, ao invés da primeira, como evidente.
Em alguns casos, o problema é que o agente age de acordo com uma descrição enganosa ou incompleta: por exemplo, ‘Como uma pessoa justa, eu estou cuidando para que esse jovem receba o que merece.’ Portanto, não foi difícil para os profissionais de serviços financeiros caracterizarem equivocadamente o risco que eles estavam tomando para os seus clientes, ao se concentrarem nos lucros a obter, desde que as coisas corressem bem.(4) Em casos desse tipo, você está sofrendo de uma mais forte forma de akrasia, pois você nem consegue dizer que você está fazendo a coisa errada.
(4)Sobre o enquadramento como uma questão de ética nos negócios, ver Werhane (1999) e Werhane et al. (2011).
Tversky e Kahneman (1981) encontraram efeitos de enquadramento extraordinários mesmo quando as descrições em questão eram compatíveis. Numa das experiências deles, os sujeitos estavam mais favoravelmente dispostos a um estado de coisas em que 25% de alguma população sobreviveria a um evento do que a um estado em que 75% morreriam. Isso indica uma grave irracionalidade. As pessoas podem fazer julgamentos e agir em grande parte com base na forma como descrevem uma situação complexa para si mesmas – de forma diferente dependendo de qual das duas descrições atendem, mesmo que as descrições sejam logicamente equivalentes.
O seu ambiente influenciará a maneira como você enquadra uma situação: você provavelmente fará isso como os outros fazem, como é o costume em sua profissão, como o cliente deseja, etc. Considere o famoso experimento de Milgram (1974). Milgram disse aos seus participantes que eles o estavam ajudando numa experiência sobre os efeitos do reforço negativo na aprendizagem. Eles deveriam administrar choques elétricos em ‘sujeitos’ que não conseguissem responder corretamente a certas perguntas. Os choques começaram em 15 volts, no entanto, a cada resposta errada a voltagem era aumentada em 15, até chegar a 450. Os ‘sujeitos’ eram atores, que começaram a gritar de dor fingida quando os choques ultrapassaram 150 volts, depois gritando e implorando para serem liberados enquanto os choques aumentavam ainda mais. Eventualmente, eles ‘desmaiaram.’
Numa versão típica do experimento, quase dois terços dos sujeitos verdadeiros percorreram todo o caminho: eles infligiram o que eles acreditavam ser insuportáveis e, de acordo com uma etiqueta no console, choques perigosos em pessoas inocentes porque elas foram instruídas a fazê-lo. .
Uma maneira de interpretar o experimento é dizer que a maioria dos participantes não se via como alguém que causava dor a um sujeito inocente, mas sim como alguém que seguiu instruções e ajudou o Dr. Milgram em seu importante trabalho. Alguns, segundo Ross e Nisbett (1991), sentiam-se desconfortáveis porque simplesmente não conseguiam enquadrar a situação com clareza. Não houve ‘fatores de canal’ para sustentar o seu impulso de desobedecer. (Eu agradeço a Daniel Russell por me orientar até esse ponto.) A sua autoimagem também terá influência: você tende a defender a correção moral das ações que o favorecem. Isso se parece com a forma de racionalização em que se começa com uma conclusão e depois se atenta às características da situação que a apoiam.
Os auditores da Arthur Andersen poderiam ter descrito os seus erros no caso Enron como ‘bom serviço ao cliente’ ou ‘contabilidade agressiva’ ou mesmo ‘faturação de muitas horas.’ Essas caracterizações eram precisas, mas menos evidentes do que ‘deturpar a posição financeira da empresa.’ Isso é bastante comum: Darley (1996) descreve o fenômeno da racionalização ética, que Jones e Ryan (2001) atribuem ao desejo de ser e ser considerado moral. Haidt (2012, p. 54, por exemplo) afirma que isso acontece com muito mais frequência do que nós gostaríamos de admitir.
Auditores com padrões profissionais mais elevados agiriam de acordo com a descrição eticamente relevante da ação. A maioria dos auditores não poderia ter apresentado um argumento coerente, baseado nos seus próprios valores, de que o ganho a curto prazo obtido através da prestação de um bom serviço ao cliente justificava a deturpação da posição financeira da empresa. Então, por que os auditores da Arthur Andersen fizeram o que fizeram? Na visão Aristotélica, isso aconteceu porque eles estavam ignorando as descrições mais evidentes e concentrando-se nas que não eram eticamente essenciais, como alguém poderia focar no sabor delicioso do donut sem dar a devida atenção à necessidade de perder peso. Aristóteles considera isso uma falha de percepção e, portanto, de caráter.
Percebendo corretamente
Aristóteles afirma que a pessoa de bom carácter, de sabedoria prática, percebe qualquer situação corretamente – isso é, leva devidamente em conta a sua essência ou, nós diríamos, as suas características evidentes.
À medida que você percebe que uma determinada figura é um triângulo, você percebe que um determinado ato é uma traição, embora essa última seja mais difícil de ser feita com segurança. Essa é a doutrina Aristotélica padrão, proposta em todo o De Anima: a forma ou essência de um objeto percebido está na alma de quem o percebe. Ele também diz em De Anima III 2 que os eventos, incluindo os eventos psicológicos, têm essências em sentido analógico; assim você é capaz de perceber ou deixar de perceber a essência de um evento.
Segundo Aristóteles, essa percepção envolve imaginação (a tradução padrão do Grego phantasia) e entendimento não inferencial (nous). A faculdade da imaginação está operando quando você entende o que é um objeto percebido ou quando você apreende a qualidade moral de um ato, daí a virtude que deveria motivar você; em ambos os casos você compreende a essência do item. Você é moralmente responsável por entender o ato corretamente. Se você errar isso – isso é, não conseguir apreender as características moralmente evidentes da situação – então você tem uma falha de caráter (NE III 5 1114a32–b3 e VII 3 1147a18–35).
Uma pessoa de bom caráter perceberá que um determinado ato é corajoso e não imprudente, generoso e não condescendente, honesto e não desonesto e agirá de acordo. Uma pessoa praticamente sábia lidará adequadamente com um aparente conflito de generosidade e justiça. Alguns filósofos morais usaram o termo imaginação moral para designar a faculdade que enquadra corretamente estados e acontecimentos moralmente significativos.(5) E a pessoa virtuosa será motivada a agir em conformidade.
(5)Johnson (1993) tem um livro influente sobre o assunto. Werhane (1999), Moberg e Seabright (2000), Hartman (2001) e Werhane et al. (2011) avaliam a sua importância para a ética nos negócios. Vidaver-Cohen (1997) considera como as organizações são capazes de encorajar a imaginação moral. Chen, Sawyers e Williams (1997) mostram como as organizações são capazes de fazer o oposto.
Quando as pessoas discutem sobre questões moralmente carregadas, muitas vezes fazem declarações do tipo: ‘Isso é tudo sobre X.’ Depois, outros respondem que na verdade tudo gira em torno de Y. X pode ser a liberdade religiosa, por exemplo e Y a saúde das mulheres – como se não pudesse ser uma questão de ambas. Eu tenho sugerido que por vezes nós escolhemos uma descrição de um caso, daí um princípio que o cubra e uma virtude que ele exige, numa base de interesse próprio. No entanto, isso nem sempre é fácil, mesmo para uma pessoa honesta, acertar a descrição. Muitos problemas morais são difíceis precisamente porque dizem respeito a muitas coisas. Aristóteles diz que uma pessoa de bom caráter vê do que se trata essencialmente o argumento, entretanto, ele (caracteristicamente) não oferece uma regra para fornecer uma descrição simples e correta de qualquer situação.
Quer todos os eventos tenham ou não uma descrição correta, o que parece duvidoso, alguns estão simplesmente errados, pois convidam à obtusidade moral ou pior. Moberg (2006) afirma que o enquadramento é capaz de levar a pontos cegos, uma vez que favorece uma interpretação de uma situação e, assim, ignora fatos possivelmente significativos sobre ela. Considere ‘Eu estava apenas fazendo o meu trabalho’ ou ‘Ele estava apenas tentando ser amigável.’ Ou, nesse caso, ‘É sempre moralmente errado discriminar com base na raça.’
Lembre-se do caso de Deborah. Se você olhar para a situação e não perceber que o preconceito de gênero desempenha um papel, estará perdendo alguma coisa importante. Se você vê Deborah como uma ruiva e de sorriso fofo e não a vê como uma jovem consultora talentosa que merece o apoio da empresa, há uma deficiência em seu caráter, segundo a visão Aristotélica. Você não enquadrará a situação dela corretamente; na verdade, provavelmente existem situações semelhantes que você não enquadrará corretamente. O efeito de enquadramento do vício da injustiça faz com que você decida erroneamente sobre enviar Deborah para Londres, fazendo-o perguntar: ‘Nós devemos enviar essa bela garota para Londres para lidar com aqueles homens exigentes?’ Fazer a pergunta dessa forma quase garante uma resposta errada.
A emoção é crítica, como nós observamos anteriormente. Emoções apropriadas auxiliam no enquadramento correto. Aristóteles observa que uma pessoa irascível se ofenderá muito facilmente, enquanto uma pessoa fleumática não ficará com raiva mesmo quando a raiva for apropriada (NE IV 5 1125b26–1126a3). Você deveria ser grato pelas gentilezas, ficar zangado se e somente se for gravemente injustiçado, solidário com os miseráveis, feliz em ajudar os seus concidadãos. Lembre-se do Capítulo 1 que Klein (1998) observa com aprovação que tanto o psicólogo Damásio (1994) quanto o filósofo DeSousa (1987) afirmam que a emoção está envolvida na percepção moral correta.
Pessoas praticamente sábias compreendem a essência da situação, diz Aristóteles. Elas não abandonam os princípios aplicáveis, entretanto, elas sabem mais do que apenas o que os princípios dizem. Elas têm um olhar desenvolvido na experiência, por meio do qual se concentram no que importa (NE VI II 1143b9–15). Elas são como médicos especialistas (NE X 9 1180b7–23) ou empresários (NE III 3 1112b4–7) ou carpinteiros (NE I 7 1098a29–34) ou comediantes (NE IV 8 1028a23–34), que têm que levar a sério os princípios de seu ofício, entretanto sabem quando e como aplicá-los em casos individuais complexos. Os estrategistas dos negócios são capazes de dizer a você o que está no manual, porém também eles têm uma noção bem treinada do que fazer em determinadas situações difíceis, que eles podem ver serem significativamente diferentes daquelas abordadas no manual. Nós visamos o meio-termo, diz Aristóteles, mas às vezes temos boas razões para nos desviarmos dele. Até que ponto nós podemos nos desviar é uma questão de percepção e não de razão (NE II 9 1109b19–23), no sentido de que não existem regras.
‘Em algumas situações complexas, contudo, ter princípios bastante inflexíveis para aplicar é um sinal de bom carácter.'(6) Por exemplo, um consultor pode ser honesto e, portanto, ter uma regra pessoal contra mentir a um cliente. Quando surge uma situação em que não mentir prejudicaria o relacionamento do consultor com o cliente e levaria a consequências negativas evitáveis para o cliente, o consultor tem que considerar ‘mentir para o cliente’ como uma descrição evidente de qualquer ação da qual seja verdadeira e a honestidade é ‘Preservar o relacionamento’ ou ‘prevenir as consequências A, B e C’ não são capazes de ser mais evidente para tal pessoa. Essa inflexibilidade é melhor, a longo prazo, para o caráter do agente e é uma barreira à racionalização. Se, como Koehn (1995, p. 534), Weaver (2006, pp. 347f.) e Annas (2011, passim) sugerem, um ato ético é aquele que não apenas segue, mas também desenvolve o nosso caráter, então isso é importante. É claro que ele não resolve todos os nossos problemas, pois em alguns casos pode dar resultados tão ruins que nós teremos de abandoná-lo. No entanto, isso exige, no mínimo, que nós tenhamos alguma razão forte para abandoná-lo.
(6)Para uma discussão mais aprofundada, ver Luban (2003, pp. 307f.)
Em alguns casos, nós temos motivos para refinar uma regra que, quando declarada de forma ampla, leva a consequências fortemente contraintuitivas. Portanto, nós podemos decidir que a regra ‘Nunca minta’ deve ser reformulada como ‘Nunca minta, exceto nas circunstâncias a, b, c., etc.,’ de modo que mentir para um cliente não seja permitido. Luban (2003) provavelmente não condenaria a mentira à KGB. Quando mentir é justificável é uma questão de percepção, diria Aristóteles; não existem regras inequívocas para a aplicação da regra contra a mentira. É preciso desenvolver um sentimento em relação a isso e algumas pessoas falham nisso e conseguem racionalizar.
A imaginação moral envolve inteligência e racionalidade. Aristóteles distingue as virtudes intelectuais das éticas, entretanto, ele entende o quanto elas estão intimamente relacionadas. Ele não dá pontos apenas por ter boas intenções. A posição Aristotélica recebe apoio de Haidt (2001), que argumenta que a inteligência é um fator causal no bom raciocínio e comportamento moral, mas abstém-se, com razão, de afirmar que ela é suficiente para a ética.
Nem todos ficarão impressionados. Aristóteles descobriu um problema e depois inventou a faculdade da sabedoria prática, que por definição o resolve. (Ele não seria o último filósofo a fazê-lo.) Há, no entanto, algum sentido na noção de que uma pessoa inteligente e atenciosa que se preocupa seriamente em ser um amigo generoso é capaz de, com a experiência, desenvolver algumas boas intuições sobre quando dar e quando reter. Se você for uma dessas pessoas e eu perguntar por que você recusou o último pedido de empréstimo de Jones, talvez você não consiga me dar uma resposta que me convença, no entanto, a sua resposta oferecerá uma visão da situação e refletirá uma preocupação genuína por Jones. E, em qualquer caso, não se é capaz de fazer melhor usando apenas princípios.
Pessoas praticamente sábias que tomam as melhores decisões éticas – pelo menos aquelas que conquistam o respeito mais generalizado e que posteriormente provocam menos arrependimento ou ressentimento entre as pessoas boas – não são necessariamente aquelas que conseguem falar mais fluentemente sobre princípios éticos. Elas são as pessoas que estão melhor sintonizadas com as nuances das situações com as quais têm que lidar, que melhor entendem os significados e as consequências das coisas que pretendem fazer, que têm a sensibilidade ética e a imaginação moral necessárias.(7) Assim, elas sabem o que a situação exige, porém além disso elas estão dispostas e são capazes de agir em conformidade.
(7)Aqui e em outras partes dessa seção eu estou em dívida com Paine (1991), que por sua vez reconhece a sua dívida para com alguns trabalhos então inéditos de Kupperman.
Vale repetir que Aristóteles chama o entendimento correto de sua situação e de suas possíveis ações de teste de caráter. Você é responsável pela forma como a situação parece para você e há algo errado com o seu caráter se você não tiver sabedoria prática para ver quais virtudes a situação exige (NE III 5 1114a32–b3 e VII 3 1147a18–35).
No Capítulo 4 nós discutiremos como a sabedoria prática é adquirida gradualmente ao longo de um longo período de tempo através da experiência e da instrução. Se a visão de Aristóteles sobre o longo processo de socialização estiver ainda próxima da verdade, a sabedoria prática é uma questão de grau, assim como a virtude. Ela pode estar sob ataque de forças da comunidade. Isso importa, porque nós somos criaturas comunitárias. Algumas pessoas são capazes de lidar melhor com essas forças do que são capazes com outras.
Sensemaking (Processo de Dar Sentido)
Weick e outros deram grande importância ao que chamam de sensemaking,(8) o que se assemelha um pouco à percepção de Aristóteles e à noção de enquadramento que tenho introduzido aqui. Uma grande parte do sensemaking consiste em encaixar um determinado evento em uma narrativa. Aristóteles quer que nós entendamos as escolhas deliberadas de um agente como parte da narrativa de uma vida. Ele reconhece a importância da comunidade para o caráter de alguém, entretanto, o caráter tem a ver com a narrativa de um indivíduo.(9) Sensemaking (a criação de sentido) é comunitária: as escolhas de alguém fazem sentido dentro de uma narrativa coletiva. A sua organização, a sua profissão, os seus colegas estão entre os fatores importantes que são capazes de determinar o que você faz e como interpretar o que você faz. Você não delibera como afirma Aristóteles quando toma decisões.
(8)Tudo começou com Weick (1969). Weick, Sutcliffe e Obstfeld (2005) é um resumo útil. Eu tenho também lucrado com Parmar. [Parmar, B. 2012. ‘Onde está a Ética na Tomada de Decisões Éticas? A partir da Consciência no Nível da Realidade [Awareness] Moral Intrapsíquica ao Papel das Rupturas Sociais, Rotulagem e Ações no Surgimento de Questões Morais.’ Publicado e distribuído pelo autor.]
(9)O capítulo 4 aborda essa questão mais detalhadamente.
Os defensores do sensemaking observam que, de qualquer forma, nas organizações, muitas vezes são tomadas decisões sérias quando algo inesperado exige uma resposta rápida e não está claro exatamente o que se pretende realizar ou quais são as suas opções. O silogismo prático não será muito útil, em parte porque nem a primeira premissa nem a segunda são claras. Você pode estar sob considerável pressão social para adotar certas premissas, enquadrar a situação de certas maneiras, sem ter tempo ou espaço para pensar cuidadosamente. Às vezes, o melhor que você é capaz de fazer é tentar entender o que aconteceu depois do fato.
Você pode descobrir que outros participantes na decisão entendem a situação de maneira muito diferente e que pode ser impossível chegar a um acordo sobre como enquadrá-la. Isso acontece em parte porque, ao contrário do que diria Aristóteles, nenhuma forma de sensemaking (fazer sentido) é certa ou errada, de acordo com os seus teóricos. Em qualquer caso, os participantes podem nem sequer concordar sobre o assunto da decisão e, portanto, quais as considerações que importam.
As divergências sobre como dar sentido a uma situação muitas vezes não são vistas inicialmente como questões morais, no entanto, elas podem ter implicações ou características morais. Por exemplo, um projeto proposto pode ter um retorno a longo prazo, porém não a curto prazo. Isso pode favorecer algumas partes interessadas em detrimento de outras. O argumento sobre qual é o melhor pode trazer algumas questões morais sobre as obrigações da gestão para com os atuais acionistas, em oposição aos futuros. E as divergências técnicas muitas vezes veem a ser morais quando aqueles que discordam começam a suspeitar dos motivos uns dos outros.
Qualquer pessoa que tenha trabalhado em uma grande organização de consultoria reconhecerá esse tipo de sensemaking. Pela natureza do trabalho, situações inesperadas surgem constantemente e raramente há apenas uma maneira de explicar do que se trata a situação. Os consultores competem para identificar o problema, pois a sua reputação de força está em jogo. Quem quer que perca a competição poderá então ter interesse em garantir que o vencedor esteja errado. Existem propósitos concorrentes também. Os melhores conselhos dos consultores podem ser indesejáveis e até mesmo fatais. Então, quão importante é preservar o relacionamento ao custo de aliviar a pressão? Quando os consultores tomam uma posição sobre questões como essa, normalmente eles não começam por contemplar o que a empresa como um todo está empenhada em alcançar e depois descobrem o que isso significa nesse caso. Eles apresentam os seus pontos de vista sobre o que deveria ser feito e depois os defendem com referência a princípios que refletem uma determinada visão do caso.
Mesmo que Aristóteles seja demasiado optimista em relação à deliberação racional, não há razão para acreditar que isso nunca aconteça. Nós temos observado que Aristóteles está ciente de pelo menos algumas das maneiras pelas quais nós ficamos aquém do que é, afinal, um ideal.
Os gestores têm boas razões para encorajar um ambiente em que as pessoas sejam capazes de reconhecer questões morais, cientes das diferentes formas como é possível enquadrar as situações e sensíveis à forma como os outros podem interpretar o comportamento deles e avaliar as suas formas de enquadramento.(10)
Aristóteles iria mais longe e argumentaria que os gestores podem melhorar a sua capacidade de reconhecer os aspectos verdadeiramente evidentes das situações complexas com as quais eles devem lidar. Nós somos capazes de crescer em sabedoria prática.(11)
(10)Parmar, B. 2012. ‘Onde está a Ética na Tomada de Decisões Éticas? Da Consciência no Nível da Realidade [Awareness] Moral Intrapsíquica ao Papel das Rupturas Sociais, Rotulagem e Ações no Surgimento de Questões Morais,’ pp. 268. Publicado e distribuído pelo autor.
(11)O Capítulo 4 trata de como nós podemos fazer isso.
Há muitas maneiras diferentes de entender a questão de enviar ou não Deborah para Londres e muitas maneiras de interpretar a decisão de Hal. Mesmo assim, muitos de nós não hesitaríamos em dizer que Hal acertou.
Estratégia virtuosa
Ter sabedoria prática é como ter faro para estratégia. Centenas de livros e artigos de revistas científicas oferecem técnicas analíticas úteis aos estrategistas, entretanto, nada substitui a capacidade de ver possibilidades que outros não conseguem ver, seja para alcançar um crescimento rentável ou para resolver algum dilema ético. Em ambos os casos, as regras são difíceis de formular e mais difíceis de aplicar, no entanto, a experiência e a inteligência parecem melhorar a capacidade de tomar boas decisões.
Na estratégia corporativa da vida real, como eu aprendi como consultor de gestão, há muito a ser dito sobre confiar nas intuições de uma pessoa inteligente e experiente, com um bom histórico (reputação). Beabout (2012, pp. 424f.) cita a história de Gladwell (2005, pp. 3-8) sobre alguns especialistas em arte que, solicitados a julgar se uma estátua era uma falsificação, rapidamente disseram que havia algo ‘simplesmente errado’ nela, embora eles tivessem dificuldade em dizer exatamente o que estava errado. A análise química subsequente os justificou e melhorou o histórico deles.
Estrategistas qualificados estão cientes dos dados que os analistas coletam; eles conhecem muitas técnicas para usar os números na avaliação das perspectivas de unidades estratégicas de negócios. Um bom estrategista pode ver ameaças e oportunidades por trás dos números. É uma questão de saber quais os fatores que são evidentes num determinado mercado – qualidade do produto, custo de produção, logística, imagem, quota de mercado e até qualidade da gestão. O que é evidente será diferente de um mercado/produto para outro e a capacidade de analisar um mercado envolve saber o que é evidente. Pode haver uma regra de que a quota de mercado é mais importante no negócio de fast food do que noutros lugares, no entanto, essa regra pode ser anulada por fatores como a má gestão e pode aplicar-se melhor em East Chicago do que em East Vassalboro.
Isso normalmente são necessários anos de experiência – habituação, nós poderíamos dizer – para desenvolver uma capacidade confiável de ver o que é evidente. Isso é semelhante à forma como as pessoas virtuosas vêem características eticamente evidentes de situações que outros não vêem, ou não consideram razões para agir. Um executivo pode até ter fortes evidências de que uma característica evidente é um fator de sucesso para uma unidade de negócios, entretanto, não agir de acordo, por racionalização egoísta. No entanto, por mais que os estrategistas entendam bem os números disponíveis, a certa altura terão de satisfazer e tomar uma decisão parcialmente intuitiva.(12) O histórico deles é uma prova da sabedoria deles.
(12)Simon (1954) inventou o conceito de satisficing, que envolve aceitar uma opção suficientemente boa em vez de tentar encontrar a melhor possível. Winter (1971) argumentou que nós temos que satisfazer ao decidir quando satisfazer.
[Observação PO: Satisficing é um processo de tomada de decisão que busca resultados adequados e não perfeitos. Satisficing pretende ser pragmático e economizar em custos ou despesas. O termo “satisfice” foi cunhado pelo cientista Americano e ganhador do Nobel Herbert Simon em 1956. Fonte: Investopedia]
Sucesso estratégico e meio ambiente
Na verdade, porém, o histórico em si nem sempre prova muita coisa. Rosenzweig (2007) argumentou que é fácil errar – como fizeram Peters e Waterman (1982) e muitos outros – ao olhar para empresas de sucesso e tentar identificar as características que explicam o seu sucesso. O diagnóstico padrão é que um verdadeiro vencedor tem uma cultura de apoio, concentra-se nos clientes, mantém uma missão amplamente entendida e possui outras características atraentes familiares. No entanto, muitas dessas empresas, tendo sido apresentadas como exemplos do que o leitor pode fazer para ter sucesso, apresentam um desempenho muito pior após a publicação do livro em questão. Em qualquer caso, os leitores do livro têm que entender que outras pessoas também podem lê-lo e que num ambiente competitivo nem todos os leitores são capazes de ter sucesso. O problema com o diagnóstico, diz Rosenzweig, é que as pessoas em empresas de sucesso tendem a dizer que a cultura delas é de apoio, que o seu foco está nos clientes e que a sua missão está na mente de todos: o sucesso tem um efeito halo; todos os outros fatores parecem bons. Não há dúvida de que ter uma cultura de mediocridade, ignorar os clientes e não ter uma missão fará pouco bem à empresa, entretanto, as regras que os gurus estratégicos identificaram são muitas vezes triviais, conforme afirmado.
Os gurus ignoram por vezes os efeitos do ambiente econômico e competitivo, segundo Rosenzweig e assim sobrestimam o que a estratégia pode fazer. Pfeffer (1982) argumenta que as decisões dos gestores têm muito menos efeito sobre o sucesso ou o fracasso do que nós intuitivamente acreditamos. Se nós julgarmos pelos relatórios anuais, os gestores parecem concordar em parte: o sucesso é resultado dos esforços da nossa excelente equipe de gestão; o fracasso é resultado de fatores além do nosso controle. Doris (2002) e outros chamados situacionistas apresentam o argumento paralelo ao nível individual: o nosso comportamento é determinado por fatores ambientais e não pelo nosso caráter, assumindo que até faz sentido falar sobre esse último.
Rosenzweig tem algo como uma teoria da estratégia da virtude. Os exemplos brilhantes dele, Bob Rubin e Andy Grove, sabem que decidir sobre uma estratégia é uma questão de lidar com a incerteza. O que é necessário, além da capacidade de avaliar as probabilidades da melhor maneira possível, é algo como coragem: você dá um salto para o desconhecido com a quantidade e o tipo apropriado de medo; e se as coisas derem errado, você estará pronto para pesar as probabilidades e fazer a mesma coisa novamente na próxima vez.
Você não se preocupa em ficar mal; você não recua para a segurança de não fazer nada ou de pensar em grupo. Você tem as virtudes da coragem, da sabedoria, da clarividência, da honestidade, da fidelidade adequada aos acionistas, do respeito apropriado pelas opiniões cautelosas de outros gestores seniores e assim por diante. Contudo, essas não garantem o sucesso. As coisas podem dar errado, como Rubin admitiria prontamente: a sorte nem sempre está do seu lado e você pode incorrer em descrédito no curto prazo, o que será desagradável. No entanto, o fracasso não prejudica a sua satisfação por ter feito o melhor que você foi capaz, nem a sua confiança na próxima tentativa.
Nós vemos também uma teoria da virtude da estratégia na noção de Collins (2001) de liderança de Nível 5, a capacidade que cria grandes empresas a partir de boas empresas. O único tipo de líder que pode alcançar essa transição é modesto, porém firme na determinação. Essas duas características, que nem sempre aparecem juntas, não são suficientes para alcançar a grandeza: se é capaz de ser modesto e resoluto, porém obtuso ou azarado, por exemplo. No entanto, é surpreendente que um certo tipo de caráter seja uma condição necessária para alcançar a grandeza a partir da bondade. A estratégia em si mesma, segundo Collins, simplesmente não é suficiente.
Permanece verdadeiro, contudo, que nós somos capazes de chegar mais facilmente a acordo em questões de gestão do que em questões éticas, porque é muito mais provável que nós cheguemos a acordo sobre o que conta como sucesso no primeiro caso. Mesmo que nós pudéssemos concordar sobre as prováveis consequências de algum ato ou estado, poderiam facilmente permanecer argumentos sérios – alguns deles melhores que outros – sobre a sua qualidade ética. Só por essa razão, um julgamento sobre um ato ou estado deve levar em conta a intenção com que é realizado e, portanto, o caráter do agente. É importante que um determinado ato seja corajoso ou egoísta ou desonesto ou gentil e por isso é importante que o agente o seja.
Cultura corporativa, vocabulário ético e percepção
Se você é uma pessoa de bom caráter no sentido de Aristóteles, você reconhece força e covardia genuínas quando as vê. Os gestores éticos não são capazes de mudar facilmente o carácter dos funcionários, no entanto eles são capazes de ajudá-los a virem a ser mais confortáveis e fluentes na linguagem do certo e do errado, particularmente das virtudes e dos vícios, sem os quais a sua imaginação moral será empobrecida, assim como a sua capacidade de fornecer descrições evidentes de situações moralmente significativas. Se a linguagem da economia é capaz de encorajar a maximização, a linguagem da virtude é capaz de encorajar o bom caráter e, portanto, as boas decisões.
O vocabulário é um dos principais veículos da cultura corporativa, como argumentaram Schein (1985) e outros. Uma organização em que pessoas imprudentes são chamadas de decisivas pode criar uma pressão entre pares que encoraja a desconsideração míope de eventuais custos. Aquele que age por impulso será chamado de forte. Aquele que prefere a moderação ou a consideração de alternativas será um fraco. É pouco provável que uma organização em que as mulheres sejam chamadas de garotas apoie as ambições das mulheres. Um Europeu da Salomon Brothers que vai para casa no final da tarde em vez de ficar e ser visto trabalhando até tarde é um ‘Eurofaggot’ [um Europeu esnobe e pretensioso?] (Lewis, 1989, p. 71).
O vocabulário do caráter não é uma língua estrangeira para os empresários. A maioria dos empresários considera a honra, a coragem e o respeito pelos colegas de trabalho e concorrentes como virtudes, sobre as quais falam com fluência e conforto.(13) A maioria diria que é o propósito legítimo das demonstrações financeiras fornecer uma imagem honesta da situação financeira de uma empresa. No entanto, algumas pessoas na Enron que poderiam ter se oposto por razões éticas se uma secretária tivesse levado algum papel do escritório para casa, não viam nada de errado na criação de entidades com fins especiais cujo objetivo especial era esconder perdas.
A organização falhou em ajudar a desenvolver um sentido maduro do certo e errado e evidente, não conseguiu dar-lhe uma linguagem e aperfeiçoá-la acolhendo a análise crítica. Se a linguagem moral local for empobrecida ou exercida de forma insuficiente, os funcionários poderão agarrar-se a alguma outra descrição não evidente da situação: ‘Eu estou apoiando o meu gestor, que sabe o que está fazendo’, ao invés de ‘Eu estou mentindo aos investigadores’. Eles podem não ter nenhuma reação emocional ao fazê-lo, ou tê-la e porém ignorá-la, de modo que no devido tempo a situação se deteriora.
(13)Para provas e argumentos a favor desse ponto de vista, ver Whetstone (2003).
A Enron nos fornece modelos negativos úteis. Uma forma(14) de melhorar as suas decisões é colocar-se questões como essa: Eu estou caindo num padrão de ação como o dos gestores da Enron? Eu estou caindo, como fizeram os contadores da Arthur Andersen que prestavam serviços à Enron, em ouvir os conselhos de colegas experientes? Que aspecto das minhas ações eu não estou percebendo? Eu estou adotando uma característica extrema e dizendo a mim mesmo que atingi o limite? Do lado positivo, eu posso pensar em Smith, a quem eu admiro e perguntar a mim mesmo o que ela faria nessa situação, ou o que ela diria se eu fizesse a ação A.
(14)Esse parágrafo se beneficia a partir da influência de Audi (2012).
Ser virtuoso e fazer a coisa certa
Considere o gestor que se recusa a participar na atividade corporativa imoral da Enron, mesmo sabendo que outra pessoa intervirá e ajudará a realizar o trabalho sujo. Esse gerente está dizendo, na verdade, que esse não é o tipo de pessoa que eu sou. Se Jones deve recusar-se a participar em atividades que pareçam questionáveis depende, em parte, de Jones ser um homem honesto, com a coragem de desafiar a gestão ao serviço daquilo que ele considera serem os melhores interesses da organização e dos seus legítimos intervenientes, ou um ego maníaco que habitualmente tenta mostrar a sua superioridade moral aos colegas. Nem sempre é fácil perceber a diferença numa única ocasião, entretanto, a ética da virtude não se trata principalmente de atos realizados em ocasiões únicas. O valor ético do ato em si mesmo depende em parte do caráter do agente.
Do ponto de vista da ética das virtudes, um funcionário é obrigado a ser um bom cidadão corporativo; os gestores seniores são então obrigados a manter uma empresa na qual um bom cidadão corporativo possa ter sucesso. Essa pessoa dá um dia de trabalho justo (porém na verdade não tenta maximizar a riqueza real de longo prazo dos acionistas), leva a sério as responsabilidades do trabalho e os objetivos da organização, protege adequadamente os seus próprios interesses pessoais, fala com franqueza, no entanto, não desrespeitosamente para com o chefe, recusa-se a seguir diretivas claramente imorais, procura situações vantajosas para todos e opõe-se ou subverte pessoas verdadeiramente más. Tudo isso é resultado de uma atitude adequada e semelhante à do profissional.
Um bom médico, advogado ou engenheiro tem que não apenas seguir as regras éticas da profissão, mas também adotar a atitude de que o bem-estar do cliente ou paciente é em si mesma uma razão para agir e que o cliente ou paciente muitas vezes não está em posição de tomar decisões cruciais sobre o que fazer.
O mesmo acontece com os bons funcionários em geral e em particular com aqueles que se assemelham a profissionais, na medida em que eles trabalham para chefes que não têm conhecimentos suficientes para avaliar o trabalho deles no curto prazo. Uma pessoa que é um bom funcionário nesse sentido provavelmente não cometerá muitos erros éticos ou estratégicos importantes, desde que a organização em si mesma não seja má.
Em qualquer caso, a gestão em si mesma, por oposição à supervisão, não envolve apenas decisões individuais. Quer esteja em questão a eficácia organizacional ou a moralidade, a boa gestão exige não apenas o estabelecimento de regras e padrões a serem seguidos pelos funcionários, mas também a sua socialização e, assim, a gestão das suas atitudes. Da mesma forma, Aristóteles diz que uma boa polis não só treina os cidadãos em hábitos virtuosos através de recompensas e punições, mas também os encoraja a serem verdadeiramente virtuosos – a serem racionalmente reflexivos e a terem emoções apropriadas. (Ver NE II 1–4 e Capítulo 4.) A primeira forma de gestão, que é orientada por princípios e a última, que é orientada pela virtude, podem reforçar-se mutuamente em vez de serem incompatíveis – ou podem não ser – como pode ser, fale sobre princípios e fale sobre virtude. Qual é o aspecto mais importante da gestão dependerá, em parte, de muitas características da organização, das pessoas gerenciadas, do mercado e assim por diante. Nós abordaremos esses assuntos mais detalhadamente no Capítulo 5.
É evidente que a organização de alguém e em geral a sua comunidade, terá um efeito significativo no seu caráter. Lembre-se de que Aristóteles tem razões para dizer que a política é central para a ética. Na medida em que hoje é o destino de muitas pessoas nos países industrializados viver em organizações, nós temos algumas das mesmas razões para dizer que a gestão é fundamental para a ética e que ela necessita de ser hospitaleira para com a virtude.
A cultura como uma ameaça à virtude
Ao dizer que nós somos criaturas essencialmente sociáveis, Aristóteles não estava pensando no quanto as organizações exercem uma poderosa influência socializadora e, às vezes, corrupta sobre o caráter dos funcionários. Sennett (1998) argumenta que a influência corporativa é geralmente inóspita ao bom caráter, mas ela nem sempre necessita ser. A cultura empresarial, bem como as estruturas e os sistemas, são capazes de ser implementadas para encorajar e acomodar o bom carácter.(15) Uma comunidade percorre um longo caminho no sentido de determinar os valores dos seus cidadãos – o que eles consideram como sucesso, por exemplo – para melhor ou para pior. Ao fornecer modelos e de outras formas, a cultura de uma comunidade pode fazer com que um cidadão queira ser um determinado tipo de pessoa, motivado por certas considerações e não por outras; isso é, pode afetar os desejos de segunda ordem das pessoas. Isso é verdade tanto nas comunidades corporativas como nas políticas.
Existem inúmeras evidências de que as organizações podem apoiar ou opor-se ao comportamento ético. Fritzsche (1991) argumenta que as forças organizacionais podem impulsionar as decisões mais do que os valores pessoais e (Fritzsche, 2000) que o clima organizacional pode aumentar ou diminuir a probabilidade de decisões éticas. Jones e Hiltebeitel (1995) encontram evidências dos efeitos das expectativas organizacionais nas escolhas éticas. Sims e Keon (1999) argumentam que as características organizacionais que mais influenciam os funcionários são determinadas pela situação; para que a organização possa promover a tomada de decisões éticas e antiéticas. Trevino, Butterfield e McCabe (2001) oferecem um relato detalhado e complexo dos efeitos do clima ético.
Eu tenho argumentado que a cultura corporativa é capaz de afetar os desejos de segunda ordem e de primeira ordem de um funcionário: as pessoas dominadas por uma cultura poderosa adotam os valores locais e a definição de sucesso e querem ser motivadas por aquilo que motiva os seus colegas (ver Hartman, 1994, 1996, 1998, 2006 e especialmente mais tarde no Capítulo 6).
O status do caráter
A própria existência do caráter
A influência do ambiente no comportamento é tão grande que Harman (2003) e Doris (2002) argumentam que o caráter não importa.(16) Baseiam a conclusão deles em parte nos argumentos de psicólogos sociais como Ross e Nisbet (1991) e invocam os conhecidos trabalhos de Milgram (1974) e Zimbardo (2007).
(15)Ver Walton (2001, 2004) e Moore (2002); Koehn (1998) tem uma visão ligeiramente diferente. [Walton, C. 2004. ‘’Bom Trabalho’, Mau Trabalho: Aristóteles e a Cultura do Local de Trabalho.” Publicado e distribuído pelo autor.]
(16)Minhas opiniões sobre esse assunto devem muito ao trabalho de Alzola (2008, 2011, 2012) e a muitas conversas úteis com ele. Alzola analisa o trabalho de Doris e de outros filósofos e psicólogos sociais e eu tenho feito uso extensivo de revisão dele nessa seção.
Zimbardo criou uma prisão simulada em um prédio de escritórios de Stanford e a povoou com estudantes aos quais foram atribuídos papéis de prisioneiros ou guardas prisionais e instruídos a agir de acordo. Em pouco tempo, os guardas estavam atormentando violentamente os prisioneiros, que reagiram ao tratamento da mesma forma que os prisioneiros reais reagiriam. Os papéis assumiam a todos, inclusive às vezes o próprio Zimbardo, o diretor da prisão, que ficou furioso quando um de seus colegas de departamento apareceu em seu escritório e lhe fez perguntas sobre o experimento justamente quando ele havia sido avisado de que os prisioneiros estavam no limite de uma fuga. As reações emocionais dos participantes, especialmente dos prisioneiros, foram tão extremas que o experimento foi encerrado após seis dias, em vez das duas semanas planejadas.
Os sujeitos desses experimentos eram pessoas comuns, não sádicos ou psicopatas. Na verdade, os sujeitos de Zimbardo tiveram bons resultados em termos de estabilidade emocional. O caráter deles parece não ter tido quase nada a ver com o seu comportamento. Milgram, cuja experiência ensina uma lição semelhante, descobriu mesmo que ele poderia alterar o comportamento dos seus sujeitos mudando ligeiramente a situação – por exemplo, adicionando um cúmplice que se sentaria ao lado do sujeito e obedeceria ou desobedeceria.
Trevino (1986) expressa uma visão dominante ao argumentar que tanto os atributos organizacionais quanto os pessoais afetam o comportamento nas organizações. Como os primeiros são mais fáceis de medir, os investigadores serão provavelmente mais atraídos por eles do que pelos estados psicológicos, especialmente se eles acreditarem que só existe o que pode ser medido. Doris (2002) e outros vão além disso: eles levantam questões sobre como é possível explicar o comportamento por referência ao caráter.
Razões questionáveis
Nós normalmente explicamos a ação intencional de outra pessoa com referência às razões dessa ação. Ao fazê-lo, nós pressupomos que o agente agiu racionalmente até certo ponto. Se você perguntar a Jones por que ele fez alguma coisa – isso é, o que ele pretendia alcançar ou o que deveria ser dito sobre a ação – e ele responde dizendo que ele não pretendia alcançar nada e que não havia nada de bom a ser alcançado pela ação, então nós temos motivos para duvidar que a ação dele tenha sido intencional ao final. Como nós observamos anteriormente, se Jones afirma que ele está prestes a fazer alguma coisa que ele reconhece plenamente ser um grande erro sob todos os pontos de vista, nós ficamos perplexos: nós nos perguntamos se ele está falando sério o que ele está dizendo e nós nos perguntamos se o ato realmente é intencional.
Mesmo assim, a fraqueza da vontade é possível e explicável, como mostra Aristóteles. No entanto, a situação é ainda pior do que a descrita por Aristóteles. Muitas vezes nós nem sabemos quais são as razões que impulsionam as nossas ações. Portanto, Jones pode considerar-se justificado em patrocinar e até mesmo assediar Smith. Se for questionado, ele poderá afirmar sinceramente que não é preconceituoso. Ele pode até negar que está tratando Smith com desrespeito, ou ele pode dizer que Smith merece esse tipo de tratamento, que não tem nada a ver com o fato de ela ser mulher.
Por que nós pensamos tão prontamente que nós estamos agindo racional e eticamente quando nós não estamos? Para começar, nós temos grande confiança nas nossas opiniões sobre as nossas razões para agir porque é característico dos eventos mentais que os seus proprietários possam relatá-los. Eu sou capaz de saber que eu estou com dor de uma forma que nenhuma outra pessoa pode, por exemplo e é difícil ver como eu posso estar errado ao acreditar que eu estou com dor. Entretanto, embora o meu processo de deliberação sobre se devo comer esse alimento seco possa parecer imediatamente evidente para mim, eu posso estar errado sobre isso. Eu posso ter bastante clareza em minha mente que eu estou julgando Smith de forma justa com base em critérios de desempenho padrão, embora na verdade seja preconceituoso e julgue de acordo, por mais estranho que me pareça supor que eu não tenho conhecimento de algumas características importantes de meu estado mental. Portanto, se as pessoas me perguntam por que eu estou fazendo alguma coisa, normalmente eu respondo com bastante confiança, embora nem sempre com precisão.(17) E é claro que nós gostamos de pensar bem de nós mesmos.
(17)Muitas vezes de forma imprecisa, diria Haidt (2012, p. 60 e outros).
A falha de carácter de Jones pode levá-lo a pensar na sua decisão de despedir Smith como uma resposta razoável à incompetência de Smith, ao passo que uma descrição evidente seria que isso é uma expressão do seu ressentimento em relação às mulheres no local de trabalho. Inclinado a demitir Smith, Jones pode procurar princípios, especialmente autocongratulatórios, para justificá-lo. A verdadeira primeira premissa do silogismo prático não é ‘É bom tratar as pessoas com justiça,’ porém ‘É bom colocar uma mulher arrogante no seu lugar.’ Nesse caso, ou no caso de um árbitro de placa que, inconscientemente e muito ligeiramente, favorece a equipe da casa com as suas decisões, nós podemos começar a duvidar que faça muito sentido falar sobre as primeiras premissas. É como comer um donut porque tem um gosto bom, mas depois afirmar que se segue o princípio de que se deve abastecer-se de hidratos de carbono caso o esforço físico se revele necessário. Haidt (2012 e em correspondência) e outros afirmam que é assim que as coisas normalmente são, que os nossos princípios são em grande parte ‘só por exibição.’
Alegações sinceras de respeito às mulheres, de arbitragem justa e de evitar ser cruel com pessoas inocentes pouco nos dizem sobre as primeiras premissas dos agentes, pouco sobre o seu caráter. A falta de confiabilidade dessas afirmações levanta a questão de saber se o caráter é uma entidade que vale a pena postular. O que realmente impulsiona o comportamento é, diriam os situacionistas, o ambiente imediato – pressão social, cultura corporativa, até mesmo um breve encontro agradável. A evidência a partir da psicologia social é forte: manipulamos fatores aparentemente insignificantes no ambiente e, assim, nós manipulamos o comportamento.
Aristóteles afirma que a polis de uma pessoa é uma forte influência formativa, entretanto, ele não está se referindo a influências mais imediatas que têm pouco a ver com razões para agir.
Inconsistências
Não se trata apenas de pessoas serem (digamos) sexistas ou cruéis, embora afirmem que não o são. A maioria das pessoas não é muito consistente, mesmo nas características que elas admitiriam. E onde elas são consistentes, as suas características não acompanham virtudes e vícios. Nós encontramos pessoas que são cuidadosas em alimentar o cachorro, entretanto, não em chegar ao trabalho na hora certa e pessoas que são corajosas no campo de futebol e covardes na cadeira do dentista.
Este tipo de inconsistência é um problema para a ética das virtudes, que exige atitudes que diferem de uma situação para outra dependendo do que for apropriado. Pode ser um fato psicológico que as pessoas que confiam nas suas crenças fundamentadas tendem a ser teimosas em todos os aspectos, no entanto, a confiança nas suas crenças fundamentadas é uma virtude e a teimosia um vício. O bom caráter requer capacidade perceptiva para avaliar corretamente situações complexas.
Doris e outros filósofos familiarizados com a investigação dos psicólogos sociais consideram que essa capacidade falta na maioria dos casos; portanto, afirmam eles, a noção de caráter não tem papel explicativo. A experiência de Asch (1955) parece apoiar Doris. Nela, os sujeitos cometeram erros flagrantes ao estimar os comprimentos comparativos das linhas porque os confederados na presença deles aparentemente o faziam. Mas certamente Doris não inferiria que não há tal coisa como percepção.
Harman (2003) chega a dizer que as pessoas não possuem características, que o ambiente determina tudo para todos. Isso parece implicar que não existe psicopata, por exemplo. Alguém que cumpriu várias penas de prisão por crimes violentos não é, nem sequer veio a ser, um criminoso cruel. Coloque o assassino em série (serial killer) perto de uma padaria em funcionamento com cheiro de massa e você terá uma pessoa perfeitamente legal.
Não há dúvida de que o carácter tem menos papel do que nós gostaríamos de acreditar, entretanto, não está claro que ele nunca tenha qualquer papel. O que nós devemos dizer dos sujeitos da experiência de Milgram que se recusaram a continuar? Não há nenhuma diferença importante entre aqueles que agiram com relutância e aqueles que o fizeram quase com entusiasmo? E quanto às pessoas – raras, com certeza – que parecem nunca racionalizar, que são capazes de agir contra os seus interesses imediatos na busca da justiça, que temem apenas o que deveria ser temido? Dizer que são pessoas de caráter é sugerir que o caráter é um fator explicativo nas suas ações, mas não nas de todas ou mesmo da maioria das pessoas.
A virtude é uma questão de grau; aquilo é importante. Como nós discutiremos em detalhes no Capítulo 4, o caráter de uma pessoa se desenvolve ao longo de um longo período de tempo e há poucas pessoas que se desenvolvem tão bem e tão longe que nós podemos contar com elas para agir com virtude em todo tipo de situação. No entanto, esse fato não nos impede de ter uma ideia bastante clara do que é um bom caráter e nós somos capazes de por vezes agir de acordo com o ideal e por vezes realizá-lo quando nós não o temos. Isso não é novidade para Aristóteles, como mostra a sua discussão sobre a fraqueza da vontade; ele nos lembra que os homens não são deuses. O fato de Aristóteles sustentar que a Divindade é pura racionalidade e que a racionalidade humana agrada aos deuses (ver Metafísica VII 7-10 e NE X 7-8, especialmente 8 1179a22-4) dá uma pista sobre o que ele quer dizer com essa afirmação.
Aristóteles não acredita que a virtude esteja tão fora do alcance dos humanos que não possa ser a base de uma teoria ética realista. Contudo, ele acredita claramente que algumas pessoas, como os agricultores e as mulheres, não são capazes de ser verdadeiramente virtuosas. Isso não faz com que a sua ética seja mais irrealista do que outras teorias de ética. Alguém poderia ser um consistente utilitarista ou Kantiano? Muitas pessoas são irracionais, também, no entanto, isso não nos dá razão para parar de falar sobre a importância de ser racional.
Por analogia com o caráter, consideremos a inteligência, que normalmente envolve a capacidade de pensar racionalmente no sentido amplo do termo. Se eu estou tentando resolver um problema, teórico ou prático, a minha inteligência é um fator, mas apenas um dos fatores. A minha inteligência pode falhar: alguma coisa na apresentação do problema pode fazer com que seja impossível para mim encontrar a resposta certa, o que em circunstâncias normais seria óbvia. Enigmas e problemas lógicos complicados ilustram esse ponto. Os testes de inteligência são notoriamente pouco confiáveis, pois você é capaz de obter duas pontuações muito diferentes em dois dias diferentes. São também de validade questionável, uma vez que não captam todas as facetas da inteligência tal como nós a entendemos. Ainda assim, parece absurdo negar que existem graus de inteligência: algumas pessoas são mais inteligentes que outras. Algumas pessoas são mais inteligentes em algumas coisas do que outras, como no caso de algumas virtudes. E é claro que algumas pessoas inteligentes não são muito racionais no sentido prático, como observa Kahneman (2011, p. 49).
Se estou tentando agir de forma ética ou prática, o meu caráter é um fator. Se eu chocar o ‘sujeito’ na experiência de Milgram ou abusar do ‘prisioneiro’ na experiência de Zimbardo, isso não significa que eu seja uma pessoa má. Os seres humanos nem sempre agem de acordo com as suas virtudes; desejos de segunda ordem nem sempre são eficazes. Se eu fosse uma pessoa realmente má, empreenderia choques e abusos sem nenhuma pressão social e sem o desconforto evidente que muitos sujeitos sentiam. Nos termos de Aristóteles, eu seria vulgar e não incontinente, embora mesmo uma pessoa vulgar possa sentir auto aversão (auto-ódio) (NE IX 4 1166b23-9). Da mesma forma, se eu fosse realmente estúpido, não conseguiria resolver um enigma complicado, mesmo que não fosse apresentado de forma enganosa ou perturbadora.
Questionando a racionalidade e a virtude
Muitos dos argumentos contra o caráter como variável independente funcionam igualmente bem contra a racionalidade, que Aristóteles considera ser uma parte importante do bom caráter. (Ver Rabin, 1998, e especialmente Haidt, 2001, pp. 827f.) Como Kahneman e Tversky (2000) e outros demonstraram, as pessoas são muitas vezes extraordinariamente irracionais. Parece que os negadores do caráter e os negadores da racionalidade estão defendendo alguma coisa próxima do mesmo ponto. Segundo eles, nós não explicamos nem justificamos uma ação afirmando a primeira premissa do silogismo prático de um agente. Não há nada ali.
No entanto, nós invocamos rotineiramente a racionalidade na explicação, bem como na crítica, das ações humanas, apesar da prevalência da irracionalidade. Se todas as ações intencionais têm que ser racionais de alguma forma e se existem algumas ações aparentemente intencionais que são irracionais, nós poderíamos ser tentados a dizer que não existem ações intencionais, que nós deveríamos parar de falar sobre ações intencionais porque nós somos muitas vezes irracionais.(18) Entretanto, desistir de falar de intenções seria um preço pesado, talvez impossível, para pagar. Nós somos capazes de imaginar como seria parar de deliberar?
Kahneman argumenta (2002, pp. 44-6) que é capaz de haver akrasia tanto intelectual como prática – fraqueza do intelecto. Você é capaz de simplesmente deixar de raciocinar sobre um problema, como um silogismo comum, talvez como resultado do vício da preguiça. Você é capaz e Haidt acredita que nós fazemos com frequência, de acreditar em alguma coisa porque você quer.
Não se segue que não exista deliberação racional, prática ou intelectual. A afirmação de que é racional acreditar que não é racional acreditar em alguma coisa é autodestrutiva. De qualquer forma, nós não paramos de ensinar lógica, formal ou informal, só porque a maioria das pessoas não é muito lógica.
Russell (2009, pp. 125-9) compara as virtudes com a racionalidade e invoca o princípio da caridade defendido por Davidson (2001). A questão, grosso modo, é essa. Suponha que você e eu falamos línguas diferentes. Quando você faz uma afirmação como ‘Il pleut,’ eu não sou capaz de entender o que você diz a menos que saiba em que você acredita; no entanto, a maneira óbvia de saber em que você acredita é ouvir e entender o que você diz. Círculo vicioso.
Entretanto, eu não posso inferir a sua crença e, portanto, o seu significado a partir do fato perceptível de que está chovendo? Somente se eu (caridosamente) presumir que na maioria das vezes, quando você diz isso, você tem e está expressando uma crença verdadeira sobre o clima atual. Da mesma forma, nós teríamos muita dificuldade em comunicar os nossos desejos e intenções e em explicar as nossas ações uns aos outros, a menos que nós pudéssemos assumir que na maior parte do tempo nós somos capazes e agimos racionalmente.(19)
(18)Essa parece ser a inferência tirada por Pfeffer (1982).
(19)O argumento de Russell iguala-se ao do Capítulo 1 sobre o sentido em que as virtudes são causas.
Evidência de graus de força de caráter
Baumeister e Tierney (2011) oferecem evidências de que algumas pessoas têm o que nós podemos chamar de maior força de caráter: elas são melhores do que outras em adiar gratificações, controlar os seus temperamentos, persistir em tarefas difíceis, não serem manipuladas pelo ambiente e evitar fraquezas de vontade. A força de vontade, como a chamam, é crucial para uma vida bem-sucedida. Eles citam os famosos experimentos de Mischel (ver, por exemplo, Shoda, Mischel e Peake, 1990) que mostram que as crianças que são capazes de resistir a comer um marshmallow agora, para conseguir dois depois, viverão melhor em muitos aspectos do que aquelas que não podem esperar. Essa capacidade de considerar e comparar bens ao longo do tempo, sugere Aristóteles, é uma das funções da razão (De Anima III 10 433b5–10, III 11 434a5–10, citado por Irwin, 1988, p. 346). Algumas pessoas simplesmente têm mais dessa habilidade do que outras.
Como Aristóteles se concentra tanto na fraqueza da vontade ao discutir o caráter, as conclusões de Baumeister e Tierney sobre a força de vontade merecem a nossa atenção. A força de vontade pode ser cultivada de diversas maneiras, dizem eles, mas às vezes tem muito a ver com a disponibilidade de glicose no organismo. Baumeister e Tierney sugerem que a força de vontade é uma questão de grau, tal como dissemos que a racionalidade e a virtude o são. No entanto, eles oferecem poucas razões para acreditar que há muitas pessoas que têm tanta força de vontade que são totalmente virtuosas no sentido de Aristóteles – isto é, pessoas que nem sequer se sentem tentadas a comer o único marshmallow agora, a ficarem descontroladas e com raiva, ou para navegar na Internet em vez de trabalhar. Nem de fato Aristóteles afirma que existem muitas pessoas assim.
Nós sabemos que Aristóteles faz uma abordagem teleológica da natureza. Por vezes, as suas declarações sobre a racionalidade e a virtude como estados naturais parecem mais aspiracionais do que factuais, mas ele não é um optimista cego. As substâncias têm essencialmente potência, diz ele: como fato científico, têm fins para os quais se movem caracteristicamente e que por vezes alcançam. O fato de algumas árvores morrerem como mudas e de algumas pessoas não desenvolverem um caráter maduro não muda a natureza das árvores ou das pessoas.
Não é novidade para Aristóteles que é necessária muito mais intervenção para levar uma pessoa à plena realidade do que uma árvore e que há mais maneiras de falhar. Nós não devemos considerar as suas opiniões totalmente estranhas. Parece plausível dizer que apenas a humanidade é capaz de certas formas de racionalidade, embora nós saibamos que muitas vezes nós não somos racionais e quase nunca nós somos perfeitamente racionais. Mas às vezes nós somos e deveríamos ser e Aristóteles oferece um sentido no qual nós somos capazes de ser.
Implicações práticas
Para os gestores, a questão do status do caráter não é uma questão abstrata ou ociosa. Se Doris e os outros estiverem em grande parte certos, então os gerentes provavelmente descobrirão que a criação de uma força de trabalho de funcionários entusiasmados e competentes é feita de forma mais eficaz através do desenvolvimento de uma cultura corporativa de apoio do que testando o caráter dos possíveis funcionários (honestidade, por exemplo) e contratando apenas pessoas virtuosas. Na medida em que essa última opção seja possível, vale a pena tentar. Na medida em que é difícil, nós não temos base para dizer que isso ou qualquer outra coisa que seja difícil de medir não exista.
A motivação não é simples, como sabem os bons gestores. Aristóteles sugere que o caráter é uma questão daquilo que o motiva, mas também que a sua comunidade é um determinante significativo do seu caráter. Se houver alguma coisa na visão dos situacionistas, nós podemos esperar que uma cultura organizacional forte influenciará o que motiva os funcionários: ela pode afetar a visão dos funcionários sobre a missão da organização, por exemplo; pode afetar a noção de sucesso pessoal das pessoas. Aristóteles e os situacionistas divergem sobre até que ponto os empregados são maleáveis no curto prazo. Essa é uma questão empírica. O mínimo que nós somos capazes de dizer é que algumas pessoas são mais maleáveis que outras.
Nós começamos esse capítulo perguntando como a ética da virtude responde à pergunta: ‘O que eu devo fazer?’ O tipo de resposta que oferece tem valor mesmo que o agente não consiga seguir o conselho de agir virtuosamente. No entanto, a ética da virtude dá razão para seguirmos o conselho e, de fato, para sermos virtuosos, como explica o próximo capítulo.
…..Continua Parte IV…..
—–
Bibliografia do livro “Virtue In Business”, autor Edwin M. Hartman
Abdolmohammadi, M., and M. F. Reeves. 2003. “Does Group Reasoning Improve Ethical Reasoning?” Business and Society Review, 108, 127–37.
Adler, P., and S. Kwon. 2002. “Social Capital: Prospects for a New Concept.”
Academy of Management Review, 27, 17–40.
Akerlof, G. 1982. “Labor Contracts as Partial Gift Exchange.” Quarterly Journal of Economics, 97, 543–69. – 2007. “The Missing Motivation in Macroeconomics.” Presidential Address. Nashville, TN: American Economic Association.
Allen, W. 2006. “Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation”. In Professional Responsibility, 35–47. NYU Stern, Course Book.
Alzola, M. 2008. “Character and Environment: The Status of Virtues in Organizations.” Journal of Business Ethics, 78, 343–57. – 2011. “The Reconciliation Project: Separation and Integration in Business Ethics Research.” Journal of Business Ethics, 99, 19–36. – 2012. “The Possibility of Virtue.” Business Ethics Quarterly, 22, 377–404.
Annas, J. 2011. Intelligent Virtue. New York: Oxford University Press.
Anscombe, G. 1957. Intention. Oxford: Basil Blackwell. – 1997. “Modern Moral Philosophy.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 26–44. New York: Oxford University Press.
Appiah, K. A. 2006. Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. New York: W. W. Norton.
Aristotle. 1894. Ethica Nicomachea. Edited by I. Bywater. Oxford: Clarendon Press. – 1907. De Anima. Edited by R. D. Hicks. Cambridge: Cambridge University Press. – 1957. Politica. Edited by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press. – 1962. The Politics of Aristotle. Translated by E. Barker. New York: Oxford University Press. – 1999. Nicomachean Ethics, 2nd edition. Translated by T. H. Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Asch, S. 1955. “Studies of Independence and Conformity: A Minority of One against a Unanimous Majority.” Psychological Monographs, 70.9, Whole No. 416.
Audi, R. 1989. Practical Reasoning. New York: Routledge. – 1997. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford University Press. 2012. “Virtue Ethics as a Resource in Business.” Business Ethics Quarterly, 22, 273–91.
Baumeister, R., and J. Tierney. 2011. Willpower: Discovering the Greatest Human Strength. New York: Penguin Press.
Bazerman, M., and A. Tenbrunsel. 2011. Blind Spots: Why We Fail to Do What’s Right and What to Do about It. Princeton: Princeton University Press.
Beabout, G. 2012. “Management as a Domain-Relative Practice that Requires and Develops Practical Wisdom.” Business Ethics Quarterly, 22, 405–32.
Beadle, R., and K. Knight. 2012. “Virtue and Meaningful Work.” Business Ethics Quarterly, 22, 433–50.
Beaman, A., P. Barnes, B. Klentz, and B. McQuirk. 1978. “Increasing Helping Rates Through Information Dissemination: Teaching Pays.” The Personality and Social Psychology Bulletin, 4, 406–11.
Belk, R. 1985. “Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World.” Journal of Consumer Research, 12, 265–80.
Berkowitz, P. 1999. Virtue and the Making of Modern Liberalism. Princeton: Princeton University Press.
Bertland, A. 2009. “Virtue Ethics in Business and the Capabilities Approach.” Journal of Business Ethics, 84, 25–32.
Blasi, A. 1999. “Emotions and Moral Motivation.” Journal for the Theory of Social Behavior, 29, 1–19.
Boatright, J. 1995. “Aristotle Meets Wall Street: The Case for Virtue Ethics in Business.” A review of Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business, by Robert C. Solomon. Business Ethics Quarterly, 5, 353–9.
Bowles, S., and H. Gintis. 2011. A Cooperative Species: Human Reciprocity and its Evolution. Princeton: Princeton University Press.
Bragues, G. 2006. “Seek the Good Life, Not Money: The Aristotelian Approach to Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 67, 341–57.
Burke, J. 1985. “Speech to the Advertising Council.” In W. M. Hoffman and J.M.Moore (Eds.), Management of Values: The Ethical Difference in Corporate Policy and Performance, 451–6. New York: McGraw-Hill Book Company.
Burns, J. 1978. Leadership. New York: Harper and Row.
Calkins, M., and P.Werhane. 1998. “Adam Smith, Aristotle, and the Virtues of Commerce.” The Journal of Value Inquiry, 32, 43–60.
Carroll, A. 1981. Business and Society: Managing Corporate Social Performance. Boston: Little, Brown.
Cartwright, N. 1983. How the Laws of Physics Lie. New York: Oxford University Press.
Chaiken, S., R. Giner-Sorolla, and S. Chen. 1996. “Beyond Accuracy: Defense and Impression Motives in Heuristic and Systematic Information Processing.” In P. M. Gollwitzer and J. A. Bargh (Eds.), The Psychology of Action: Linking Cognition and Motivation to Behavior, 553–78. New York: Guilford Press.
Chan, G. 2007. “The Relevance and Value of Confucianism in Contemporary Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 77, 347–60.
Chen, A., R. Sawyers, and P. Williams. 1997. “Reinforcing Ethical Decision Making through Corporate Culture.” Journal of Business Ethics, 16, 855–65.
Chicago Tribune 2002. “Tribune Special Report: A Final Accounting.” September 1–4.
Ciulla, J. 2000. The Working Life: The Promise and Betrayal of Modern Work. New York: Three Rivers Press.
Claassen, R. 2012. Review of Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets, by Debra Satz. Business Ethics Quarterly, 22, 585–97.
Cleckley, H. 1988. The Mask of Sanity, 5th edition. St. Louis: C. V. Mosby.
Coase, R. 1937. “The Nature of the Firm.” Economica, 4, 386–405.
Colle, S., and P. Werhane. 2008. “Moral Motivation Across Ethical Theories: What Can We Learn for Designing Corporate Ethics Programs?” Journal of Business Ethics, 81, 751–64.
Collins, J. 2001. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap. . . and Others Don’t. New York: Harper Business, and J. Porras. 2002. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. New York: HarperCollins.
Costa, P., and R. Mac Crae. 1994. “Stability and Change in Personality from Adolescence through Adulthood.” In C. Halvorson, G. Kohnstamm, and R. Martin (Eds.), The Developing Structure of Temperament and Personality from Infancy to Adulthood, 139–50. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Crary, A. 2007. Beyond Moral Judgment. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Damasio, A. 1994. Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Putnam. 256 Bibliography
Daniels, N. 1979. “Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics.” Journal of Philosophy, 76, 256–82.
Darley, J. 1996. “How Organizations Socialize Individuals into Evildoing.” In D. Messick and A. Tenbrunsel (Eds.), Codes of Conduct: Behavioral Research into Business Ethics, 13–43. New York: Russell Sage Foundation.
Davidson, D. 2001. Essays on Actions and Events, 2nd edition. New York: Oxford University Press.
DeSousa, R. 1987. The Rationality of Emotion. Cambridge: MIT Press.
Donaldson, L. 2005. “For Positive Management Theories While Retaining Science: Reply to Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 109–13.
Donaldson, T., and T. Dunfee. 1999. Ties that Bind: A Social Contracts Approach to Business Ethics. Boston: Harvard Business Press.
Doris, J. 2002. Lack of Character: Personality and Moral Behavior. New York: Cambridge University Press.
Drake, M., and J. Schlachter. 2008. “A Virtue-Ethics Analysis of Supply Chain Collaboration.” Journal of Business Ethics, 82, 851–64.
Duhigg, C. 2012. The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business. New York: Random House.
Dunbar, R. 1992. “Neocortex Size as a Constraint on Group Size in Primates.” Journal of Human Evolution, 22, 469–93.
Dunfee, T., and D. Warren. 2001. “Is Guanxi Ethical? A Normative Analysis of Doing Business in China.” Journal of Business Ethics, 32, 191–204.
Dyck, B., and R. Kleysen. 2001. “Aristotle’s Virtues and Management Thought: An Empirical Exploration of an Integrative Pedagogy.” Business Ethics Quarterly, 11, 561–74.
Eastman, W., and M. Santoro. 2003. “The Importance of Value Diversity in Corporate Life.” Business Ethics Quarterly, 13, 433–52.
Elster, J. 1985. Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality. New York: Cambridge University Press. – 1998. “Emotions and Economic Theory.” Journal of Economic Literature, 36, 47–74.
Ely, R., and D. Thomas. 2001. “Cultural Diversity at Work: The Effects of Diversity Perspectives on Work Group Processes and Outcomes.” Administrative Science Quarterly, 46, 229–73.
Festinger, L. 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.
Foot, P. 1997. “Virtues and Vices.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 163–77. New York: Oxford University Press.
Fort, T. 1999. “The First Man and the Company Man: The Common Good, Transcendence, and Mediating Institutions.” American Business Law Journal, 36, 391–435. – 2001. Ethics and Governance: Business as Mediating Institution. New York: Oxford University Press. – 2008. Prophets, Profits, and Peace: The Positive Role of Business in Promoting Religious Tolerance. New Haven: Yale University Press.
Fox, D. 1985. “Psychology, Ideology, Utopia, and the Commons.” American Psychologist, 40, 48–58.
Frank, R. 1988. Passions within Reason: The Strategic Role of the Emotions. New York: W. W. Norton & Company. – 2004. What Price the Moral High Ground? Ethical Dilemmas in Competitive Environments. Princeton: Princeton University Press – T. Gilovich, and D. Regan. 1993. “Does Studying Economics Inhibit Cooperation?” Journal of Economic Perspectives, 7, 159–71.
Frankfurt, H. 1981. “Freedom of the Will and the Concept of a Person.” In G. Watson (Ed.), Free Will, 81–95. New York: Oxford University Press.
Freeman, R. E. 1994. “The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions.” Business Ethics Quarterly, 4, 409–21. – J. Harrison, and A. Wicks. 2007. Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success. New Haven: Yale University Press.
Friedman, M. 1970. “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits.” New York Times Magazine, September 13.
Fritzsche, D. 1991. “A Model of Decision-Making Incorporating Ethical Values.” Journal of Business Ethics, 10, 841–52. – 2000. “Ethical Climates and the Ethical Dimension of Decision Making.” Journal of Business Ethics, 24, 125–40.
Furman, F. 1990. “Teaching Business Ethics: Questioning the Assumptions, Seeking New Directions.” Journal of Business Ethics, 9, 31–8.
Galston, W. 1991. Liberal Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the Liberal State. New York: Cambridge University Press.
Geertz, C. 1983. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books.
Ghoshal, S. 2005. “Bad Management Theories are Destroying Good Management Practices. Academy of Management Learning and Education, 4, 75–91.
Gilbert, D. 2006. Stumbling on Happiness. New York: Knopf. – E. Pinel, T. Wilson, S. Blumberg, and T. Wheatley. 1998. “Immune Neglect: A Source of Durability Bias in Affective Forecasting.” Journal of Personality and Social Psychology, 25, 617–38.
Giovanola, B. 2009. “Re-Thinking the Ethical and Anthropological Foundation of Economics and Business: Human Richness and Capabilities Enhancement.” Journal of Business Ethics, 88, 431–44.
Gladwell, M. 2005. Blink: The Power of Thinking Without Thinking. New York: Back Bay Books (Little, Brown).
Gould, S. 1995. “The Buddhist Perspective on Business Ethics: Experiential Exercises for Exploration and Practice.” Journal of Business Ethics, 14, 63–70.
Graafland, J. 2009. “Do Markets Crowd Out Virtues? An Aristotelian Framework.” Journal of Business Ethics, 91, 1–19.
Gutting, G. 2011. “Pinker on Reason and Morality.” New York Times (electronic edition), October 26, 2011.
Haidt, J. 2001. “The Emotional Dog and its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment.” Psychological Review, 108, 814–34. – 2006. The Happiness Hypothesis. New York: Basic Books. – 2012. The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion. New York: Pantheon Books.
Hambrick, D. 2005. “Just How Bad Are Our Theories? A Response to Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 104–7.
Hampshire, S. 1983. Morality and Conflict. Cambridge: Harvard University Press.
Hardin, G. 1968. ”The Tragedy of the Commons.” Science, 162, 1243–8.
Hare, R. D. 1993. Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths among Us. New York: Simon and Schuster.
Hare, R. M. 1952. The Language of Morals. Oxford: Oxford University Press.
Harman, G. 2003. “No Character or Personality.” Business Ethics Quarterly, 13, 87–94.
Hartman, E. 1977. Substance, Body, and Soul: Aristotelian Investigations. Princeton: Princeton University Press. – 1994. “The Commons and the Moral Organization.” Business Ethics Quarterly, 4, 253–69. – 1996. Organizational Ethics and the Good Life. New York: Oxford University Press. – 1998. “The Role of Character in Business Ethics.” Business Ethics Quarterly, 8, 547–59. – 2001. “An Aristotelian Approach to Moral Imagination.” Professional Ethics, 8, 58–77. – 2006. “Can We Teach Character? An Aristotelian Answer.” Academy of Management Learning and Education, 5, 68–81. Bibliography 259
Hausman, D. 2012. Preference, Value, Choice, and Welfare. New York: Cambridge University Press.
Heath, J. 2009. “The Uses and Abuses of Agency Theory.” Business Ethics Quarterly, 19, 497–528.
Heugens, P., M. Kaptein, and J. van Oosterhout. 2006. “The Ethics of the Node versus the Ethics of the Dyad? Reconciling Virtue Ethics and Contractualism.” Organization Studies, 27, 391–411.
Hirschman, A. 1982. “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble?” Journal of Economic Literature, 20, 1463–84.
Horvath, C. 1995. “MacIntyre’s Critique of Business.” Business Ethics Quarterly, 5, 499–532.
Hursthouse, R. 1999. On Virtue Ethics. New York: Oxford University Press. Irwin, T. 1988. Aristotle’s First Principles. New York: Oxford University Press.
Jackson, K. 2012. Virtuosity in Business: Invisible Law Guiding the Invisible Hand. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Jehn, K., G. Northcraft, and M. Neale. 1999. “Why Differences Make a Difference: A Field Study of Diversity, Conflict and Performance in Workgroups.” Administrative Science Quarterly, 44, 741–63.
Jensen, M. 2010. “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function.” Journal of Applied Corporate Finance, 22, 32–42.- and W. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics, 3, 305–60. – 1994. “The Nature of Man.” Journal of Applied Corporate Finance, 72 (Summer), 4–19.
Johnson, M. 1993. Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics. Chicago: University of Chicago Press.
Johnson and Johnson. 1943. Credo. New Brunswick, NJ: Johnson and Johnson.
Jones, S., and K. Hiltebeitel. 1995. “Organizational Influence in a Model of the Moral Decision Process of Accountants.” Journal of Business Ethics, 14, 417–31.
Jones, T., and L. Ryan. 2001. “The Effect of Organizational Forces on Individual Morality: Judgment, Moral Approbation, and Behavior.” In
J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 285–300. New York: Elsevier Science.
Jos, P., and M. Tompkins. 2004. “The Accountability Paradox in an Age of Reinvention: The Perennial Problem of Preserving Character and Judgment.” Administration and Society, 36, 255–81.
Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. – and A. Tversky (Eds.). 2000. Choices, Values, and Frames. New York: Cambridge University Press.
Kant, I. 1981. Grounding for the Metaphysics of Morals. Translated by J. Ellington. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Kasser, T., and R. Ryan. 1996. “Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals.” Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280–7.
Klein, S. 1995. “An Aristotelian Approach to Ethical Corporate Leadership.” Business and Professional Ethics Journal, 14, 3–23. – 1998. “Emotions and Practical Reasoning: Implications for Business Ethics.” Business and Professional Ethics Journal, 17, 3–29.
Koehn, D. 1992. “Toward an Ethic of Exchange.” Business Ethics Quarterly, 2, 341–55. – 1995. “A Role for Virtue Ethics in the Analysis of Business Practice. Business Ethics Quarterly, 5, 533–9. – 1998. “Virtue Ethics, the Firm, and Moral Psychology.” Business Ethics Quarterly, 8, 497–513.
Kohlberg, L. 1981. Essays on Moral Development. Volume I: The Philosophy of Moral Development. New York: Harper and Row.
Kraut, R. 1989. Aristotle on the Human Good. Princeton: Princeton University Press.
Kupperman, J. 1991. Character. New York: Oxford University Press. – 2005. “How Not to Educate Character.” In D. Lapsley and F. C. Power (Eds.), Character Psychology and Character Education, 201–17. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
LeBar, M. 2009. “Virtue Ethics and Deontic Constraints.” Ethics, 119, 642–71.
Lerner, J., and P. Tetlock. 2003. “Bridging Individual, Interpersonal, and Institutional Approaches to Judgment and Decision Making: The Impact of Accountability on Cognitive Bias.” In S. Schneider and J. Shanteau (Eds.), Emerging Perspectives on Judgment and Decision Research, 431–57. New York: Cambridge University Press.
Lewis, M. 1989. Liar’s Poker: Rising through the Wreckage on Wall Street. New York: W. W. Norton.
Lieberman, M. D. 2000. “Intuition: A Social Cognitive Neuroscience Approach.” Psychological Bulletin, 126, 109–37.
Loewenstein, G., and D. Adler. 2000. “A Bias in the Prediction of Tastes.” In D. Kahneman and A. Tversky (Eds.), Choices, Values, and Frames, 726–34. New York: Cambridge University Press.
Luban, D. 2003. “Integrity: Its Causes and Cures.” Fordham Law Review, 72, 279–310.
MacIntyre, A. 1985. After Virtue, 2nd edition. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Maitland, I. 1997. “Virtuous Markets: The Market as School of the Virtues.” Business Ethics Quarterly, 7, 17–31.
Martin, M. 2006. From Morality to Mental Health: Virtue and Vice in a Therapeutic Culture. New York: Oxford University Press.
Maslow, A. 1987. Motivation and Personality, 3rd edition. New York: Harper and Row.
Matson, W. 2001. “Unfair to Justice.” Modern Age, 372–278.
McCabe, D., and L. Trevino. 1995. “Cheating among Business Students: A Challenge for Business Leaders and Educators.” Journal of Management Education, 19, 205–18.
McCloskey, D. 2006. The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce. Chicago: University of Chicago Press.
McCracken, J., and B. Shaw. 1995. “Virtue Ethics and Contractarianism: Towards a Reconciliation.” Business Ethics Quarterly, 5, 297–312.
McDowell, J. 1997. “Virtue and Reason.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 141–62. New York: Oxford University Press.
McKinnon, C. 2005. “Character Possession and Human Flourishing.” In D. Lapsley and F. Power (Eds.), Character Psychology and Character Education, 36–66. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
Melé, D. 2003. “The Challenge of Humanistic Management.” Journal of Business Ethics, 44, 77–88.
Melville, H. 2001. Billy Budd, Sailor. Chicago: University of Chicago Press. Merck. 2011. http://www.merck.com/responsibility/access/access-featuremectizan.html.
Messick, D. 1998. “Social Categories and Business Ethics.” In R. E. Freeman (Ed.), Business, Science, and Ethics, 149–72, Ruffin Series No. 1. Business Ethics Quarterly (Special Issue).
Metcalfe, J., and W. Mischel. 1999. “A Hot–Cool System Analysis of Delay of Gratification: Dynamics of Willpower.” Psychological Review, 106, 3–19.
Milgram, S. 1974. Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper and Row.
Miller, F. 1995. Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics. New York: Oxford University Press.
Moberg, D. 1999. “The Big Five and Organizational Virtue.” Business Ethics Quarterly, 9, 245–72. – 2006. “Ethics Blind Spots in Organizations: How Systematic Errors in Person Perception Undermine Moral Agency.” Organization Studies, 27, 413–28.- and M. Seabright. 2000. “The Development of Moral Imagination.” Business Ethics Quarterly, 10, 845–84.
Moore, G. 2002. “On the Implications of the Practice–Institution Distinction: MacIntyre and the Application of Modern Virtue Ethics to Business.” Business Ethics Quarterly, 12, 19–32. – 2005a. “Corporate Character: Modern Virtue Ethics and the Virtuous Corporation.” Business Ethics Quarterly, 15, 659–85. – 2005b. “Humanizing Business: A Modern Virtue Ethics Approach.” Business Ethics Quarterly, 15, 237–55. – 2008. “Re-imagining the Morality of Management: A Modern Virtue Ethics Approach.” Business Ethics Quarterly, 18, 483– 511. – 2009. “Virtue Ethics and Business Organizations.” In J. Smith (Ed.), Normative Theory and Business Ethics, 35–59. New York: Rowman and Littlefield. – 2012. “The Virtue of Governance, the Governance of Virtue.” Business Ethics Quarterly, 22, 293–318. – and R. Beadle. 2006. “In Search of Organizational Virtue in Business: Agents, Goods, Practices, Institutions and Environments.” Organization Studies, 27, 369–89.
Morris, C. 2008. The Trillion Dollar Meltdown: Easy Money, High Rollers, and the Great Credit Crash. New York: Public Affairs.
N´eron, P., and W. Norman. 2008. “Citizenship, Inc.” Business Ethics Quarterly, 18, 1–26.
Newton, L. 1992. “Virtue and Role: Reflections on the Social Nature of Morality.” Business Ethics Quarterly, 2, 357–65.
Nickerson, R. 1994. “The Teaching of Thinking and Problem Solving.” In R. Sternberg (Ed.), Thinking and Problem Solving, 409–49. San Diego: Academic Press.
Nielsen, R. 2001. “Can Ethical Character be Stimulated and Enabled: An Action-Learning Approach to Teaching and Learning Organization Ethics.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 51–77. New York: Elsevier Science.
Norman, W. 2002. “Inevitable and Unacceptable? Methodological Rawlsianism in Anglo-American Political Philosophy.” Political Studies, 46, 276–94.
Numkanisorn, S. 2002. “Business and Buddhist Ethics.” The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies, 1, 39–58.
Nussbaum, M. 1990. “Finely Aware and Richly Responsible: Literature and the Moral Imagination.” In Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, 148–67. New York: Oxford University Press. – 2010. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press.
Ostrom, E., and T. K. Ahn. 2009. “The Meaning of Social Capital and its Link to Collective Action.” In G. Svendsen and G. L. Svendsen (Eds.), Handbook of Social Capital: The Troika of Sociology, Political Science and Economics, 17–35. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
Owen, G. 1960. “Logic and Metaphysics in Some Earlier Works of Aristotle.” In I. During and G. Owen (Eds.), Plato and Aristotle in the Mid- Fourth Century, 163–90. Goeteborg: Almquist and Wiksell. – 1986. “Tithenai ta phainomena.” In M. Nussbaum (Ed.), Science and Dialectic, 239–51. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Paine, L. 1991. “Ethics as Character Development: Reflections on the Objective of Ethics Education.” In R. Freeman (Ed.), Business Ethics: The State of the Art. 67–86. New York: Oxford University Press.
Pastoriza, D., M. Arino, and J. Ricart. 2007. “Ethical Managerial Behaviour as an Antecedent of Organizational Social Capital.” Journal of Business Ethics, 78, 329–41.
Peters, T., and R. Waterman. 1982. In Search of Excellence. New York: Harper and Row.
Pfeffer, J. 1982. Organizations and Organization Theory. Boston: Pitman. – 2005. “Why Do Bad Management Theories Persist? A Comment on Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 96–100.
Phillips, R., and C. Caldwell. 2005. “Value Chain Responsibility: A Farewell to Arm’s Length.” Business and Society Review, 110, 345– 70.
Pinker, S. 2011. The Better Angels of our Nature: Why Violence has Declined. New York: Viking.
Pizarro, D., and P. Bloom. 2003. “The Intelligence of Moral Intuitions: Comment on Haidt.” Psychological Review, 110, 193–6.
Porter, M. 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
Prior, W. 2001. “Eudaimonism.” Journal of Value Inquiry, 35, 325–42.
Putnam, H. 2002. The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Cambridge: Harvard University Press.
Putnam, R. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster. – and D. Campbell. 2010. American Grace: How Religion Divides and Unites Us. New York: Simon and Schuster.
Quine, W. 1980. From a Logical Point of View, 2nd edition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rabin, M. 1998. “Psychology and Economics.” Journal of Economic Literature, 36, 11–46.
Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. – 1993. Political Liberalism. New York: Columbia University Press. Roca, E. 2008. “Introducing Practical Wisdom in Business Schools.” Journal of Business Ethics, 82, 607–20.
Rosenzweig, P. 2007. The Halo Effect . . . and the Eight Other Business Delusions that Deceive Managers. New York: Free Press.
Ross, L., and R. Nisbet. 1991. The Person and the Situation: Perspectives of Social Psychology. New York: McGraw-Hill.
Ross, W. D. 1930. The Right and the Good. New York: Oxford University Press.
Russell, D. 2009. Practical Intelligence and the Virtues. Oxford: Clarendon Press.
Salmieri, G. 2009. “Aristotle’s Non-‘Dialectical’ Methodology in the Nicomachean Ethics.” Ancient Philosophy, 29, 311–35.
Sandel, M. 2012. What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Schein, E. H. 1985. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
Sen, A. 1987. On Ethics and Economics. New York: Basil Blackwell. – 1997. “Human Rights and Asian Values.” New Republic, July 14–21. https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/sen.htm. – 2009. The Idea of Justice. Cambridge, MA: The Belknap Press. – and B. Williams (Eds.), 1982. Utilitarianism and Beyond. New York: Cambridge University Press.
Sennett, R. 1998. The Corrosion of Character: The Transformation of Work in Modern Capitalism. New York: W. W. Norton & Company.
Shaw, B. 1995. “Virtues for a Postmodern World.” Business Ethics Quarterly, 5, 843–63.
Shiller, R. 2012. Finance and the Good Society. Princeton: Princeton University Press.
Shoda, Y.,W. Mischel, and P. Peake. 1990. “Predicting Adolescent Cognitive and Self-regulatory Competencies from Pre-school Delay of Gratification: Identifying Diagnostic Conditions.” Developmental Psychology, 26, 978–86.
Simmel, G. 1955. Conflict and the Web of Group Affiliations. Trans. By K. H. Wolfe. Glencoe, IL: The Free Press.
Simon, H. 1954. “A Behavioral Theory of Rational Choice.” Quarterly Journal of Economics, 69, 99–118.
Sims, R., and T. Keon. 1999. “Determinants of Ethical Decision Making: The Relationship of the Perceived Organizational Environment.” Journal of Business Ethics, 19, 393–401.
Sison, A. 2003. The Moral Capital of Leaders: Why Ethics Matters. Northampton, MA: Edward Elgar. – 2008. Corporate Governance and Ethics: An Aristotelian Perspective. Northampton, MA: Edward Elgar. – 2011. “Aristotelian Citizenship and Corporate Citizenship: Who is a Citizen of the Corporate Polis?” Journal of Business Ethics, 100, 3–9. – and J. Fontrodona. 2012. “The Common Good of the Firm in the Aristotelian-Thomistic Tradition.” Business Ethics Quarterly, 22, 211–46.
Skidelsky, E. 2009. “Capitalism and the Good Life.” In S. Gregg and J. Stoner (Eds.), Profit, Prudence, and Virtue: Essays in Ethics, Business and Management, 242–53. Exeter, UK: Imprint Academic.
Skinner, B. 1972. Beyond Freedom and Dignity. New York: Bantam Vintage.
Slater, L. 2004. Opening Skinner’s Box: Great Psychological Experiments of the Twentieth Century. New York: W. W. Norton.
Slote, M. 1983. Goods and Virtues. New York: Oxford University Press. – 1992 From Morality to Virtue. New York: Oxford University Press. – 2001. Morals from Motives. New York: Oxford University Press.
Smith, H. 2012. Who Stole the American Dream? New York: Random House.
Solomon, R. 1992. Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business. New York: Oxford University Press.
Sommers, M. C. 1997. “Useful Friendships: A Foundation for Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 16, 1453–8.
Stark, A. 1993. “What’s the Matter with Business Ethics?” Harvard Business Review, 71, 38–48.
Sundman, P. 2000. “The Good Manager – A Moral Manager?” Journal of Business Ethics, 27, 247–54.
Toulmin, S. 1990. Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. Chicago: University of Chicago Press.
Trevino, L. K. 1986. “Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model.” Academy of Management Review, 11, 607–17. – K. Butterfield, and D. McCabe. 2001. “The Ethical Context in Organizations: Influences on Employee Attitudes and Behaviors.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 301–37. New York: Elsevier Science.
Trist, E., and K. Bamforth. 1951. “Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Coal Getting.” Human Relations, 4, 3–38.
Tsalikis, J., and O. Wachukwu. 2000. “A Comparison of Nigerian to American Views of Bribery and Extortion in International Commerce.” Journal of Business Ethics, 10, 85–98.
Tsoukas, H., and S. Cummings. 1997. “Marginalization and Recovery: The Emergence of Aristotelian Themes in Organization Studies.” Organization Studies, 18, 655–83.
Turbow, J., with M. Duca. 2010. The Baseball Codes: Beanballs, Sign Stealing, and Bench-Clearing Brawls: The Unwritten Rules of America’s Pastime. New York: Pantheon Books.
Turner, N., J. Barling, O. Epitropaki, V. Butcher, and C. Milner. 2002. “Transformational Leadership and Moral Reasoning.” Journal of Applied Psychology, 87, 304–11.
Tversky, A., and D. Kahneman. 1981. “The Framing of Decisions and the Psychology of Choice.” Science, 211, 453–8.
Vidaver-Cohen, D. 1997. “Moral Imagination in Organizational Problem-Solving: An Institutional Perspective.” Business Ethics Quarterly, 7, 1–26. – 2001. “Motivational Appeal in Normative Theories of Enterprise.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 3–26. New York: Elsevier Science.
Vlastos, G. 1994. Socratic Studies. New York: Cambridge University Press.
Walton, C. 2001. “Character and Integrity in Organizations: The Civilization of the Workplace.” Business and Professional Ethics Journal, 20, 105–28.
Weaver, G. 2006. “Virtue in Organizations: Moral Identity as a Foundation for Moral Agency.” Organization Studies, 27, 341–68. – and B. Agle. 2002. “Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A Symbolic Interactionist Perspective.” Academy of Management Review, 27, 77–97.
Weick, K. 1969. The Social Psychology of Organizing. Reading, MA: Addison-Wesley. – K. Sutcliffe, and D. Obstfeld. 2005. “Organizing and the Process of Sensemaking.” Organization Science, 16, 409–21.
Wells, T., and J. Graafland. 2012. “Adam Smith’s Bourgeois Virtues in Competition.” Business Ethics Quarterly, 22, 319–50.
Werhane, P. 1991. Adam Smith and his Legacy for Modern Capitalism. New York: Oxford University Press. – 1999. Moral Imagination and Management Decision-making. New York: Oxford University Press. – and M. Gorman. 2005. “Intellectual Property Rights, Moral Imagination, and Access to Life-enhancing Drugs.” Business Ethics Quarterly, 15, 595–613. – L. Hartman, D. Moberg, E. Englehardt, M. Pritchard, and B. Parmar. 2011. “Social Constructivism, Mental Models, and Problems of Obedience.” Journal of Business Ethics, 100, 103–18.
Whetstone, J. 2003. “The Language of Managerial Excellence: Virtues as Understood and Applied.” Journal of Business Ethics, 44, 343–57.
Williams, B. 1981. Moral Luck. New York: Cambridge University Press. – 1985. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge: Harvard University Press.
Williamson, O. 1975. Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-trust Implications. New York: Free Press.
Winter, S. 1971. “Satisficing, Selection, and the Innovative Remnant.” Quarterly Journal of Economics, 85, 237–61.
Woodruff, P. 2001. Reverence: Renewing a Forgotten Virtue. New York: Oxford University Press.
Zimbardo, P. 2007. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. New York: Random House.
Imagem jacek-dylag-PMxT0XtQ-A-unsplash.jpg – 5 de março de 2024
—–