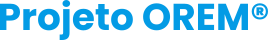Trechos do livro “Virtue In Business”, autor Edwin M. Hartman, para o nosso conhecimento e entendimento sobre as Organizações Baseadas na Espiritualidade (OBE) e a Espiritualidade no Ambiente de Trabalho (EAT).
Tradução livre Projeto OREM® (PO)
Virtude nos Negócios
Negócios, Criação de Valor e Sociedade
A abordagem da virtude à ética nos negócios é um tópico de importância crescente no mundo dos negócios. Concentrando-se na teoria de Aristóteles de que as virtudes do caráter e não as ações, são fundamentais para a ética, Edwin M. Hartman apresenta aos leitores desse livro o valor de aplicar a abordagem das virtudes de Aristóteles aos negócios.
Usando numerosos exemplos do mundo real, ele argumenta que os líderes empresariais têm boas razões para levar a sério o caráter ao explicar e avaliar os indivíduos nas organizações. Ele demonstra como a abordagem da virtude pode aprofundar o nosso entendimento da ética nos negócios e como pode contribuir para discussões contemporâneas sobre caráter, racionalidade, cultura corporativa, educação ética e ética global.
Escrito por um dos principais estudiosos Aristotélicos que trabalham atualmente na área, essa introdução oficial para o papel da ética da virtude nos negócios é um texto valioso para estudantes de pós-graduação e pesquisadores acadêmicos em ética nos negócios, ética aplicada e filosofia.
Edwin M. Hartman foi Professor Visitante de Ética Nos Negócios e codiretor do Seminário Paduano de Ética Nos Negócios na Stern School of Business da Universidade de Nova York até a sua aposentadoria em dezembro de 2009.
Antes de ingressar na Stern, ele lecionou por mais de vinte anos na escola de negócios e no departamento de filosofia da Rutgers University, onde ele foi diretor fundador do Prudential Business Ethics Center da Rutgers. Ele também é o autor de Substance, Body, and Soul: Aristotelian Investigations, de Conceptual Foundations of Organization Theory e de Organizational Ethics and the Good Life (nomeado Livro do Ano [2003] pela Divisão de Questões Sociais em Gestão da Academia de Administração).
…..Continuação da Parte III…..
Um resumo do argumento – Capítulo 3
Os humanos não são motivados como sugerem o modelo do homo economicus e a teoria da agência. Aristóteles defende que a vida boa não se trata da satisfação de qualquer preferência antiga, como acreditam alguns economistas, mas de preferências do tipo que são dignas do que os seres humanos são: criaturas racionais e sociais. Nós temos boas razões para tentar adquirir tais preferências, que geram capital social entre outros bens. As opiniões de Aristóteles sobre a vida boa podem parecer indevidamente estreitas e baseadas em visões contestáveis da natureza humana, entretanto, mesmo os teóricos liberais admitirão que existem limites naturais para o que pode ser considerado uma vida humana boa.
Capítulo 3 – Parte I
Virtudes, boas razões e vida boa
Ética e a vida boa
Se nós pensarmos que as pessoas são aquisitivas e egoístas, atoladas no pecado original ou simplesmente totalmente más, provavelmente nós pensaremos na ética como uma restrição: tu não farás todos os tipos de coisas que tu gostarias de fazer, ela [a Bíblia] diz.
Nós encontramos um pouco dessa atitude nas tradições Cristãs, bem como na obra de Kant e de outros moralistas. Não há dúvida de que a ética às vezes nos restringe, quando nós queremos fazer o que nós não deveríamos fazer. No entanto, Aristóteles e muitos outros eticistas da virtude enfatizam que a vida virtuosa é uma vida boa, que qualquer ser humano terá boas razões para abraçar. E se você for uma pessoa de bom caráter, você gostará de ser ético. Você terá temperança em vez de mera continência. Você não irá querer fazer o que não deveria fazer.
Aristóteles argumenta, com efeito, que a moralidade não tem a ver principalmente com restrições. Boatright (1995; uma revisão de Solomon, 1992) afirma que a restrição desempenha um papel significativo na moralidade. Aristóteles provavelmente concordaria. Como nós não somos tão perfeitos quanto os deuses, às vezes nós necessitamos da continência ou da restrição da lei contra desejos que nós preferiríamos não ter e nós temos visto que Aristóteles entende claramente que nós somos capazes de deixar de controlar a nós mesmos. E é claro que Aristóteles dá grande importância às leis.
As pessoas nos negócios, em particular, muitas vezes vêem a ética como uma restrição e não como parte da sua função de utilidade. Afinal, os negócios são competitivos e a Regra de Ouro não é obviamente uma estratégia competitiva sólida. Se as pessoas nos negócios aceitarem muitos pressupostos dos economistas, elas acreditarão que as pessoas são egoístas de uma forma simples e elas poderão então fazer com que essa crença seja autorrealizável.
A abordagem de Aristóteles é diferente. Em seus trabalhos éticos ele foca no que é bom para o agente, no que constitui uma vida de eudaimonia. O termo é geralmente traduzido em Inglês para flourishing (florescimento[?]) em vez de felicidade, em parte porque é indiscutivelmente possível alcançar a felicidade, mas não a eudaimonia, da forma errada – por exemplo, através da ignorância. Nós poderíamos traduzi-lo por bem-estar, embora o flourishing implique a comparação pretendida por Aristóteles entre humanos e animais não humanos, bem como plantas.
Pois, na opinião de Aristóteles, como nós temos observado, toda substância, incluindo o ser humano, tem uma essência e um estado final ou propósito associado. Como nós somos criaturas essencialmente sociáveis e racionais, o nosso fim natural é viver em comunidades de um certo tipo e pensar e agir racionalmente. Se você atingir a sua realidade como pessoa, você é virtuoso (ou, na tradução alternativa, excelente). Você está em um estado de eudaimonia, uma forma de bem-estar particularmente ampla, profunda e duradoura, característica do bom caráter e da saúde psicológica, que é em si mesma uma noção normativa.(1) Perguntando que razão eu tenho para ser virtuoso, Aristóteles acharia tão estranho como perguntar que razão eu tenho para ser saudável.
(1)A literatura sobre eudaimonia e felicidade é vasta. Eu tenho aprendido muito com Prior (2001), McKinnon (2005) e Annas (2011) em particular. Kraut (1989) tem um ponto de vista ligeiramente diferente do meu. Os estudiosos da gestão podem ver semelhanças entre a visão de Aristóteles e a hierarquia de necessidades de Maslow, culminando na autorrealização. Maslow credita explicitamente Aristóteles (1987, pp. 15–26, 115f.), como observa Miller (1995, p. 350).
A eudaimonia é admirável e invejável. Nós admiramos pessoas realizadas com muitos amigos e, se nós formos perdedores sem amigos, provavelmente os invejaremos. Nós admiramos pessoas corajosas. Nós não admiramos nem invejamos pessoas cuja felicidade se baseia na sua ignorância ou superficialidade. Se você discordar, pergunte a si mesmo se você gostaria de ser considerado ignorante ou superficial.
Desde o início da Ética a Nicômaco, Aristóteles descreve a vida boa para o agente e nunca abandona totalmente o ponto de vista do agente. Nós somos capazes de descrever como Aristóteles introduz a ética no sentido orientado para o outro dessa forma: a afirmação de que o agente é essencialmente um ser racional e sociável implica que o seu flourishing terá alguma coisa a ver com viver racionalmente e encontrar o seu lugar apropriado e possivelmente até mesmo a sua identidade na comunidade e isso impedirá o egoísmo estreito. Isso não impedirá uma atenção especial aos seus próprios interesses imediatos, que por vezes serão inconsistentes com os interesses dos outros, entretanto você aceitará que os outros são motivados similarmente.
Seria enganoso retratar Aristóteles como um egoísta que percebe que, na verdade, o bem-estar do agente envolve o dos outros. Falar de ‘como isso acontece na realidade’ interpreta mal Aristóteles e, em particular, subestima a centralidade da natureza racional e sociável da humanidade. Aristóteles não apoia a distinção analítico-sintético e nós devemos ter cuidado ao usá-la para reconstruir as suas posições. Ele de fato confia na distinção de acidente essencial e afirma que é um fato essencial sobre os humanos que eles sejam racionais e sociáveis. E embora seja justo dizer que Aristóteles parte do ponto de vista do agente, do bem viver do agente, ele enfaticamente não parte dos interesses do agente estritamente definidos.
Utilitarismo e a vida boa
Nós poderíamos começar a falar sobre ética dizendo que o seu propósito é que todas as pessoas tenham uma vida tão boa quanto possível.
Aqui, um Utilitarista poderia dizer: ‘Como esse é o objetivo da moralidade, cada um de nós deve sempre agir de forma a promover amplamente a vida boa’.
O Aristotélico é capaz de responder: ‘Eu tenho dois problemas com o que você diz. Em primeiro lugar, nós temos que decidir o que é uma vida boa; isso faz parte do trabalho da ética, como você mesmo parece sugerir. Em segundo lugar, os indivíduos que tomam cada decisão com vista a promover amplamente a vida boa não conseguirão promover amplamente a vida boa. A política não é tão simples.’
De forma mais positiva e consistente com essas duas críticas, o Aristotélico diz: ‘A vida boa é a vida vivida de acordo com a natureza do ser humano, que é racional e sociável.’
Um problema para alguns Utilitaristas, subjacentes aos seus pressupostos sobre a possibilidade de pesar e medir a bondade, é que eles têm uma visão vaga ou fácil sobre a vida boa. Uma visão Utilitarista comum hoje, particularmente na economia, é que a vida boa tem a ver com a realização de desejos ou preferências. Esse último, Hausman (2012, p. 34) define como uma atitude comparativa motivacional subjetiva: eu posso desejar tanto A quanto B, no entanto, levando em conta todos os meus desejos e sendo incapaz de ter ambos, prefiro B. Essa é uma explicação dominante de doutrina econômica. Um eticista da virtude não aceitará essa forma de Utilitarismo. Uma das grandes conquistas de Aristóteles é oferecer uma noção convincente da vida boa em apoio à sua ética da virtude.
Quer nós sejamos ou não capazes de concordar sobre uma concepção apropriada da vida boa, a nossa consideração da questão mostra quão fácil é a conversa habitual sobre os nossos interesses e a nossa prossecução deles e assim ajuda a minar as nossas suposições irreflexivas sobre eles. Nós tendemos a acreditar que o que é bom para nós é o que nós preferimos, que isso não muda e que a busca pelo que nós preferimos é do interesse próprio. Portanto, também nós tendemos a acreditar que a ética se opõe ao interesse próprio – que se Jones for uma pessoa ética, ele caracteristicamente coloca os interesses dos outros à frente dos seus próprios. (Mas se Smith fizer o mesmo, como é que ela e Jones lidarão um com o outro?) Dada essa abordagem, pode-se facilmente assumir que o sucesso, especialmente nos negócios, é uma questão de satisfazer a ganância de alguém e que não é capaz de ter muito a ver com ética.
A ética é boa para você?
Aristóteles não distingue claramente os valores éticos daquilo que chamamos de interesses. Os dois coincidem se e somente se o que é bom para o agente também é bom para os outros. Se forem necessariamente diferentes, então a concentração de Aristóteles no que é bom para o agente tem pouco a ver com o que nós consideramos ética. Na visão de Aristóteles, eles não diferem. A virtude é um bom estado para você estar, do seu ponto de vista; o vício é ruim. Em vez de assumir a opinião de que a ética tem a ver com o bem-estar das outras pessoas e que, portanto, nós devemos distinguir as virtudes dos vícios com base na nossa contribuição para o bem-estar delas, Aristóteles considera que a questão principal é sobre como viver bem.
Mas e se eu preferir mentir porque eu acredito que mentir me ajudará a viver bem? A resposta de Aristóteles baseia-se na sua afirmação de que uma pessoa virtuosa tem as preferências certas. Eu devo começar a examinar essa afirmação discutindo a noção de racionalidade de Aristóteles, com base na discussão até agora e o que essa tem a ver com viver bem. Em seguida, eu avançarei mais a discussão sobre a sociabilidade com o mesmo propósito. No entanto, nós necessitamos em primeiro lugar considerar uma explicação dos interesses e da vida boa que seja mais familiar, particularmente aos economistas e aos teóricos das organizações – uma explicação que é inferior à de Aristóteles.
Homo economicus e interesses
Parece plausível dizer que você quer o que é melhor para si mesmo e que, portanto, você está bem na medida em que consegue o que deseja. No entanto, você pode não gostar de arriscar a morte por uma grande causa ou mesmo de compartilhar benevolentemente os seus bens com outras pessoas. Portanto, você poderá concordar com Kant que a ética não deve basear-se em nada que envolva interesses, para que o ‘eu [ser, self] querido’ não polua as suas deliberações éticas.(2) Parece difícil acomodar também o eu [ser, self] querido e as demandas da ética. Isso é especialmente verdadeiro se o eu [ser, self] querido for o que os economistas presumem que ele seja.
Muitos Economistas – em particular os teóricos da escolha racional – assumem que os seres humanos são homines economici, maximizadores racionais dos seus próprios interesses.(3) Os próprios objetivos não são, tal como na explicação padrão do Iluminismo, nem racionais nem irracionais. Os interesses de alguém equivalem à satisfação de suas preferências. Normalmente, o que é preferido pode ser comprado e a força da preferência de alguém é uma questão de quanto se está disposto a pagar. Portanto, a utilidade é a satisfação de qualquer preferência antiga.
(2)Provavelmente isso é injusto com as opiniões de Kant tomadas como um todo. Ele de fato leva a virtude a sério.
(3)Os economistas dirão normalmente que fazem essa suposição apenas para efeitos de previsão, entretanto, por vezes alguém acaba por acreditar no que se começou por assumir por uma questão de argumento ou previsão.
Nós observamos anteriormente que filósofos como Davidson (2001, especialmente o Ensaio 1), argumentam que nós temos que imputar um certo nível de racionalidade àqueles cujo comportamento nós explicamos por referência ao desejo e à crença. A teoria padrão do economista e não a de Davidson, tem um ar de trivialidade, uma vez que qualquer alegação de que alguém agiu contra os seus interesses pode ser contestada pelo argumento de que (por exemplo) alguém tem interesse em dar dinheiro aos pobres. No entanto, uma vez descartada a tentativa de contraexemplo, o teórico normalmente voltará a assumir que mais dinheiro é universalmente preferido a menos.
Um problema imediato com essa forma de Utilitarismo é a dificuldade de saber o que um agente prefere. Alguns economistas oferecem a noção de preferência revelada: o que você prefere é revelado pelo que você faz. Uma suposta vantagem dessa análise é que nós não necessitamos postular qualquer entidade psicológica inobservável como variável independente. A análise é uma forma de Behaviorismo: preferir alguma coisa é estar disposto a agir de determinada maneira.
Um dos muitos problemas com essa teoria, para além da sua rejeição da possibilidade de fraqueza da vontade, é que a análise da preferência por referência à ação pressupõe que você tenha algumas crenças apropriadas, por exemplo sobre as prováveis consequências da sua ação. Entretanto, um Behaviorista consistente dirá que as crenças também são apenas disposições para agir de uma determinada maneira. Se assim for, então uma análise disposicional não funcionará nem para preferências nem para crenças – a menos que todos tenham informação perfeita, como por vezes assumem os economistas, caso em que a crença de que p pode ser convertida em p. Nem isso funcionará para virtudes.
Esse problema fornece algumas evidências para a afirmação de MacIntyre (1985, especialmente o capítulo 8) de que a ciência social não deveria fingir ser científica. O comportamento humano é um assunto adequado para a ciência se nós somos capazes de observar e medir os estados psicológicos humanos. À primeira vista, isso parece impossível: crenças e desejos, assim como muitos outros estados psicológicos, são certamente inobserváveis e imensuráveis. No entanto, se o Behaviorismo fosse verdadeiro – isso é, se as crenças e os desejos fossem disposições para agir – então talvez nós pudéssemos observar e medir esses estados.
Então, pelo menos, eu poderia inferir o que você deseja a partir do que você faz voluntariamente. E se o tipo de Utilitarismo que MacIntyre ataca fosse verdadeiro, então nós poderíamos observar se algo é bom para uma pessoa, uma vez que conseguir o que se quer é bom para ela. E com uma pequena ajuda dos Economistas, nós poderíamos olhar para um grande número de pessoas e observar se algum ato foi moralmente bom. No entanto, o pensamento e a ação humanos não estão abertos à observação e à medição dessa forma. Não pode haver ciência das razões e ações.(4) O Behaviorismo é falso.
Mesmo que nós pudéssemos resolver esse problema, ainda nós não teríamos mostrado como a ética e o interesse próprio são capazes de serem compatíveis. Uma famosa tentativa de solução defendida por alguns Economistas é dizer que o egoísmo estreito é bom do ponto de vista da prosperidade, pois um mercado produtivo requer exatamente o tipo de egoísmo característico do homo economicus. Como observou Adam Smith, o bem-estar geral é tipicamente alcançado quando todos os participantes no mercado trabalham para beneficiar a si próprios.(5)
(4)Davidson (2001) oferece um argumento extenso e persuasivo para essa afirmação. Eu mencionei isso no Capítulo 1.
(5)Entretanto, Smith, um eticista da virtude, tem opiniões muito mais sutis do que essa. Ver Werhane (1991) e, para uma comparação detalhada, Calkins e Werhane (1998).
Como os negócios são fundamentalmente uma empresa competitiva, eu estarei em melhor situação se e somente se, o meu concorrente estiver em pior situação. O egoísmo parece, portanto, ser um pré-requisito para o sucesso nos negócios. Tentar contribuir para o bem-estar de todos ou, nesse caso, agir para que a justiça seja feita ou para que os direitos sejam protegidos seria uma estratégia competitiva perdedora. Isso soa como uma boa notícia: aja de acordo com o seu interesse próprio normal – faça o que quiser – e tudo resultará no melhor para todos.
No entanto, essa visão, embora não seja totalmente errada, tem alguns problemas, incluindo um problema prático relativo à implementação: a relação entre os interesses dos gestores e o sucesso da organização não é simples. A teoria da agência pretende resolver esse problema.
Teoria da agência
A teoria da agência sustenta que os gestores devem ser agentes fiéis dos acionistas e, portanto, têm que promover os seus interesses. A obrigação estende-se daí a todos os colaboradores. Os teóricos da agência normalmente pressupõem que todos os agentes agem no seu próprio interesse e que o problema é que os seus interesses podem ser inconsistentes com a obrigação de promover os interesses dos acionistas. A solução é organizar as coisas de modo que os agentes tenham interesse em agir de forma a promover os interesses dos seus acionistas. A compensação de incentivos é uma forma preferida de fazer isso. Se, por exemplo, forem dadas opções de ações aos gestores seniores, esses terão interesse em aumentar o preço das ações e, portanto, em gerir bem. Assim vai o argumento.
A grande crise de 2008 ocorreu em parte porque os executivos dos grandes bancos não conseguiram ser agentes fiéis. Muitos dos bancos tinham tido parcerias, nas quais os executivos tinham o seu próprio dinheiro em risco. Quando os bancos vieram a ser empresas públicas, os executivos delas puderam assumir riscos com o dinheiro de outras pessoas e assim fizeram, com resultados catastróficos para os acionistas dos bancos, entretanto, não tanto para eles próprios, exceto na medida em que eram acionistas. Evidentemente, não é tão fácil conceber e implementar esquemas eficazes de compensação de incentivos.
Vários dos pressupostos dos teóricos da agência são questionáveis e não impressionariam Aristóteles. Um pressuposto típico da análise de agência é que as pessoas estão estreitamente interessadas em si mesmas, tal como muitos economistas assumem. Segue-se que a compensação de incentivo é o motivador mais eficaz. A suposição estreita do interesse próprio não é necessária para a teoria: haverá um problema de agência se os interesses das partes diferirem, quer uma das partes tenha ou não um interesse estreitamente próprio.
Entretanto, a história, incluindo a história recente, indica que a suposição é amplamente aceita. Os teóricos da agência influenciados pela teoria dos jogos, como a maioria deles, geralmente fazem a suposição conveniente, porém implausível, de que as preferências de alguém não são alteradas pelas preferências de qualquer outra parte. Por que um jogador estritamente egoísta se preocuparia com as preferências de outra pessoa (Heath, 2009, pp. 499f.)?
Como afirma Ghoshal (2005), os teóricos das organizações tendem a serem céticos em relação às entidades inobserváveis, o que não faz com que a teorização seja mais fácil e, portanto, olham para estados e eventos externos para explicar o comportamento. Também desse ponto de vista, a remuneração por incentivos parecerá uma boa explicação para o comportamento dos funcionários. (Ver Heath, 2009, p. 502; ele poderia estar pensando em Pfeffer, 1982, por exemplo.) A lealdade pode explicar por que Jones trabalha duro, entretanto, a lealdade é difícil de operacionalizar. Na verdade, se Doris e os seus aliados na psicologia social estiverem certos, não existe lealdade tal como a entendemos. É melhor limitar-se ao que é mais facilmente observável; como diz a velha piada, a luz é melhor aqui.
[Observação PO: Há uma velha piada que remonta pelo menos à década de 1920. Uma noite, um policial vê um homem bêbado ajoelhado à luz de um poste de luz. “O que você está fazendo?” o oficial pergunta. “Eu perdi as minhas chaves e estou procurando por elas”, responde o bêbado. O policial pergunta “Foi aqui que você as perdeu?” “Não”, responde o homem, “mas a luz é muito melhor aqui”. É uma piada boba, mas “procurar as chaves sob a luz da rua” também é um atalho para fazer algo simples em vez de eficaz. É também uma boa metáfora para os preconceitos que nós carregamos conosco. Fonte: pesquisa internet Google.]
Ainda mais problemática é a suposição de oportunismo do teórico do jogo (Heath, 2009, pp. 502f.). Um faz um acordo de maximização de preferência; então, no momento de decidir se deve manter o acordo, maximiza-se novamente, sem referência à obrigação ou ao valor intrínseco de ser tão bom quanto a sua palavra. Se a natureza humana é assim – e alguns teóricos da agência afirmam que é – então não faz sentido falar sobre lealdade e fiabilidade, ou tentar criá-las nas organizações.
Em pelo menos dois aspectos, a teoria da agência tem implicações éticas. Em primeiro lugar, sugere que as obrigações éticas dos agentes de gestão para com os seus principais acionistas sempre se sobrepõem a todas as outras obrigações éticas. Contudo, isso é no máximo uma sugestão: o próprio Friedman não faz a afirmação, embora seja vago quanto às exceções. Heath é mais pessimista, pois argumenta que a suposição do oportunismo na teoria dos jogos implica que uma relação de agência não é de forma alguma uma relação fiduciária, mas sim um conjunto de contratos implícitos que assumem um certo nível ineliminável de negociação própria por parte do agente. (2009, pp. 513s.). Em segundo lugar, qualquer principal ou agente que acredite que a natureza humana é tal como a teoria da agência descreve, seria um tolo se não agisse de forma cínica e oportunista.
Na verdade, como Bazerman e Tenbrunsel (2011, capítulo 6) e outros demonstraram, a compensação de incentivos pode, na verdade, reduzir a conformidade e o esforço dos funcionários, eliminando a lealdade. E em situações de assimetria de informação, certamente bastante comuns em muitas organizações hoje em dia, essa crença potencialmente autorrealizável pode ter custos elevados, sobretudo para os acionistas (Heath, 2009, pp. 519f.).
Sandel (2012, pp. 34f. e em outros lugares) argumenta que colocar um preço em algo pode ‘rebaixar e degradar’ o mesmo. Ele provavelmente consideraria a compensação de incentivo um bom exemplo de como isso acontece. Akerlof (1982, p. 543) explica a produtividade dos trabalhadores com referência ao seu ‘sentimento uns pelos outros e também pela empresa’, que é ignorado pelos esquemas de compensação de incentivos. Os eticistas da virtude dirão que há aqui uma lição sobre regras e motivação em geral. Jos e Tompkins (2004) fornecem provas de que os processos de responsabilização orientados para a conformidade prejudicam as virtudes administrativas necessárias para responder adequadamente às exigências de responsabilização externa. MacIntyre (1985, pp. 175f.) conta a parábola de uma criança que joga xadrez, que provavelmente trapaceará se lhe oferecerem doces como incentivo para ganhar, no entanto, é menos provável que o faça se gostar do jogo por si só e querer se destacar nisso.
MacIntyre não acredita que os gestores sejam como crianças que jogam xadrez. Ele argumenta que a motivação do lucro elimina as virtudes características do trabalho honesto e cooperativo. Ele tem, em grande parte, razão sobre as organizações nas quais os problemas de agência são resolvidos através da compra da lealdade dos funcionários através de esquemas como a compensação de incentivos. Há fortes evidências de que o que se compra não é lealdade e que não sustenta muito bem nem as virtudes nem os lucros. No entanto, nem todas as organizações funcionam dessa forma. Como eu argumentarei mais detalhadamente no Capítulo 5, uma empresa bem-sucedida exige as virtudes cooperativas dos seus gestores e empregados.
A crença de que a compensação por incentivos é a melhor forma de conseguir que os executivos tenham bom desempenho é uma parte da abordagem científica da gestão, segundo a qual as pessoas são motivadas de forma tão simples que não é necessário postular quaisquer estados internos complexos para explicar o comportamento. Assim, a psicologia Behaviorista leva à gestão neo-Taylorista.
Desejos
Para além das dificuldades com preferências reveladas e agência, a visão do homo economicus erra ao assumir que os seus interesses são sempre servidos pela satisfação das suas preferências. O que você deseja pode não ser o melhor para você, por uma série de razões. Alguns desejos levarão à decepção, outros a problemas. Os desejos de curto prazo podem entrar em conflito com os de longo prazo; desejos de segunda ordem podem entrar em conflito com os de curto prazo. O que você deseja mudará, às vezes de acordo com o seu humor. Depois, há todos os fatores que os psicólogos sociais identificam que fazem com que as nossas escolhas sejam irracionais: o efeito de dotação, a sobrecarga de escolhas, o remorso do comprador, a racionalização de vários tipos e outros.
Entender a relação entre ética, interesse próprio e sucesso nos negócios exige ver que os interesses não são necessariamente simples e que nem sempre coincidem com os desejos, que também não são simples, ou mesmo com as preferências. Aristóteles afirma que caráter é uma questão daquilo que você aprecia: coisas boas se você for uma pessoa boa, coisas ruins se você for ruim (NE II 3 1104b5–9). Ele discorda da afirmação de Hume de que a razão é escrava das paixões; os desejos podem ser razoáveis ou irracionais, bons ou ruins. Alcançar um bom caráter implica desenvolver certos desejos e emoções ao invés de outros.
Como mostra a sua explicação sobre a fraqueza de vontade, Aristóteles está ciente de que você pode ter certos desejos que preferiria não ter. Agir de acordo com os seus desejos racionalmente preferidos e afastar-se dos irracionais pelos quais você, como pessoa racional, não deseja ser motivado requer pelo menos continência. Mas se você for uma pessoa totalmente virtuosa, uma pessoa moderada e de sabedoria prática, os seus desejos racionais de ordem superior determinarão os seus desejos de primeira ordem.
Portanto, há uma resposta para a pessoa reflexiva nos negócios, ou para qualquer outra pessoa, que pergunte: Por que é do meu interesse ser uma pessoa honesta e não voraz? Pode ser verdade que todos ficarão melhor se todos forem honestos, mas então por que não deveria eu adotar a melhor estratégia para mim, que é estar preparado para agir desonestamente, não importa o que os outros façam? Se o caráter é uma questão daquilo que alguém aprecia, como afirma Aristóteles, então essas são questões superficiais e equivocadas.
Decidindo sobre os interesses de alguém
A posição de Aristóteles é que o desenvolvimento do caráter(6) envolve o desenvolvimento dos interesses de alguém. Uma pessoa de bom caráter é aquela cujos valores, entendidos como os interesses dele ou dela mais importantes, são os corretos e que age de acordo. A questão que essa afirmação levanta não é ‘Como eu posso criar uma vida que sirva os meus interesses?’ mas sim ‘Como eu decido quais serão os meus interesses?(7) O que eu quero apreciar?’
(6)Nós discutiremos a concepção de Aristóteles no Capítulo 4.
(7)A noção de interesse é complicada. Nós poderíamos interpretar Aristóteles como dizendo que todas as pessoas têm aproximadamente os mesmos interesses, entretanto, muitas delas não sabem quais são os seus verdadeiros interesses. Quando eu falo dos interesses como sendo certos ou errados, eu tenho em mente desejos de uma ordem muito elevada.
Quando eu considero o que seria uma vida boa para mim, eu devo me perguntar não apenas o que eu prefiro, mas também o que eu escolheria preferir se pudesse escolher de forma ponderada e racional.(8) Essa questão não pode ser prontamente respondida por referência a interesse próprio. (Ver Hartman, 1996, pp. 80-3 e 134f., e Elster, 1985, pp. 109-40; esse último fala de formação de preferência adaptativa.)
A sua capacidade de refletir sobre os seus desejos e de alterar o seu caráter e, portanto, os seus interesses com base nessa reflexão é uma forma de racionalidade caracteristicamente humana. Isso permite que você planeje o seu futuro e construa a sua vida, dentro de limites (NE I 10 1100b34–1101a14, VI 7 1141a27–9; De Anima III 10 433b5–10, 11 434a5–10).(9); você é capaz de fazer isso bem; você também é capaz de fazer isso gravemente, como quando o processo é dominado por um enfoque na popularidade, ou quando reflete a diminuição das oportunidades e das expectativas de uma pessoa oprimida. Nós somos capazes de ver a consciência no nível da realidade [awareness] de Aristóteles da importância da formação de preferências quando ele toma isso como auto evidente (NE X 3 1174a1-4) que alguém não escolheria viver a vida de uma criança, tendo prazer nas coisas infantis, ou apreciar o que é vergonhoso. Em IX 4 1166b23f. ele se refere à pessoa de vícios que deseja que ele não aprecie o que ele aprecia.
(8)Essa é uma versão particularmente sofisticada da visão de Frankfurt (1981) de que a liberdade da vontade tem muito a ver com desejos de ordem superior.
(9)Eu tenho aproveitado o comentário de Irwin (Aristóteles, 1999) sobre essas passagens e a análise dele mais aprofundada dos pontos de vista de Aristóteles (1988, pp. 336-8).
A maioria das pessoas, incluindo a maioria dos teóricos baseados em princípios, concordaria que a qualidade ética de um ato fornece pelo menos alguma razão para realizar isso, no entanto, a tradição Aristotélica tem mais a dizer do que ser ético é capaz de ajudar a manter você fora da prisão, ou que é capaz de ajudar a criar laços de confiança que fazem com que uma organização seja mais eficaz, ou mesmo que ela se sinta bem. Ser ético é viver bem e de acordo com a natureza humana, como uma árvore que floresce quando ela dá florescência ou ela dá frutos. E a natureza do ser humano é ser racional e sociável e pensar, pretender e agir de acordo.
A típica teoria ética baseada em princípios não se compromete a responder questões sobre a criação de preferências e interesses. Aristóteles sim e a sua resposta é que a escolha certa é preferir a vida de uma pessoa virtuosa. Grande parte da Ética a Nicômaco é dedicada a dar conta do estado de eudaimonia e a mostrar como atingir esse estado é bom para o agente, bem como para a família, amigos e comunidade do agente.
Aqueles de nós que não são santos não são capazes de optar por desfrutar de coragem e generosidade em todos os momentos; nós os consideramos ocasionalmente incômodos. E embora você possa adquirir o hábito de gostar de fazer coisas boas, existem limites. Nenhuma pessoa normal é capaz de aprender a gostar de uma cirurgia de canal radicular, por mais benéfica que ela possa ser. Algumas virtudes são capazes de impor custos a curto prazo. A coragem não seria coragem se a pessoa corajosa às vezes não pagasse um preço por ela. A honestidade acarreta custos de oportunidade. Entretanto, independentemente de saber se fazer o que é honesto sempre compensa, se você é uma pessoa virtuosa, você considera a si mesmo melhor no geral por ser o tipo de pessoa que está inclinado a fazer o que é honesto.
Racionalidade e interesses
Assim, uma pessoa totalmente racional é capaz de decidir que tipo de vida será mais gratificante no longo prazo e então ficar satisfeita em viver tal vida (NE I 10 1100b33–1101a21). Para completar o relato dele sobre a escolha de um bom caráter, Aristóteles necessita dizer o que há de verdadeiramente desejável em uma vida, desejável para uma pessoa racional e por quê.(10)
(10)Lembre-se de que você é capaz de desejar A e B, no entanto, preferir B, o que só poderá ser alcançado se você não obtiver A. Entretanto, o ideal Aristotélico é ter desejos consistentes.
Como nós observamos no Capítulo 1, uma substância não é uma mera pilha de coisas e a vida humana, como todas as substâncias, tem de ter alguma identidade e continuidade. Portanto, nós queremos ter desejos que formem um todo coerente a qualquer momento e ao longo do tempo, ao invés de desejos que se contradizem ou que violem os nossos valores ou que mudam frequentemente. Sem esse tipo de integridade você às vezes desejará e poderá conseguir, aquilo que você não valoriza. Esse ponto é defendido por Aristóteles na sua discussão sobre a fraqueza de vontade, que nos leva a fazer o que nós não valorizamos. Você estará em melhor situação e será mais virtuoso se seus valores e desejos forem consistentes e orientarem as suas ações.
Na verdade, Aristóteles afirma em NE X 7 1177b30-8a3 que alguém é idêntico ao nous, o elemento racional da alma, que ele diz ser de alguma forma divino. Não agir de acordo com isso seria escolher uma vida que não é verdadeiramente a sua. Nós somos capazes de inferir que ele quer defender que uma vida guiada pelo prazer momentâneo ou pela avareza ou pela cultura corporativa não é uma vida bem vivida, nem, dado o que ele diz sobre a escolha racional, livremente.
Aristóteles não mostra que é impossível ser consistentemente voraz, mas dá algumas razões para dizer que não se pode ser uma pessoa má e ainda assim levar uma vida feliz. Se você é voraz e às vezes age bem por razões estratégicas, como quando as pessoas estão observando, muitas vezes você se verá fazendo coisas de que não aprecia.
Você estará agindo de forma inconsistente com os seus valores e com alguns de seus desejos (NE IX 4 1166b7–14). Você terá que sorrir e sorrir e ser um vilão e isso não é um sorriso invejável. A não ser que você seja um degenerado total, ser cruel o colocará em guerra consigo mesmo: Aristóteles afirma que a pessoa ultrajante deseja que as coisas ruins não venham a ser agradáveis para ela e ela não gosta de si mesma por isso (1166b23-9).
Uma boa pessoa pode agir de maneira diferente em circunstâncias diferentes, no entanto, isso não é uma questão de incoerência. É uma questão de ter construído um caráter forte e confiante o suficiente para ser flexível e adaptável ao tempo, lugar, relações e outras características, incluindo características novas e desconhecidas, da situação particular.
Ser ultrajante também coloca você em conflito com a sua comunidade. Como nós somos criaturas sociáveis, isso não é uma boa notícia.
Comunidade
Eu afirmei anteriormente que você não é capaz de decidir com base no interesse próprio quais serão os seus interesses. Há evidências, contudo,(11) de que escolher querer ser um bom cidadão é mais sensato do que escolher querer ser extremamente rico. De acordo com psicólogos positivos,(12) as pessoas com recursos moderados mas suficientes são mais felizes do que as pessoas muito pobres em geral, no entanto, as pessoas extremamente ricas não são muito mais felizes do que aquelas que estão moderadamente abastadas. Isso ecoa a visão de Aristóteles (X 8 1178b33-1179a3) de que para ter eudaimonia é necessário estar bastante abastado, mas não necessariamente rico. De acordo com nomes como Belk (1985) e Kasser e Ryan (1996), citados em Haidt (2006), para a maioria das pessoas fortes ligações pessoais são a chave para a felicidade. Portanto, eles concordam com Aristóteles que os humanos são criaturas essencialmente sociáveis e que a nossa sociabilidade afeta a natureza da vida boa para nós. No entanto, nós não devemos presumir prontamente que a felicidade pode ser facilmente medida, ou mesmo definida.
(11)Ver Haidt (2001, 2006).
(12)Ver Gilbert (2006, pp. 217–20) e Haidt (2006, capítulos 5, 6 e 11).
Aristóteles argumenta que a riqueza, por ser apenas um meio para algum outro fim e não um fim em si mesma, não é capaz de ser o que é finalmente bom na vida (NE I 5 1096a6-8). Ele também condena a pleonexia (NE V 9 1136b21f. e em outros lugares), que é uma questão de agarrar mais do que a sua parte em alguma coisa. Ele considera o lazer um dos grandes e necessários bens da vida (Pol VII 14 1333a35f.). E quanto mais lazer alguém tem, quando abençoado com bens materiais adequados, mais necessários são a filosofia, o autocontrole e a justiça (VII 15 1334a23f.).
[Observação PO: “Pleonexia (do grego: πλεονεξια) é um conceito filosófico utilizado quer no Novo Testamento quer nos escritos de Platão e Aristóteles. Corresponde, de maneira geral, à avareza, podendo ser definida como “desejo insaciável de ter posse do que por direito pertence aos outros”.” Fonte: Wikipedia]
A partir de tudo isso nós somos capazes de inferir, como faz Skidelsky (2009), que Aristóteles não admiraria pessoas nos negócios que trabalham muitas horas para ganhar muito mais dinheiro do que necessitam e, portanto, não têm tempo para uma vida de eudaimonia, particularmente a de um bom cidadão ( Pol VII 9 1328b38–29a2).(13) E se conseguirem enriquecer, há uma boa probabilidade de não ficarem muito contentes, porque estarão sempre comparando-se com aqueles que ganham mais e, portanto, trabalhando ainda mais horas.(14) Essa não pode ser uma vida boa.
(13)Skidelsky observa que a previsão de Keynes de que uma maior riqueza levaria a um maior lazer não se tem confirmado. Ele sugere que a raiz do problema é a ausência de qualquer concepção de vida boa que não seja a satisfação de preferências.
(14)Ver, por exemplo, Frank (2004, capítulo 8).
Explicar as maneiras pelas quais os seres humanos são sociáveis ocuparia mais espaço do que qualquer autor poderia dispensar. Por exemplo, poderíamos escrever muitos volumes sobre as maneiras pelas quais a linguagem é necessariamente uma atividade social e como os significados das expressões são necessariamente trabalhados em praça pública. Vale ressaltar que a racionalidade também é uma questão social, pois a racionalidade exige desejar viver bem e viver bem é uma questão de viver socialmente.
Nós devemos também lembrar o ponto sobre a pessoa que é má, no entanto, tem que parecer boa quando os outros estão observando. Se você fizer isso, estará violando a racionalidade ao fazer coisas que gostaria de não querer fazer. Você também viola a sua natureza social. Seja o que for, você é um membro da família, um amigo e um cidadão e deve desempenhar bem esses papéis.
Capital social
Nós vemos alguns dos pontos de vista de Aristóteles sobre a sociabilidade humana refletidos na noção de capital social. Esse é um conceito relativamente novo e não há consenso sobre o que significa exatamente.(15) Eu utilizarei o termo para me referir a certas características individuais, bem como a relações sociais e institucionais que criam ativos que geram benefícios futuros, em particular soluções eficazes para problemas de ação coletiva.
(15)O conceito tem sido associado principalmente a Putnam (2000). Para uma revisão da literatura inicial sobre capital social no que se refere aos negócios, ver Adler e Kwon (2002), que encontram quase tantas definições do conceito quantos estudiosos que o estudaram. Adler e Kwon observam que o capital social pode ter consequências negativas. O que nos fortalece pode prejudicar as nossas relações com eles. Para um relato detalhado da importância do capital social no que se refere à ética nos negócios, ver Sison (2003).
A chave para resolver esses problemas é a confiança, que por sua vez requer fiabilidade, o que é um exemplo de capital social. Um benefício óbvio da confiança é a cooperação. Considere a tradição de criação de celeiros entre os Amish do condado de Lancaster. Se Jacob Stoltzfus necessita de um novo celeiro, os homens da comunidade juntam-se a ele na construção, enquanto as mulheres preparam um almoço elaborado. Por que Samuel Zook ajuda Jacob Stoltzfus a construir um celeiro? Porque, diria Samuel, é mais eficiente ter um celeiro construído por muitas pessoas ao mesmo tempo do que fazer com que o trabalho seja feito por uma só pessoa.
Samuel também sabe que se o seu celeiro pegar fogo, Jacob e outros o ajudarão a construir um novo. Ou seja, Samuel confia em Jacob, como ele deveria, porque Jacob é confiável. A confiança também vem da tradição Amish de encorajar a inclinação de ser suficientemente confiante para cooperar. Os Amish também têm o hábito de evitar os cínicos, que são facilmente expostos numa pequena comunidade onde as notícias sobre negligência correm rapidamente, considerando a falta de tecnologia de comunicação.
O que Samuel pode ou não também dizer, embora seja verdadeiro e importante, é que os membros da comunidade se preocupam uns com os outros: Samuel e outros tomam a necessidade de Jacob como uma razão para agir. Ostrom e Ahl (2009) afirmam que o que eles chamam de teorias de ação coletiva de segunda geração não assumem, como fazem os seus antecessores, que os agentes sejam homines economici. Pelo contrário, os participantes têm ‘motivações sociais e preferências endógenas’ (p. 21).
Eu acredito, embora Ostrom e Ahl não digam exatamente isso, que a atitude amigável de Samuel para com Jacob é crucial.(16) Se Samuel for velho e souber que o seu celeiro quase certamente durará mais do que ele, ele ainda assim ajudará Jacob, embora ele provavelmente nunca necessite da ajuda de Jacob. Seria justo dizer que esse tipo de atitude faz com que tanto Samuel como Jacob sejam dignos de confiança, mas não é só isso.
(16)Bowles e Gintis (2011, especialmente capítulo 11) concordariam comigo.
Ostrom e Ahl também fazem uma afirmação que nós deveríamos achar interessante à luz do argumento de Doris e outros de que o ambiente imediato determina o comportamento mais do que as características pessoais individuais: duas comunidades podem ser semelhantes em quase todos os aspectos, mas diferem no nível da confiança dos seus cidadãos. Ostrom e Ahl inferem que a confiabilidade dos indivíduos é distinta e não determinada por arranjos institucionais (p. 26), embora pareça claro que esses últimos podem ter algum efeito sobre os primeiros.
Consideremos uma aldeia comum em New England colonial. Se a capacidade de carga das áreas comuns for de 110 ovelhas e houver 100 famílias na aldeia com dez ovelhas cada, seria de esperar que Jeremiah Hopkins se sentisse tentado a colocar mais de uma ovelha nas áreas comuns, uma vez que ele beneficiaria se o fizesse, quer ou não, os seus vizinhos fizessem o mesmo. Entretanto, existe uma norma útil no devido lugar: uma ovelha por família. Jeremiah segue a norma porque é confiável e confia que os outros aldeões farão o mesmo e porque é motivado pelos interesses de seus amigos e não por puro interesse próprio. Se todos os aldeões fizerem o mesmo, todos estarão em melhor situação do que se cada um agisse por puro interesse próprio. (Ver Hardin, 1968. Eu tenho discutido os bens comuns em Hartman, 1996, especialmente nas pp. 74-8.)
Praticamente o mesmo se aplica às organizações. Os funcionários que são capazes de sobreviver com o mínimo de trabalho podem decidir, ao invés disso, tentar contribuir da melhor forma possível para o sucesso corporativo, com o resultado de que todos ficarão em melhor situação. Nós temos visto boas razões para duvidar que os programas de compensação de incentivos, por mais bem concebidos que sejam, possam fazer o mesmo. Na verdade, eles privatizam o trabalho.
Os teóricos da ação coletiva da primeira geração aprovarão essa solução, o que é consistente com a sua crença de que os agentes são estreitamente egoístas. No entanto, é importante que os funcionários a quem são confiadas responsabilidades sejam dignos dessa confiança e acreditem que os outros também o são. Na medida em que se preocupam uns com os outros e com o sucesso da organização, a fiabilidade será incentivada, em benefício dos bens comuns.
Talvez nós vamos um pouco mais longe do que Ostrom e Ahn e de muitos analistas do capital social na identificação de atitudes que resolvem problemas de ação coletiva.(17) Em alguns casos, é importante que os participantes sejam amigos. Na medida em que Samuel se preocupa com Jacob, ele se preocupa com a qualidade do celeiro de Jacob e com a qualidade da contribuição dele (de Samuel) para ele. Mas se Samuel não for apenas confiável, mas também virtuoso, ele gostará de fazer parte da ‘cooperativa socialmente estabelecida. . . atividade’ de criação de celeiros, como MacIntyre a chamaria. Ele gostará de martelar pregos não só porque é um bom carpinteiro e, portanto, martela pregos bem e de acordo com a razão e como o profissional martelaria, mas também porque ele sabe que ‘martelar pregos’ é uma descrição inadequada do que ele está fazendo,(18) que ele está ajudando a construir um bom celeiro para o seu amigo Jacob. No que ele está envolvido é uma praxis e não apenas uma poiesis e isso é uma coisa boa. Samuel é como um funcionário que se preocupa em cumprir a missão da organização em benefício de seus colegas, dos acionistas e de algumas outras partes interessadas.
(17)Mas não mais longe do que Fox (1985), que tem uma visão utópica e quase anarquista de como preservar os bens comuns.
(18)Lembre-se do Capítulo 2 sobre a importância ética de entender as ações sob descrições adequadas.
Aristóteles não tem o conceito de capital social, no entanto, ele tem o lugar certo para isso. Ele acredita que as pessoas da polis devem estar unidas por relações e atitudes que reconhecemos como criadoras de capital social. Como nós observamos no Capítulo 1, os cidadãos participam na política não para obter benefícios para si próprios ou para as suas facções, mas para garantir que a justiça seja feita e que as pessoas vivam bem. Os laços emocionais também unem os cidadãos, segundo Aristóteles. Uma comunidade bem-sucedida exige, no mínimo, que os cidadãos tomem os interesses da comunidade e dos seus cidadãos como fortes razões para agir. Não há razão para acreditar – e Aristóteles não acredita – que uma democracia em que os indivíduos perseguem os seus próprios interesses em vez do que é melhor para a comunidade como um todo será uma boa comunidade.
Uma polis não é um conjunto de cidadãos individuais que fazem acordos para obterem para si próprios o melhor resultado possível; é uma comunidade de cidadãos que partilham certos valores e os perseguem. (Ver, por exemplo, Pol IV 11 129b23–5 e NE IX 6 1167b5–9.) Do ponto de vista de um liberal como Rawls (1971), isso é um pouco de unidade demais.
…..Continua Parte V…..
—–
Bibliografia do livro “Virtue In Business”, autor Edwin M. Hartman
Abdolmohammadi, M., and M. F. Reeves. 2003. “Does Group Reasoning Improve Ethical Reasoning?” Business and Society Review, 108, 127–37.
Adler, P., and S. Kwon. 2002. “Social Capital: Prospects for a New Concept.”
Academy of Management Review, 27, 17–40.
Akerlof, G. 1982. “Labor Contracts as Partial Gift Exchange.” Quarterly Journal of Economics, 97, 543–69. – 2007. “The Missing Motivation in Macroeconomics.” Presidential Address. Nashville, TN: American Economic Association.
Allen, W. 2006. “Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation”. In Professional Responsibility, 35–47. NYU Stern, Course Book.
Alzola, M. 2008. “Character and Environment: The Status of Virtues in Organizations.” Journal of Business Ethics, 78, 343–57. – 2011. “The Reconciliation Project: Separation and Integration in Business Ethics Research.” Journal of Business Ethics, 99, 19–36. – 2012. “The Possibility of Virtue.” Business Ethics Quarterly, 22, 377–404.
Annas, J. 2011. Intelligent Virtue. New York: Oxford University Press.
Anscombe, G. 1957. Intention. Oxford: Basil Blackwell. – 1997. “Modern Moral Philosophy.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 26–44. New York: Oxford University Press.
Appiah, K. A. 2006. Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. New York: W. W. Norton.
Aristotle. 1894. Ethica Nicomachea. Edited by I. Bywater. Oxford: Clarendon Press. – 1907. De Anima. Edited by R. D. Hicks. Cambridge: Cambridge University Press. – 1957. Politica. Edited by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press. – 1962. The Politics of Aristotle. Translated by E. Barker. New York: Oxford University Press. – 1999. Nicomachean Ethics, 2nd edition. Translated by T. H. Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Asch, S. 1955. “Studies of Independence and Conformity: A Minority of One against a Unanimous Majority.” Psychological Monographs, 70.9, Whole No. 416.
Audi, R. 1989. Practical Reasoning. New York: Routledge. – 1997. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford University Press. 2012. “Virtue Ethics as a Resource in Business.” Business Ethics Quarterly, 22, 273–91.
Baumeister, R., and J. Tierney. 2011. Willpower: Discovering the Greatest Human Strength. New York: Penguin Press.
Bazerman, M., and A. Tenbrunsel. 2011. Blind Spots: Why We Fail to Do What’s Right and What to Do about It. Princeton: Princeton University Press.
Beabout, G. 2012. “Management as a Domain-Relative Practice that Requires and Develops Practical Wisdom.” Business Ethics Quarterly, 22, 405–32.
Beadle, R., and K. Knight. 2012. “Virtue and Meaningful Work.” Business Ethics Quarterly, 22, 433–50.
Beaman, A., P. Barnes, B. Klentz, and B. McQuirk. 1978. “Increasing Helping Rates Through Information Dissemination: Teaching Pays.” The Personality and Social Psychology Bulletin, 4, 406–11.
Belk, R. 1985. “Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World.” Journal of Consumer Research, 12, 265–80.
Berkowitz, P. 1999. Virtue and the Making of Modern Liberalism. Princeton: Princeton University Press.
Bertland, A. 2009. “Virtue Ethics in Business and the Capabilities Approach.” Journal of Business Ethics, 84, 25–32.
Blasi, A. 1999. “Emotions and Moral Motivation.” Journal for the Theory of Social Behavior, 29, 1–19.
Boatright, J. 1995. “Aristotle Meets Wall Street: The Case for Virtue Ethics in Business.” A review of Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business, by Robert C. Solomon. Business Ethics Quarterly, 5, 353–9.
Bowles, S., and H. Gintis. 2011. A Cooperative Species: Human Reciprocity and its Evolution. Princeton: Princeton University Press.
Bragues, G. 2006. “Seek the Good Life, Not Money: The Aristotelian Approach to Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 67, 341–57.
Burke, J. 1985. “Speech to the Advertising Council.” In W. M. Hoffman and J.M.Moore (Eds.), Management of Values: The Ethical Difference in Corporate Policy and Performance, 451–6. New York: McGraw-Hill Book Company.
Burns, J. 1978. Leadership. New York: Harper and Row.
Calkins, M., and P.Werhane. 1998. “Adam Smith, Aristotle, and the Virtues of Commerce.” The Journal of Value Inquiry, 32, 43–60.
Carroll, A. 1981. Business and Society: Managing Corporate Social Performance. Boston: Little, Brown.
Cartwright, N. 1983. How the Laws of Physics Lie. New York: Oxford University Press.
Chaiken, S., R. Giner-Sorolla, and S. Chen. 1996. “Beyond Accuracy: Defense and Impression Motives in Heuristic and Systematic Information Processing.” In P. M. Gollwitzer and J. A. Bargh (Eds.), The Psychology of Action: Linking Cognition and Motivation to Behavior, 553–78. New York: Guilford Press.
Chan, G. 2007. “The Relevance and Value of Confucianism in Contemporary Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 77, 347–60.
Chen, A., R. Sawyers, and P. Williams. 1997. “Reinforcing Ethical Decision Making through Corporate Culture.” Journal of Business Ethics, 16, 855–65.
Chicago Tribune 2002. “Tribune Special Report: A Final Accounting.” September 1–4.
Ciulla, J. 2000. The Working Life: The Promise and Betrayal of Modern Work. New York: Three Rivers Press.
Claassen, R. 2012. Review of Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets, by Debra Satz. Business Ethics Quarterly, 22, 585–97.
Cleckley, H. 1988. The Mask of Sanity, 5th edition. St. Louis: C. V. Mosby.
Coase, R. 1937. “The Nature of the Firm.” Economica, 4, 386–405.
Colle, S., and P. Werhane. 2008. “Moral Motivation Across Ethical Theories: What Can We Learn for Designing Corporate Ethics Programs?” Journal of Business Ethics, 81, 751–64.
Collins, J. 2001. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap. . . and Others Don’t. New York: Harper Business, and J. Porras. 2002. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. New York: HarperCollins.
Costa, P., and R. Mac Crae. 1994. “Stability and Change in Personality from Adolescence through Adulthood.” In C. Halvorson, G. Kohnstamm, and R. Martin (Eds.), The Developing Structure of Temperament and Personality from Infancy to Adulthood, 139–50. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Crary, A. 2007. Beyond Moral Judgment. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Damasio, A. 1994. Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Putnam. 256 Bibliography
Daniels, N. 1979. “Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics.” Journal of Philosophy, 76, 256–82.
Darley, J. 1996. “How Organizations Socialize Individuals into Evildoing.” In D. Messick and A. Tenbrunsel (Eds.), Codes of Conduct: Behavioral Research into Business Ethics, 13–43. New York: Russell Sage Foundation.
Davidson, D. 2001. Essays on Actions and Events, 2nd edition. New York: Oxford University Press.
DeSousa, R. 1987. The Rationality of Emotion. Cambridge: MIT Press.
Donaldson, L. 2005. “For Positive Management Theories While Retaining Science: Reply to Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 109–13.
Donaldson, T., and T. Dunfee. 1999. Ties that Bind: A Social Contracts Approach to Business Ethics. Boston: Harvard Business Press.
Doris, J. 2002. Lack of Character: Personality and Moral Behavior. New York: Cambridge University Press.
Drake, M., and J. Schlachter. 2008. “A Virtue-Ethics Analysis of Supply Chain Collaboration.” Journal of Business Ethics, 82, 851–64.
Duhigg, C. 2012. The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business. New York: Random House.
Dunbar, R. 1992. “Neocortex Size as a Constraint on Group Size in Primates.” Journal of Human Evolution, 22, 469–93.
Dunfee, T., and D. Warren. 2001. “Is Guanxi Ethical? A Normative Analysis of Doing Business in China.” Journal of Business Ethics, 32, 191–204.
Dyck, B., and R. Kleysen. 2001. “Aristotle’s Virtues and Management Thought: An Empirical Exploration of an Integrative Pedagogy.” Business Ethics Quarterly, 11, 561–74.
Eastman, W., and M. Santoro. 2003. “The Importance of Value Diversity in Corporate Life.” Business Ethics Quarterly, 13, 433–52.
Elster, J. 1985. Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality. New York: Cambridge University Press. – 1998. “Emotions and Economic Theory.” Journal of Economic Literature, 36, 47–74.
Ely, R., and D. Thomas. 2001. “Cultural Diversity at Work: The Effects of Diversity Perspectives on Work Group Processes and Outcomes.” Administrative Science Quarterly, 46, 229–73.
Festinger, L. 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.
Foot, P. 1997. “Virtues and Vices.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 163–77. New York: Oxford University Press.
Fort, T. 1999. “The First Man and the Company Man: The Common Good, Transcendence, and Mediating Institutions.” American Business Law Journal, 36, 391–435. – 2001. Ethics and Governance: Business as Mediating Institution. New York: Oxford University Press. – 2008. Prophets, Profits, and Peace: The Positive Role of Business in Promoting Religious Tolerance. New Haven: Yale University Press.
Fox, D. 1985. “Psychology, Ideology, Utopia, and the Commons.” American Psychologist, 40, 48–58.
Frank, R. 1988. Passions within Reason: The Strategic Role of the Emotions. New York: W. W. Norton & Company. – 2004. What Price the Moral High Ground? Ethical Dilemmas in Competitive Environments. Princeton: Princeton University Press – T. Gilovich, and D. Regan. 1993. “Does Studying Economics Inhibit Cooperation?” Journal of Economic Perspectives, 7, 159–71.
Frankfurt, H. 1981. “Freedom of the Will and the Concept of a Person.” In G. Watson (Ed.), Free Will, 81–95. New York: Oxford University Press.
Freeman, R. E. 1994. “The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions.” Business Ethics Quarterly, 4, 409–21. – J. Harrison, and A. Wicks. 2007. Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success. New Haven: Yale University Press.
Friedman, M. 1970. “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits.” New York Times Magazine, September 13.
Fritzsche, D. 1991. “A Model of Decision-Making Incorporating Ethical Values.” Journal of Business Ethics, 10, 841–52. – 2000. “Ethical Climates and the Ethical Dimension of Decision Making.” Journal of Business Ethics, 24, 125–40.
Furman, F. 1990. “Teaching Business Ethics: Questioning the Assumptions, Seeking New Directions.” Journal of Business Ethics, 9, 31–8.
Galston, W. 1991. Liberal Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the Liberal State. New York: Cambridge University Press.
Geertz, C. 1983. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books.
Ghoshal, S. 2005. “Bad Management Theories are Destroying Good Management Practices. Academy of Management Learning and Education, 4, 75–91.
Gilbert, D. 2006. Stumbling on Happiness. New York: Knopf. – E. Pinel, T. Wilson, S. Blumberg, and T. Wheatley. 1998. “Immune Neglect: A Source of Durability Bias in Affective Forecasting.” Journal of Personality and Social Psychology, 25, 617–38.
Giovanola, B. 2009. “Re-Thinking the Ethical and Anthropological Foundation of Economics and Business: Human Richness and Capabilities Enhancement.” Journal of Business Ethics, 88, 431–44.
Gladwell, M. 2005. Blink: The Power of Thinking Without Thinking. New York: Back Bay Books (Little, Brown).
Gould, S. 1995. “The Buddhist Perspective on Business Ethics: Experiential Exercises for Exploration and Practice.” Journal of Business Ethics, 14, 63–70.
Graafland, J. 2009. “Do Markets Crowd Out Virtues? An Aristotelian Framework.” Journal of Business Ethics, 91, 1–19.
Gutting, G. 2011. “Pinker on Reason and Morality.” New York Times (electronic edition), October 26, 2011.
Haidt, J. 2001. “The Emotional Dog and its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment.” Psychological Review, 108, 814–34. – 2006. The Happiness Hypothesis. New York: Basic Books. – 2012. The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion. New York: Pantheon Books.
Hambrick, D. 2005. “Just How Bad Are Our Theories? A Response to Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 104–7.
Hampshire, S. 1983. Morality and Conflict. Cambridge: Harvard University Press.
Hardin, G. 1968. ”The Tragedy of the Commons.” Science, 162, 1243–8.
Hare, R. D. 1993. Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths among Us. New York: Simon and Schuster.
Hare, R. M. 1952. The Language of Morals. Oxford: Oxford University Press.
Harman, G. 2003. “No Character or Personality.” Business Ethics Quarterly, 13, 87–94.
Hartman, E. 1977. Substance, Body, and Soul: Aristotelian Investigations. Princeton: Princeton University Press. – 1994. “The Commons and the Moral Organization.” Business Ethics Quarterly, 4, 253–69. – 1996. Organizational Ethics and the Good Life. New York: Oxford University Press. – 1998. “The Role of Character in Business Ethics.” Business Ethics Quarterly, 8, 547–59. – 2001. “An Aristotelian Approach to Moral Imagination.” Professional Ethics, 8, 58–77. – 2006. “Can We Teach Character? An Aristotelian Answer.” Academy of Management Learning and Education, 5, 68–81. Bibliography 259
Hausman, D. 2012. Preference, Value, Choice, and Welfare. New York: Cambridge University Press.
Heath, J. 2009. “The Uses and Abuses of Agency Theory.” Business Ethics Quarterly, 19, 497–528.
Heugens, P., M. Kaptein, and J. van Oosterhout. 2006. “The Ethics of the Node versus the Ethics of the Dyad? Reconciling Virtue Ethics and Contractualism.” Organization Studies, 27, 391–411.
Hirschman, A. 1982. “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble?” Journal of Economic Literature, 20, 1463–84.
Horvath, C. 1995. “MacIntyre’s Critique of Business.” Business Ethics Quarterly, 5, 499–532.
Hursthouse, R. 1999. On Virtue Ethics. New York: Oxford University Press. Irwin, T. 1988. Aristotle’s First Principles. New York: Oxford University Press.
Jackson, K. 2012. Virtuosity in Business: Invisible Law Guiding the Invisible Hand. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Jehn, K., G. Northcraft, and M. Neale. 1999. “Why Differences Make a Difference: A Field Study of Diversity, Conflict and Performance in Workgroups.” Administrative Science Quarterly, 44, 741–63.
Jensen, M. 2010. “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function.” Journal of Applied Corporate Finance, 22, 32–42.- and W. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics, 3, 305–60. – 1994. “The Nature of Man.” Journal of Applied Corporate Finance, 72 (Summer), 4–19.
Johnson, M. 1993. Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics. Chicago: University of Chicago Press.
Johnson and Johnson. 1943. Credo. New Brunswick, NJ: Johnson and Johnson.
Jones, S., and K. Hiltebeitel. 1995. “Organizational Influence in a Model of the Moral Decision Process of Accountants.” Journal of Business Ethics, 14, 417–31.
Jones, T., and L. Ryan. 2001. “The Effect of Organizational Forces on Individual Morality: Judgment, Moral Approbation, and Behavior.” In
J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 285–300. New York: Elsevier Science.
Jos, P., and M. Tompkins. 2004. “The Accountability Paradox in an Age of Reinvention: The Perennial Problem of Preserving Character and Judgment.” Administration and Society, 36, 255–81.
Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. – and A. Tversky (Eds.). 2000. Choices, Values, and Frames. New York: Cambridge University Press.
Kant, I. 1981. Grounding for the Metaphysics of Morals. Translated by J. Ellington. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Kasser, T., and R. Ryan. 1996. “Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals.” Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280–7.
Klein, S. 1995. “An Aristotelian Approach to Ethical Corporate Leadership.” Business and Professional Ethics Journal, 14, 3–23. – 1998. “Emotions and Practical Reasoning: Implications for Business Ethics.” Business and Professional Ethics Journal, 17, 3–29.
Koehn, D. 1992. “Toward an Ethic of Exchange.” Business Ethics Quarterly, 2, 341–55. – 1995. “A Role for Virtue Ethics in the Analysis of Business Practice. Business Ethics Quarterly, 5, 533–9. – 1998. “Virtue Ethics, the Firm, and Moral Psychology.” Business Ethics Quarterly, 8, 497–513.
Kohlberg, L. 1981. Essays on Moral Development. Volume I: The Philosophy of Moral Development. New York: Harper and Row.
Kraut, R. 1989. Aristotle on the Human Good. Princeton: Princeton University Press.
Kupperman, J. 1991. Character. New York: Oxford University Press. – 2005. “How Not to Educate Character.” In D. Lapsley and F. C. Power (Eds.), Character Psychology and Character Education, 201–17. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
LeBar, M. 2009. “Virtue Ethics and Deontic Constraints.” Ethics, 119, 642–71.
Lerner, J., and P. Tetlock. 2003. “Bridging Individual, Interpersonal, and Institutional Approaches to Judgment and Decision Making: The Impact of Accountability on Cognitive Bias.” In S. Schneider and J. Shanteau (Eds.), Emerging Perspectives on Judgment and Decision Research, 431–57. New York: Cambridge University Press.
Lewis, M. 1989. Liar’s Poker: Rising through the Wreckage on Wall Street. New York: W. W. Norton.
Lieberman, M. D. 2000. “Intuition: A Social Cognitive Neuroscience Approach.” Psychological Bulletin, 126, 109–37.
Loewenstein, G., and D. Adler. 2000. “A Bias in the Prediction of Tastes.” In D. Kahneman and A. Tversky (Eds.), Choices, Values, and Frames, 726–34. New York: Cambridge University Press.
Luban, D. 2003. “Integrity: Its Causes and Cures.” Fordham Law Review, 72, 279–310.
MacIntyre, A. 1985. After Virtue, 2nd edition. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Maitland, I. 1997. “Virtuous Markets: The Market as School of the Virtues.” Business Ethics Quarterly, 7, 17–31.
Martin, M. 2006. From Morality to Mental Health: Virtue and Vice in a Therapeutic Culture. New York: Oxford University Press.
Maslow, A. 1987. Motivation and Personality, 3rd edition. New York: Harper and Row.
Matson, W. 2001. “Unfair to Justice.” Modern Age, 372–278.
McCabe, D., and L. Trevino. 1995. “Cheating among Business Students: A Challenge for Business Leaders and Educators.” Journal of Management Education, 19, 205–18.
McCloskey, D. 2006. The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce. Chicago: University of Chicago Press.
McCracken, J., and B. Shaw. 1995. “Virtue Ethics and Contractarianism: Towards a Reconciliation.” Business Ethics Quarterly, 5, 297–312.
McDowell, J. 1997. “Virtue and Reason.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 141–62. New York: Oxford University Press.
McKinnon, C. 2005. “Character Possession and Human Flourishing.” In D. Lapsley and F. Power (Eds.), Character Psychology and Character Education, 36–66. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
Melé, D. 2003. “The Challenge of Humanistic Management.” Journal of Business Ethics, 44, 77–88.
Melville, H. 2001. Billy Budd, Sailor. Chicago: University of Chicago Press. Merck. 2011. http://www.merck.com/responsibility/access/access-featuremectizan.html.
Messick, D. 1998. “Social Categories and Business Ethics.” In R. E. Freeman (Ed.), Business, Science, and Ethics, 149–72, Ruffin Series No. 1. Business Ethics Quarterly (Special Issue).
Metcalfe, J., and W. Mischel. 1999. “A Hot–Cool System Analysis of Delay of Gratification: Dynamics of Willpower.” Psychological Review, 106, 3–19.
Milgram, S. 1974. Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper and Row.
Miller, F. 1995. Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics. New York: Oxford University Press.
Moberg, D. 1999. “The Big Five and Organizational Virtue.” Business Ethics Quarterly, 9, 245–72. – 2006. “Ethics Blind Spots in Organizations: How Systematic Errors in Person Perception Undermine Moral Agency.” Organization Studies, 27, 413–28.- and M. Seabright. 2000. “The Development of Moral Imagination.” Business Ethics Quarterly, 10, 845–84.
Moore, G. 2002. “On the Implications of the Practice–Institution Distinction: MacIntyre and the Application of Modern Virtue Ethics to Business.” Business Ethics Quarterly, 12, 19–32. – 2005a. “Corporate Character: Modern Virtue Ethics and the Virtuous Corporation.” Business Ethics Quarterly, 15, 659–85. – 2005b. “Humanizing Business: A Modern Virtue Ethics Approach.” Business Ethics Quarterly, 15, 237–55. – 2008. “Re-imagining the Morality of Management: A Modern Virtue Ethics Approach.” Business Ethics Quarterly, 18, 483– 511. – 2009. “Virtue Ethics and Business Organizations.” In J. Smith (Ed.), Normative Theory and Business Ethics, 35–59. New York: Rowman and Littlefield. – 2012. “The Virtue of Governance, the Governance of Virtue.” Business Ethics Quarterly, 22, 293–318. – and R. Beadle. 2006. “In Search of Organizational Virtue in Business: Agents, Goods, Practices, Institutions and Environments.” Organization Studies, 27, 369–89.
Morris, C. 2008. The Trillion Dollar Meltdown: Easy Money, High Rollers, and the Great Credit Crash. New York: Public Affairs.
N´eron, P., and W. Norman. 2008. “Citizenship, Inc.” Business Ethics Quarterly, 18, 1–26.
Newton, L. 1992. “Virtue and Role: Reflections on the Social Nature of Morality.” Business Ethics Quarterly, 2, 357–65.
Nickerson, R. 1994. “The Teaching of Thinking and Problem Solving.” In R. Sternberg (Ed.), Thinking and Problem Solving, 409–49. San Diego: Academic Press.
Nielsen, R. 2001. “Can Ethical Character be Stimulated and Enabled: An Action-Learning Approach to Teaching and Learning Organization Ethics.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 51–77. New York: Elsevier Science.
Norman, W. 2002. “Inevitable and Unacceptable? Methodological Rawlsianism in Anglo-American Political Philosophy.” Political Studies, 46, 276–94.
Numkanisorn, S. 2002. “Business and Buddhist Ethics.” The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies, 1, 39–58.
Nussbaum, M. 1990. “Finely Aware and Richly Responsible: Literature and the Moral Imagination.” In Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, 148–67. New York: Oxford University Press. – 2010. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press.
Ostrom, E., and T. K. Ahn. 2009. “The Meaning of Social Capital and its Link to Collective Action.” In G. Svendsen and G. L. Svendsen (Eds.), Handbook of Social Capital: The Troika of Sociology, Political Science and Economics, 17–35. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
Owen, G. 1960. “Logic and Metaphysics in Some Earlier Works of Aristotle.” In I. During and G. Owen (Eds.), Plato and Aristotle in the Mid- Fourth Century, 163–90. Goeteborg: Almquist and Wiksell. – 1986. “Tithenai ta phainomena.” In M. Nussbaum (Ed.), Science and Dialectic, 239–51. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Paine, L. 1991. “Ethics as Character Development: Reflections on the Objective of Ethics Education.” In R. Freeman (Ed.), Business Ethics: The State of the Art. 67–86. New York: Oxford University Press.
Pastoriza, D., M. Arino, and J. Ricart. 2007. “Ethical Managerial Behaviour as an Antecedent of Organizational Social Capital.” Journal of Business Ethics, 78, 329–41.
Peters, T., and R. Waterman. 1982. In Search of Excellence. New York: Harper and Row.
Pfeffer, J. 1982. Organizations and Organization Theory. Boston: Pitman. – 2005. “Why Do Bad Management Theories Persist? A Comment on Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 96–100.
Phillips, R., and C. Caldwell. 2005. “Value Chain Responsibility: A Farewell to Arm’s Length.” Business and Society Review, 110, 345– 70.
Pinker, S. 2011. The Better Angels of our Nature: Why Violence has Declined. New York: Viking.
Pizarro, D., and P. Bloom. 2003. “The Intelligence of Moral Intuitions: Comment on Haidt.” Psychological Review, 110, 193–6.
Porter, M. 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
Prior, W. 2001. “Eudaimonism.” Journal of Value Inquiry, 35, 325–42.
Putnam, H. 2002. The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Cambridge: Harvard University Press.
Putnam, R. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster. – and D. Campbell. 2010. American Grace: How Religion Divides and Unites Us. New York: Simon and Schuster.
Quine, W. 1980. From a Logical Point of View, 2nd edition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rabin, M. 1998. “Psychology and Economics.” Journal of Economic Literature, 36, 11–46.
Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. – 1993. Political Liberalism. New York: Columbia University Press. Roca, E. 2008. “Introducing Practical Wisdom in Business Schools.” Journal of Business Ethics, 82, 607–20.
Rosenzweig, P. 2007. The Halo Effect . . . and the Eight Other Business Delusions that Deceive Managers. New York: Free Press.
Ross, L., and R. Nisbet. 1991. The Person and the Situation: Perspectives of Social Psychology. New York: McGraw-Hill.
Ross, W. D. 1930. The Right and the Good. New York: Oxford University Press.
Russell, D. 2009. Practical Intelligence and the Virtues. Oxford: Clarendon Press.
Salmieri, G. 2009. “Aristotle’s Non-‘Dialectical’ Methodology in the Nicomachean Ethics.” Ancient Philosophy, 29, 311–35.
Sandel, M. 2012. What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Schein, E. H. 1985. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
Sen, A. 1987. On Ethics and Economics. New York: Basil Blackwell. – 1997. “Human Rights and Asian Values.” New Republic, July 14–21. https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/sen.htm. – 2009. The Idea of Justice. Cambridge, MA: The Belknap Press. – and B. Williams (Eds.), 1982. Utilitarianism and Beyond. New York: Cambridge University Press.
Sennett, R. 1998. The Corrosion of Character: The Transformation of Work in Modern Capitalism. New York: W. W. Norton & Company.
Shaw, B. 1995. “Virtues for a Postmodern World.” Business Ethics Quarterly, 5, 843–63.
Shiller, R. 2012. Finance and the Good Society. Princeton: Princeton University Press.
Shoda, Y.,W. Mischel, and P. Peake. 1990. “Predicting Adolescent Cognitive and Self-regulatory Competencies from Pre-school Delay of Gratification: Identifying Diagnostic Conditions.” Developmental Psychology, 26, 978–86.
Simmel, G. 1955. Conflict and the Web of Group Affiliations. Trans. By K. H. Wolfe. Glencoe, IL: The Free Press.
Simon, H. 1954. “A Behavioral Theory of Rational Choice.” Quarterly Journal of Economics, 69, 99–118.
Sims, R., and T. Keon. 1999. “Determinants of Ethical Decision Making: The Relationship of the Perceived Organizational Environment.” Journal of Business Ethics, 19, 393–401.
Sison, A. 2003. The Moral Capital of Leaders: Why Ethics Matters. Northampton, MA: Edward Elgar. – 2008. Corporate Governance and Ethics: An Aristotelian Perspective. Northampton, MA: Edward Elgar. – 2011. “Aristotelian Citizenship and Corporate Citizenship: Who is a Citizen of the Corporate Polis?” Journal of Business Ethics, 100, 3–9. – and J. Fontrodona. 2012. “The Common Good of the Firm in the Aristotelian-Thomistic Tradition.” Business Ethics Quarterly, 22, 211–46.
Skidelsky, E. 2009. “Capitalism and the Good Life.” In S. Gregg and J. Stoner (Eds.), Profit, Prudence, and Virtue: Essays in Ethics, Business and Management, 242–53. Exeter, UK: Imprint Academic.
Skinner, B. 1972. Beyond Freedom and Dignity. New York: Bantam Vintage.
Slater, L. 2004. Opening Skinner’s Box: Great Psychological Experiments of the Twentieth Century. New York: W. W. Norton.
Slote, M. 1983. Goods and Virtues. New York: Oxford University Press. – 1992 From Morality to Virtue. New York: Oxford University Press. – 2001. Morals from Motives. New York: Oxford University Press.
Smith, H. 2012. Who Stole the American Dream? New York: Random House.
Solomon, R. 1992. Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business. New York: Oxford University Press.
Sommers, M. C. 1997. “Useful Friendships: A Foundation for Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 16, 1453–8.
Stark, A. 1993. “What’s the Matter with Business Ethics?” Harvard Business Review, 71, 38–48.
Sundman, P. 2000. “The Good Manager – A Moral Manager?” Journal of Business Ethics, 27, 247–54.
Toulmin, S. 1990. Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. Chicago: University of Chicago Press.
Trevino, L. K. 1986. “Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model.” Academy of Management Review, 11, 607–17. – K. Butterfield, and D. McCabe. 2001. “The Ethical Context in Organizations: Influences on Employee Attitudes and Behaviors.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 301–37. New York: Elsevier Science.
Trist, E., and K. Bamforth. 1951. “Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Coal Getting.” Human Relations, 4, 3–38.
Tsalikis, J., and O. Wachukwu. 2000. “A Comparison of Nigerian to American Views of Bribery and Extortion in International Commerce.” Journal of Business Ethics, 10, 85–98.
Tsoukas, H., and S. Cummings. 1997. “Marginalization and Recovery: The Emergence of Aristotelian Themes in Organization Studies.” Organization Studies, 18, 655–83.
Turbow, J., with M. Duca. 2010. The Baseball Codes: Beanballs, Sign Stealing, and Bench-Clearing Brawls: The Unwritten Rules of America’s Pastime. New York: Pantheon Books.
Turner, N., J. Barling, O. Epitropaki, V. Butcher, and C. Milner. 2002. “Transformational Leadership and Moral Reasoning.” Journal of Applied Psychology, 87, 304–11.
Tversky, A., and D. Kahneman. 1981. “The Framing of Decisions and the Psychology of Choice.” Science, 211, 453–8.
Vidaver-Cohen, D. 1997. “Moral Imagination in Organizational Problem-Solving: An Institutional Perspective.” Business Ethics Quarterly, 7, 1–26. – 2001. “Motivational Appeal in Normative Theories of Enterprise.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 3–26. New York: Elsevier Science.
Vlastos, G. 1994. Socratic Studies. New York: Cambridge University Press.
Walton, C. 2001. “Character and Integrity in Organizations: The Civilization of the Workplace.” Business and Professional Ethics Journal, 20, 105–28.
Weaver, G. 2006. “Virtue in Organizations: Moral Identity as a Foundation for Moral Agency.” Organization Studies, 27, 341–68. – and B. Agle. 2002. “Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A Symbolic Interactionist Perspective.” Academy of Management Review, 27, 77–97.
Weick, K. 1969. The Social Psychology of Organizing. Reading, MA: Addison-Wesley. – K. Sutcliffe, and D. Obstfeld. 2005. “Organizing and the Process of Sensemaking.” Organization Science, 16, 409–21.
Wells, T., and J. Graafland. 2012. “Adam Smith’s Bourgeois Virtues in Competition.” Business Ethics Quarterly, 22, 319–50.
Werhane, P. 1991. Adam Smith and his Legacy for Modern Capitalism. New York: Oxford University Press. – 1999. Moral Imagination and Management Decision-making. New York: Oxford University Press. – and M. Gorman. 2005. “Intellectual Property Rights, Moral Imagination, and Access to Life-enhancing Drugs.” Business Ethics Quarterly, 15, 595–613. – L. Hartman, D. Moberg, E. Englehardt, M. Pritchard, and B. Parmar. 2011. “Social Constructivism, Mental Models, and Problems of Obedience.” Journal of Business Ethics, 100, 103–18.
Whetstone, J. 2003. “The Language of Managerial Excellence: Virtues as Understood and Applied.” Journal of Business Ethics, 44, 343–57.
Williams, B. 1981. Moral Luck. New York: Cambridge University Press. – 1985. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge: Harvard University Press.
Williamson, O. 1975. Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-trust Implications. New York: Free Press.
Winter, S. 1971. “Satisficing, Selection, and the Innovative Remnant.” Quarterly Journal of Economics, 85, 237–61.
Woodruff, P. 2001. Reverence: Renewing a Forgotten Virtue. New York: Oxford University Press.
Zimbardo, P. 2007. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. New York: Random House.
Imagem cowomen-ZKHksse8tUU-unsplash.jpg – 11 de março de 2024
—–