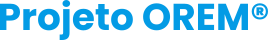Trechos do livro “Virtue In Business”, autor Edwin M. Hartman, para o nosso conhecimento e entendimento sobre as Organizações Baseadas na Espiritualidade (OBE) e a Espiritualidade no Ambiente de Trabalho (EAT).
Tradução livre Projeto OREM® (PO)
Virtude nos Negócios
Negócios, Criação de Valor e Sociedade
A abordagem da virtude para a ética nos negócios é um tópico de importância crescente no mundo dos negócios. Concentrando-se na teoria de Aristóteles de que as virtudes do caráter e não as ações, são fundamentais para a ética, Edwin M. Hartman apresenta aos leitores desse livro o valor de aplicar a abordagem das virtudes de Aristóteles aos negócios.
Usando numerosos exemplos do mundo real, ele argumenta que os líderes empresariais têm boas razões para levar a sério o caráter ao explicar e avaliar os indivíduos nas organizações. Ele demonstra como a abordagem da virtude pode aprofundar o nosso entendimento da ética nos negócios e como pode contribuir para discussões contemporâneas sobre caráter, racionalidade, cultura corporativa, educação ética e ética global.
Escrito por um dos principais estudiosos Aristotélicos que trabalham atualmente na área, essa introdução oficial para o papel da ética da virtude nos negócios é um texto valioso para estudantes de pós-graduação e pesquisadores acadêmicos em ética nos negócios, ética aplicada e filosofia.
Edwin M. Hartman foi Professor Visitante de Ética Nos Negócios e codiretor do Seminário Paduano de Ética Nos Negócios na Stern School of Business da Universidade de Nova York até a sua aposentadoria em dezembro de 2009.
Antes de ingressar na Stern, ele lecionou por mais de vinte anos na escola de negócios e no departamento de filosofia da Rutgers University, onde ele foi diretor fundador do Prudential Business Ethics Center da Rutgers. Ele também é o autor de “Substance, Body, and Soul: Aristotelian Investigations, de Conceptual Foundations of Organization Theory” e de “Organizational Ethics and the Good Life” (nomeado Livro do Ano [2003] pela Divisão de Questões Sociais em Gestão da Academia de Administração).
…..Continuação da Parte VI…..
Um resumo do argumento – Capítulo 5:
Embora Aristóteles não admire os executivos em negócios, as virtudes que ele defende apoiam organizações eficazes e mercados produtivos, contrariamente às afirmações de MacIntyre e outros. Em particular, a meta do lucro não mina os bens internos, tal como a meta da segurança da polis não mina a coragem marcial. As organizações prosperam com lealdade ao tipo de liderança que incentiva o capital social, embora em alguns casos a cidadania organizacional leal possa ser explorada. De forma semelhante, uma organização pode prosperar externamente através do desenvolvimento de relacionamentos mutuamente vantajosos com aqueles que fazem parte da sua cadeia de suprimento e de outras partes interessadas, embora também aqui isso nem sempre funcione dessa maneira.
Capítulo 5
Virtudes dentro e entre as organizações
MacIntyre
“Alasdair MacIntyre (1985) é um Aristotélico, um eticista da virtude e um crítico do Liberalismo em geral e do Iluminismo em particular. Ele observa que a ética antes do Iluminismo baseava-se numa forte forma de naturalismo, numa visão teleológica e muitas vezes religiosa da natureza humana. Ele apoia a visão de Aristóteles de que a racionalidade é uma questão não só de ser capaz de tirar inferências válidas de certas premissas, mas também de ter premissas corretas sobre que tipo de vida é apropriada para um ser humano. Não há nada de racional numa motivação permanente para pintar tudo de azul ou para torturar pequenos animais ou, diriam Aristóteles e MacIntyre, para se esforçar para ganhar um bilhão de dólares. Nós não conseguimos entender tanto a nossa sociabilidade como a nossa racionalidade se nós acreditarmos que o interesse próprio é mera satisfação de preferências e que a benevolência implica sempre em custos.
Segundo MacIntyre, os filósofos do Iluminismo não apenas abandonaram a concepção teleológica do ser humano, mas também supuseram que o indivíduo poderia ser plenamente humano, mesmo na ausência de certos relacionamentos essenciais. A ideia de que uma pessoa pode ou não fazer parte da estrutura de uma sociedade não faz sentido do ponto de vista dele ou do de Aristóteles: seria como dizer que um pé ou uma mão pode ou não fazer parte de um corpo (Pol I 2 1253a19–22). Em parte por essa razão, MacIntyre sustenta que a noção de que a ética é determinada por um contrato entre o indivíduo e a sociedade é um grande erro.
Hume, que MacIntyre considera parte do problema, é bem conhecido por dizer que não é contrário à razão preferir a destruição do mundo a coçar o meu dedo. Assim, ele sugere que a racionalidade tem a ver com meios para atingir fins e que nenhum fim é naturalmente superior a qualquer outro. Se isso for verdade, não pode haver nenhuma explicação racional da boa vida e nenhuma base para a moralidade separada de tudo o que nós desejamos. E na ausência de razão para determinar o que deve ser desejado, nós estamos confiando apenas na emoção, diz MacIntyre. Então ele chama o alvo dele de emotivismo.
O que MacIntyre chama de emotivismo e eu chamo de utilitarismo vazio é uma teoria do comportamento humano, bem como uma teoria moral. Aqueles que pensam que ela funciona como uma teoria psicológica tendem a considerá-la satisfatória como uma teoria moral. A tese da separação não permitiria esse tipo de inferência: ela sustenta que uma teoria não pode ser simultaneamente uma teoria psicológica e uma teoria moral. MacIntyre rejeita a tese da separação e rejeita o emotivismo como errado empiricamente e moralmente. Mas mesmo que, como afirmam Doris e outros, ela seja uma teoria psicológica fraca, ela ainda pode ser uma boa teoria moral.
Tudo isso está relacionado com outra grande afirmação de MacIntyre, que é a de que a ciência social não deve pretender ser científica. Eu extrapolo um pouco, porém, de uma maneira que tem respaldo no texto de MacIntyre. O comportamento humano é um assunto adequado para a ciência se nós formos capazes de observar e medir os estados psicológicos humanos. À primeira vista, isso parece impossível: crenças e desejos, assim como muitos outros estados psicológicos, são certamente inobserváveis e imensuráveis. No entanto, se o Behaviorismo for verdadeiro – isso é, se as crenças e os desejos são disposições para agir – então talvez nós sejamos capazes de observar e medir esses estados de certa forma, tal como nós podemos observar e medir entidades disposicionais típicas. Então, pelo menos, eu sou capaz de inferir o que você deseja a partir do que você faz voluntariamente. E se o tipo de utilitarismo que MacIntyre ataca for verdadeiro, então nós somos capazes de observar se alguma coisa é boa para uma pessoa, se conseguir o que se quer é bom para alguém. Então, com uma pequena ajuda a partir dos economistas, nós poderemos olhar para um grande número de pessoas e observar se algum ato é moralmente bom. No entanto, como eu argumentei no Capítulo 3, o pensamento e a ação humanos não estão abertos à observação e à medição dessa forma. Não pode haver ciência de razões e ações. O Behaviorismo é falso. O individualismo radical, a economia irreflexiva, o utilitarismo vazio, a noção de utilidade como satisfação de preferências e um tipo comum de teoria organizacional estão errados.
Isso não significa que qualquer abordagem científica para certas questões organizacionais seja impossível.(1) Por exemplo, embora nós não sejamos capazes de observar claramente as crenças ou medir com precisão a força dos desejos, nós somos capazes de realizar pesquisas que nos deem uma ideia útil do que os funcionários querem e o que eles pensam. Se três quartos de todos os funcionários de uma organização declararem, num inquérito confidencial, que eles acreditam que todos os seus gestores seniores são desonestos e cruéis e que, portanto, é necessária mais transparência, a organização tem inegavelmente um problema aí. Seria tolice da parte dos gestores seniores descartar os resultados porque não são realmente científicos, embora haja alguns que fariam exatamente isso. Aristóteles afirma que é um sinal de erudição abster-se de exigir mais precisão do que o assunto admite. Nós poderíamos acrescentar como corolário que não se deve exigir mais precisão do que a necessária para fins práticos. Às vezes é seguro presumir que as pessoas veem o que está acontecendo e saibam o que elas querem. Entretanto, às vezes essa suposição não é nada segura.
(1) Eu penso que Donaldson (2005) concorda comigo nesse ponto.
Nós estamos inclinados a acreditar que normalmente nós agimos para alcançar algum resultado que nos satisfaça. Na verdade, diz MacIntyre, às vezes nós desfrutamos de bens intrínsecos: algumas ações são boas em si mesmas. Eu tenho a ganhar agindo de forma amigável e cooperativa: a organização provavelmente se beneficiará com isso e provavelmente me recompensará por isso. No entanto, os seres humanos, criaturas sociáveis como nós somos, desfrutam naturalmente da amizade, da cooperação e de outras virtudes ativas, tanto para si mesmos como para os bons resultados deles. Como nós sabemos, essa é a visão de Aristóteles.
Práticas e instituições
No centro da crítica de MacIntyre aos negócios está a noção de prática, que pretende traduzir a práxis Grega. Como nós observamos no Capítulo 1, práxis (fazer; doing; coisas não palpáveis ou tarefas sem produção de algo novo) contrasta com poiesis (fazer; making; criar algo) e sugere uma atividade que é boa em si mesma. Uma prática é uma ‘forma coerente e complexa de atividade humana cooperativa socialmente estabelecida’ (1985, p. 187). Essas atividades são realizadas de acordo com ‘padrões de excelência’. A virtude – isso é, a excelência – nas práticas cria bens internos para a prática. Por exemplo, o trabalho cooperativo numa prática exige e, portanto, cultiva não apenas habilidade técnica, mas também confiabilidade, honestidade, sensibilidade, orgulho no trabalho, lealdade ao grupo, altruísmo e assim por diante. A prática pode gerar recompensas externas como dinheiro e prestígio, no entanto, os bens internos são mais importantes. As práticas são escolas de virtude; isso é aqui, embora em qualquer lugar, a ética pode ser encontrada em uma organização.
MacIntyre acusa os gerentes de ignorarem valores, que não consideram da conta deles (ver pp. 24-6 sobre Weber, por exemplo) e visarem a eficácia, o que acaba por significar lucro, que Aristóteles consideraria um meio para algum fim e não é um fim digno em si mesmo. Quaisquer bens externos que criem, como dinheiro e prestígio, são normalmente propriedade de indivíduos, ao invés de serem partilhados e são ‘assunto (tema) de competição em que deve haver perdedores e vencedores’ (pp. 189-91). Ou seja, os mercados são jogos de soma-zero, enquanto os bens internos são partilhados e criam situações do tipo ganha-ganha. Nós somos capazes de inferir que se uma empresa tem uma missão pró-social, MacIntyre tem motivos para atribuir-lhe alguma virtude, embora ele não o diga.
Práticas requerem instituições para as apoiar e proteger, para contratar e pagar os profissionais que as praticam, orientá-los e dar-lhes um lar organizacional. As instituições corporativas têm que visar lucros e participação de mercado, portanto, elevada produtividade e baixos custos; assim, os gerentes concentram-se nos bens externos gerados pelas práticas. Entretanto, os imperativos institucionais estão normalmente em desacordo com as práticas. Visar a maximização dos lucros mina o desfrute intrínseco dos bens internos que se podem encontrar na atividade cooperativa numa organização. Se, como diz Bertland (2009, p. 25), ‘. . . o papel de uma instituição é proporcionar oportunidades aos indivíduos para desenvolverem capacidades para funcionarem a um nível digno da dignidade humana’, as organizações em negócios fracassam gravemente, de acordo com MacIntyre.
Lazer
Aristóteles parece adotar uma abordagem mais radicalmente antinegócios ao afirmar que a virtude requer lazer.(2) Nós poderíamos interpretá-lo como querendo dizer que apenas pessoas com recursos independentes são capazes de ser virtuosas, porque elas não precisam trabalhar ou fazer qualquer outra coisa que elas não querem fazer. Essa seria uma interpretação um pouco enganosa. Aristóteles sugere que qualquer atividade que seja boa em si mesma é uma forma de lazer (Pol VIII 3 1338a1–6, NE X 71177b16–26). Isso incluiria não apenas o tipo de coisa que nós gostamos de fazer no tempo livre, mas também o trabalho que é intrinsecamente bom.
(2) Sobre essa questão eu estou em dívida com Ciulla (2000, pp. 192f.) e Miller (1995, 226-8).
Segundo Aristóteles, algumas formas de trabalho não se qualificam como lazer, mesmo nesse sentido amplo (Pol VIII 2 1337b10–15). Ele considera evidente que o trabalho dos agricultores e comerciantes visa inteiramente algum bem extrínseco, como um salário para o trabalhador e, em alguns casos, também o retorno do investimento para o proprietário. A maioria dessas pessoas não faz esse tipo de trabalho para ajudar um amigo ou para desfrutar de satisfação intrínseca; portanto, elas não vivem bem, não desenvolvem as virtudes.(3) Portanto, elas não estão qualificadas para a plena participação na governança de uma polis (Pol VII 9 1328b38-29a2), que supostamente promove a justiça em apoio às vidas virtuosas dos seus cidadãos.
(3) A sugestão de que o trabalho é capaz de ser gratificante ou servil, dependendo em parte do propósito, parece perdida por MacIntyre.
MacIntyre tem uma opinião semelhante ao observar que, para os empregados, o objetivo do trabalho é normalmente o lucro corporativo e o benefício para eles é um salário. A partir disso MacIntyre infere que o trabalho não é bom em si mesmo e não promove a virtude. Isso é verdade para grande parte do trabalho criado pela revolução industrial, que eliminou em grande parte o trabalho artesanal relativamente autônomo e fez com que os trabalhadores fossem partes do maquinário.(4) Frederick Winslow Taylor pensava que ele estava criando uma situação ganha-ganha ao controlar de perto os movimentos dos trabalhadores para aumentar a eficiência deles e então partilhar com eles o aumento dos lucros; assim se trabalha apenas para receber o pagamento. Isso é o modelo da justificação Utilitarista do trabalho e MacIntyre despreza isso. No entanto, ele não mostra que o Taylorismo ou qualquer coisa remotamente parecida seja encontrada na maioria das organizações com fins lucrativos hoje.(5)
(4) Ver Ciulla (2000, pp. 88f., 92–96). Na terminologia Marxista há um problema sobre alienação. Não deveria nos surpreender que MacIntyre tenha sido influenciado por Marx.
(5) Heugens, Kaptein e van Oosterhout (2006) argumentam que isso simplesmente não é.
Algumas objeções e alterações
MacIntyre apresenta dois pontos principais contra os negócios. Em primeiro lugar, a busca pelo lucro exclui as virtudes das organizações. O que poderia ter sido uma atividade cooperativa intrinsecamente valiosa é arruinada porque visa o lucro. Portanto, o trabalho de um executivo em negócios não é intrinsecamente bom. Isso é pura poiesis: ela não é uma atividade cooperativa prazerosa, portanto não é uma praxis. Em segundo lugar, as empresas não visam nenhum fim bom. MacIntyre (1985) critica Weber (pp. 24-6) por simplesmente descartar questões sobre os valores dos fins que os gerentes visam. O problema não é apenas que as empresas devem ganhar dinheiro: é que o dinheiro é um meio e não um fim e os negócios não admitem qualquer outro propósito, evitando assim quaisquer questões éticas sobre o que eles estão criando. As duas críticas de MacIntyre aos negócios estão relacionadas. Refutá-las é uma questão de mostrar que numa boa organização as pessoas de fato apreciam atividades cooperativas realizadas em apoio a uma missão corporativa pró-social.
MacIntyre não considera a gestão de uma prática, mas é como uma prática na medida em que ela é capaz de ser feita de forma excelente e ela é capaz de criar bens internos próprios (Moore, 2002, 2005a, 2005b, 2008, 2009). Os gestores podem proteger as práticas, garantindo ao mesmo tempo que elas forneçam à organização os bens externos necessários para que ela possa competir com sucesso. A afirmação de MacIntyre de que o mandato do lucro tem que minar os bens internos de uma organização não é obviamente verdadeira, nem ele de fato fornece muitas provas disso.(6)
(6) Ver Jackson (2012, Capítulo 3), que argumenta que só se adotará essa visão no pressuposto de que o lucro é o único propósito da empresa – uma visão que MacIntyre parece adotar. O lucro pode ser resultado do virtuosismo, afirma Jackson.
Os objetivos externos em geral nem sempre prejudicam a virtude interna. Aristóteles permite que um soldado de um exército nacional não apenas desenvolva virtudes militares, mas também beneficie a sua nação ao lutar por sua defesa. Aristóteles argumenta (NE X 7 1177b2–4, 16–20) que as ações virtuosas, como na guerra e na política, são boas em si mesmas, mas também visam algum bom resultado. Nesse aspecto eles diferem a partir do tipo de contemplação filosófica divina que não tem outro objetivo. Ele não afirmaria que a meta da defesa nacional prejudica o desenvolvimento e o exercício da coragem, do dever e da honra. Mas então como é que o propósito primordial de vencer a guerra difere do (suposto) propósito primordial da empresa de obter lucro?
Os bens internos estão necessariamente conectados aos externos, no sentido de que, embora as virtudes sejam internamente bons estados da alma, as pessoas virtuosas geram caracteristicamente e essencialmente bens externos. Considere a coragem, por exemplo. Não seria uma virtude se soldados e políticos corajosos não beneficiassem o Estado. Existe alguma relação entre uma prática e a qualidade de seu produto. Se eu tenho prazer e orgulho em fazer um violino, com ou sem a participação de terceiros, eu fico satisfeito e orgulhoso da qualidade da música que o violino produz. Se nós pudéssemos manter uma separação estrita entre praxis e poiesis, nós provavelmente diríamos que fazer um violino é uma poiesis; porém, como muitas atividades virtuosas, pode ser valorizada pelas suas recompensas intrínsecas, bem como pelos seus resultados. Não haveria nenhum bom artesanato ou qualquer tipo de virtude em gostar de fazer um violino com som feio. Um grupo de banqueiros de investimento que gosta de trabalhar numa atmosfera de confiança e cooperação para criar um instrumento financeiro que é muito mais arriscado do que parece aos potenciais clientes não é capaz de estar agindo virtuosamente, quaisquer que sejam os bens internos que caracterizem a prática deles. Da mesma forma, o que pode passar por honestidade, cooperação, responsabilidade e assim por diante, ficará aquém da excelência numa organização dedicada a maus propósitos, como a produção de tabaco.
Koehn (1998) oferece o exemplo do arquiteto Nazista Albert Speer. Sundman (2000, p. 251) argumenta que um gerente numa empresa má pode ainda ser um bom gerente, em oposição a uma boa pessoa. Eu não tenho tanta certeza. Nós poderíamos hesitar em dizer que um professor que segue o currículo de uma escola que apoia o terrorismo é um bom professor.
Não está claro se o propósito principal da empresa ao contratar Jones para fabricar violinos seja obter lucro: o lucro em si mesmo pode ser considerado uma condição necessária para cumprir a missão da organização. Entretanto, em qualquer caso, Aristóteles sugere que se pode fabricar e vender coisas virtuosamente. Em particular, como ele diz em NE V 5, a justiça em permuta (troca, intercâmbio) é uma questão de as pessoas abdicarem (abrir mão, desistir) do que elas não necessitam e obterem o que elas de fato necessitam. A explicação dele é incompleta e não começa a lidar com a maioria das questões éticas que os mercados levantam. Por exemplo, ele não discute monopólios ou compras de coisas que não beneficiarão o comprador. Mas permanece a questão de que Aristóteles acredita que a compra e a venda são capazes de serem feitas de forma justa e que a justiça, nesse caso, baseia-se em benefícios recíprocos e de soma-positiva.
MacIntyre não somente falha em mostrar que a preocupação com o lucro exclui a virtude: ele não dá uma explicação adequada das circunstâncias sob as quais o trabalho pode ser intrinsecamente bom. Beadle e Knight (2012) abordam a questão semelhante do trabalho significativo, no entanto, eles não consideram que o significado tenha muito a ver com o fato de o trabalho ser uma praxis. Eles argumentam que o significado é capaz de ser criado por muitos tipos de fatores, incluindo características do indivíduo (pp. 441f.) e a oportunidade de negociar os termos do trabalho (p. 439), mas não as características do trabalho (p. 441), surpreendentemente. Eles observam que há um trabalho empírico sério a ser feito aqui – e é claro que o trabalho conceitual também é apropriado se o significado estiver em questão – mas um ponto já está claro: uma perspectiva de virtude é uma condição necessária para falar sobre trabalho intrinsecamente significativo como uma questão ética (p. 436). Evidentemente isso não é suficiente.
Bons funcionários e boas organizações
Ao contrário do que MacIntyre parece acreditar, a virtude interna, no sentido dele, pode ser um fator de sucesso para uma organização e não é menos virtuosa por isso. A excelência dos funcionários no que ele chama de ‘cooperativa socialmente estabelecida. . . atividade’ gera caracteristicamente capital social e, portanto, ajuda a preservar os bens comuns nas organizações. Isso se faz especialmente quando os funcionários consideram que a missão da organização tem valor.
Considere um CEO de uma grande empresa que fabrica produtos excelentes, os vende a preços competitivos a clientes satisfeitos e obtém lucros que sustentam o crescimento. O conselho pode decidir que o CEO deveria receber opções de compra de ações como incentivo para um bom desempenho; ou o conselho pode decidir apenas dar ao CEO um bom salário. Nós sabemos que alguns economistas e teóricos organizacionais dizem que o CEO terá um desempenho melhor se dado o incentivo das opções de compra de ações. Nós sabemos também que isso nem sempre é verdade; muitas vezes a compensação por incentivos altera a visão do gerente sobre o trabalho e o seu propósito. E a teoria de que é assim que os gerentes têm que ser motivados é, provavelmente diria MacIntyre, exatamente o que se obtém quando se começa a pensar nas ciências sociais como uma ciência natural: você simplifica enormemente a sua visão da natureza humana para que você seja capaz de quantificá-la e de outras maneiras, fazer com que seja adequada para os cientistas.
É estranho que MacIntyre se concentre tanto nas práticas em organizações e tão pouco em outras áreas nas quais a virtude é importante. Ele deveria aprovar o CEO que tem um bom desempenho sem remuneração de incentivo devido a alguma coisa como lealdade à organização e uma atitude profissional em relação ao cargo de executivo-chefe. A excelência da organização é em si mesma um incentivo para o bom CEO e administrar a empresa da maneira certa e com os resultados certos é uma fonte de orgulho e satisfação. E como nenhum CEO é capaz de ser um gerente ou líder sozinho, o bom CEO desfrutará das virtudes associativas e do capital social que elas criam, em parte tratando os funcionários com respeito e honestidade e, assim, encorajando-os a encarar o sucesso da organização como uma fonte de orgulho e satisfação.
Moore: características de uma boa organização
Moore (2012), um crítico simpático mas firme de MacIntyre, recolhe evidências para apoiar a afirmação, também feita por Ghoshal (2005), Bazerman e Tenbrunsel (2011) e outros, de que os incentivos financeiros individuais são inimigos da virtude. Eles atraem ‘narcisistas egocêntricos’ para os cargos executivos. Eles minam o tipo de capital social que as empresas deveriam encorajar entre os seus empregados: o motivo para retribuir, o desejo de aprovação social e o desejo de trabalhar em tarefas intrinsecamente gratificantes – as bases das práticas, no sentido de MacIntyre. Com base na sua própria investigação e na de outros, Moore oferece oito ‘parâmetros’ para desenvolver uma organização que seja ao mesmo tempo virtuosa e bem-sucedida. Os parâmetros vão muito além do que MacIntyre valoriza, ou mesmo percebe, nas organizações. Muitos deles têm a ver com capital social.(7)
(7) Pastoriza, Arino e Ricart (2007) atribuem a responsabilidade primária pelo desenvolvimento do capital social ao executivo-chefe, que é responsável por moldar a motivação dos funcionários.
Em primeiro lugar, concentre-se no propósito – com o qual Moore parece se referir à missão – da organização. É importante persuadir os colaboradores de que a missão da organização tem uma importância própria e que confere valor ao seu trabalho. Ter orgulho da qualidade dos produtos ou serviços que eles criam pode motivar os funcionários, contrariamente ao pressuposto do homo economicus. Querendo que a organização tenha um bom desempenho, os funcionários estarão menos propensos a agir de acordo com o que eles consideram ser seus interesses limitados e a virem a ser aproveitadores negligentes. Nesses casos, a crença da maioria dos funcionários de que outros funcionários estão fazendo a sua parte será verdadeira porque ela é autorrealizável. Assim, uma boa missão externa fortalece o capital social interno(*).
[(*) Observação PO: “Segundo o antropólogo organizacional Ignacio García da Universidade de Buenos Aires, o termo Capital Social se refere às redes de relacionamento baseadas na confiança, cooperação e inovação que são desenvolvidas pelos indivíduos dentro e fora da organização, facilitando o acesso à informação e ao conhecimento. Tais redes podem adotar um caráter formal (determinadas pelos laços hierárquicos, próprios do organograma formal), mas, sobretudo, são de natureza informal, envolvendo laços horizontais (entre pares) e diagonais (entre colaboradores de distintas áreas e stakeholders). Em suma, segundo o autor: “… o Capital Social é a amálgama que interconecta as várias formas do Capital Humano, criando o ativo intangível mais valioso das organizações: as redes humanas de trabalho”. Fonte: Wikipedia]
Existe uma relação de apoio mútuo entre o sucesso da organização no cumprimento da sua missão e o trabalho cooperativo de funcionários confiáveis, altruístas e leais. Como nós observamos no Capítulo 1, Collins e Porras (2002) encontram evidências de que o sucesso financeiro a longo prazo é resultado de uma missão clara e convincente. Johnson and Johnson, Whole Foods e algumas outras empresas de sucesso consideraram isso fundamental. Empresas como essas oferecem contraexemplos à afirmação de MacIntyre, rejeitada por Moore, de que o lucro tem que minar a virtude.
MacIntyre concorda com Friedman que o propósito da empresa é gerar bens externos, em primeiro lugar para os acionistas. Não vejo nenhuma boa razão para pensar que uma empresa tem apenas um propósito ou serve apenas um grupo de partes interessadas, embora algumas partes interessadas mereçam prioridade. Moore pode ter mudado ligeiramente de opinião. Em 2006, ele e Beadle inferiram a partir do caso Dodge vs. Ford Motor Co. de 1919 que o ‘capitalismo Anglo-Americano’ considera que o propósito de uma corporação é o lucro para os acionistas. Entretanto, Dodge não é a última palavra sobre o assunto, na lei ou na prática. Allen (2006, p. 42) observa que os tribunais de Indiana, Pensilvânia e Connecticut decidiram no sentido oposto e que nós não temos alcançado um consenso sobre essa questão. Uma maneira de lidar com o abismo ético entre MacIntyre e Friedman é utilizar o velho artifício filosófico de negar uma premissa que ambos têm em comum: que o propósito da empresa é apenas enriquecer os acionistas.
Em segundo lugar, Moore assessora, contrata e promove funcionários pró-sociais – pessoas cooperativas, honestas e conscienciosas. Esse não é um assessoramento ruim, mas é difícil dizer antecipadamente quem será um cooperador e quem tentará ser um aproveitador. Isso deveria ficar claro no trabalho de Doris e outros sobre o estatuto questionável do caráter – ou, como eu preferiria dizer, a sua fragilidade. Moore claramente não aceita a visão de caráter de Doris; na verdade, ele encontra evidências na literatura de que os cooperadores condicionais compreendem cerca de metade da população e os aproveitadores cerca de um terço (p. 307). Mostrar aos cooperadores condicionais que as condições são adequadas para a cooperação é crucial e isso é ajudado pela repressão aos aproveitadores.(8) Isso não requer saber antecipadamente quem são os aproveitadores. Pode ser que seja o máximo que se é capaz de fazer na ausência de testes psicológicos adequadamente sutis. Moore está assumindo que o tipo certo de estrutura organizacional e os seus sistemas são necessários, mas não suficientes, para que a organização seja boa e já deveria ser óbvio que eu concordo.
(8) Maitland argumenta que a resolução do problema da garantia nesse caso exigirá que a gestão esteja preparada para punir os aproveitadores. [Maitland, I. 2009. “Imperialismo Econômico e seus Inimigos: A Defesa da Governança”. Publicado e distribuído pelo autor.]
Em terceiro lugar, crie (projete) empregos de modo que ofereçam uma oportunidade de serem virtuosos. Isso parece significar não apenas que o funcionário tem razão para ser honesto, mas também que o trabalho exige habilidade, atenção aos detalhes, autonomia, cooperação com os outros – ou seja, as virtudes características de uma prática. Não é fácil fazer isso para empregos braçais,(9) mas muitos, se não todos os funcionários, podem ser levados a ver que eles são respeitados. Isso e a maioria dos parâmetros são sobre criar um certo tipo de cultura corporativa.
(9) Entretanto, isso foi feito para mineradores de carvão. Veja Trist e Bamforth (1951). Mesmo um trabalho que não exija grande habilidade ou conceda muita autonomia merece respeito e oferece certa dignidade. Mas essa não é uma ideia Aristotélica.
Em quarto lugar, moderar (frear) a remuneração dos executivos. Presumivelmente, isso exigirá a cooperação dos membros do conselho, que até agora parecem não ser receptivos a essa mudança. Bazerman e Tenbrunsel (2011, Capítulo 6) vão além: eles dão evidências de que oferecer bônus por comportamento que supostamente agrega valor muitas vezes acaba sendo fútil ou pior, pois os executivos enganam o sistema. Na verdade, esses esquemas tendem a minar a capacidade dos executivos de se concentrarem no sucesso da empresa. Bazerman e Tenbrunsel até dão evidências de que as pessoas serão mais cooperativas em algumas áreas se elas não forem compensadas por isso. Eles ampliam o ponto argumentando que impor regras não é de forma alguma sempre uma maneira eficaz de gerenciar. Nenhum eticista da virtude discordará.
Em quinto lugar, tornar a tomada de decisões participativa e encorajar o diálogo crítico racional. Moore sem dúvida concordaria com Lerner e Tetlock (2003, p. 433) que os participantes devem declarar as suas opiniões como se fossem para um público bem informado e em busca da verdade, de pessoas que ainda não se decidiram. É realmente difícil ver como organizações que são ditaduras de cima para baixo são capazes de encorajar os funcionários a tomar a missão da organização como um guia para a ação ou uma fonte de orgulho se eles não têm propriedade sobre ela. Existem, é claro, algumas organizações — os militares em batalha podem ser uma delas — nas quais é capaz de haver pouco espaço para discussão estendida. Mas as desvantagens do comando e controle são bem conhecidas: existem alguns gerentes ditatoriais que poderiam melhorar o seu desempenho ouvindo ocasionalmente, embora nem todos o façam, já que eles gostam de ser ditadores. Eu tenho argumentado e argumentarei novamente, sobre a importância da dialética em descobrir a coisa certa a fazer. No entanto, acreditar que a dialética é sempre suficiente para resolver problemas de autoridade e responsabilidade no local de trabalho é, como Moore provavelmente concordaria, colocar muita fé na racionalidade de gerentes e funcionários.
Em sexto lugar, confiar nos funcionários ao invés de monitorar os funcionários. Isso parece pressupor que os outros parâmetros estejam em vigor, embora isso possa equivaler a uma profecia autorrealizável. Em alguns casos, no entanto, isso é capaz de ser desastroso.
Em sétimo lugar, incentivar a identidade do grupo. Na política e na gestão, há poucas questões mais críticas do que encontrar maneiras de fazer as pessoas apoiarem o bem comum. Uma missão convincente ajudará. Em algumas organizações, será útil criar culturas de bando-de-irmãos (band-of-brothers cultures) dentro das unidades, embora a competição e a desconfiança entre as linhas da unidade possam ser uma consequência não intencional. Criar um Nosso geralmente envolve criar um Deles.
Em oitavo lugar, manter a transparência. Isso cria e é criado pela confiança, com a qual compartilha algumas vantagens e desvantagens. Em algumas grandes organizações, no entanto, revelar detalhes de questões como estratégia corporativa a todos os funcionários seria arriscado. Das recomendações de Moore, apenas uma tem muito a ver com as visões de MacIntyre sobre virtudes possíveis (ou impossíveis) nas organizações. Não há nada sobre a influência nociva do imperativo do lucro. Pelo contrário, dado o que Moore diz sobre a importância do propósito da organização (ou seja, missão), ele é capaz de argumentar que o lucro é um meio para atingir o propósito e não um fim em si mesmo. Isso deve satisfazer MacIntyre e Aristóteles também.
Tomados como um todo, o ponto dos oito parâmetros parece ser que uma organização tem sucesso ao dar a cada funcionário razão para acreditar que a missão da organização vale a pena perseguir e razão para acreditar que os outros funcionários têm a mesma razão. Os oito parâmetros são melhor efetuados juntos. Alguns deles não são capazes de ser facilmente realizados isoladamente; outros, incluindo o último, são capazes, mas provavelmente piorariam as coisas.
Uma organização como essa poderia ser internamente boa, porém, externamente ruim, produzindo produtos ruins ou tirando vantagem do poder de monopólio, por exemplo? Possivelmente, no entanto, nesse caso seria menos provável que ela conseguisse reunir a sua força de trabalho em torno de sua missão.
Seria um eufemismo dizer que nada disso é fácil, particularmente para grandes organizações nas quais a maioria dos funcionários não conhece a maioria dos outros funcionários. Nós sabemos que Aristóteles acredita que a polis é a escola da virtude, no entanto, ele está pensando em uma cidade-estado que nós não consideraríamos grande. Por razões a serem discutidas no Capítulo 7, é mais fácil criar o que Moore defende em pequenas empresas ou subunidades de grandes empresas.
Comportamentos de cidadania organizacional
A organização ideal de Moore promove e é promovida pelo que é chamado de Comportamentos de Cidadania Organizacional (CCO), um conceito recentemente formulado para descrever a atuação dos funcionários para o bem comum – ou, como nós poderíamos dizer, a atuação para preservar os bens comuns – na corporação (Sison, 2011). Uma organização se beneficia a partir da CCO quando os seus funcionários vão além dos requisitos mínimos de seus empregos individuais e com boa vontade e respeito mútuo trabalham cooperativamente para o sucesso da empresa. Nos termos de MacIntyre, eles estão envolvidos em práticas virtuosas. Eles estão criando capital social, o que é bom em si mesmo, além de ser produtivo em um mercado competitivo.
Sison usa a noção de CCO ao discutir a cidadania Aristotélica nas organizações. Akerlof (2007) tem proposto que a economia atenda ao que ele chama de ‘normas naturais’, que levam os funcionários a contribuir mais do que eles estritamente precisam para o sucesso corporativo. Recorde a afirmação dele (1982, p. 543) de que a produtividade dos empregados é capaz de ser explicada pela referência ao seu ‘sentimento uns pelos outros e também pela empresa’.
Como Sison observa, há uma controvérsia de longa data sobre as maneiras pelas quais os funcionários são como cidadãos de uma polis. Ao discutir a questão, Sison traz duas concepções distintas de cidadania. Uma delas é o que MacIntyre chamaria de concepção liberal, que enfatiza direitos e, em particular, a liberdade do controle governamental. A outra, que Sison identifica com a noção de cidadania plena de Aristóteles, requer assumir obrigações para com o grupo e, em geral, ter uma mentalidade cívica. Isso vai muito além do cumprimento de um contrato, seja um contrato de pagamento por desempenho ou qualquer outro; na verdade, tal contrato pressupõe que os funcionários são distintos da organização em um sentido que o CCO não contempla, pois de um bom cidadão organizacional é esperado compartilhar a responsabilidade pelo sucesso da organização. Tal cidadão é um funcionário virtuoso.
Alguém poderia razoavelmente dizer — embora Aristóteles não o faria — que a forma rica em obrigações de cidadania é apropriada para funcionários e a liberal para cidadãos de um estado. N´eron e Norman (2008, pp. 10f.) observam a distinção similar de Galston (1991, pp. 225–7) entre cidadania cívico-republicana e cidadania liberal. A primeira obriga você a se interessar pela comunidade e almejar o bem comum. A última permite que você seja egoísta. Se nós pudéssemos resumir Moore e Sison em uma frase, nós diríamos que a forma liberal de cidadania é insuficiente para uma boa organização. Do ponto de vista de MacIntyre, o liberalismo desse tipo em uma organização ou em um estado é o inimigo. Nós discutiremos essa questão mais detalhadamente no Capítulo 7.
Uma dificuldade sobre esse tipo de cidadania organizacional é que se é capaz de contar com ela para beneficiar o funcionário somente se a organização tiver as características que Moore predica de boas organizações. Se a empresa for dominada por aproveitadores, os cooperadores estarão em grande desvantagem. Confiar no indigno de confiança e contribuir para o explorador é virtuoso demais, portanto, um tipo de vício.
Um problema sobre lealdade
Muitas teorias de gestão parecem ter como objetivo melhorar o desempenho corporativo ao projetar trabalhos que essencialmente envolvem práticas, com bens internos a elas. Anteriormente nesse Capítulo, eu mencionei confiabilidade, honestidade, sensibilidade, orgulho pelo trabalho, lealdade ao grupo e altruísmo. Teóricos da Gestão da Qualidade Total, por exemplo, alegariam estar encorajando essas e outras virtudes semelhantes. Por trás de muitas dessas teorias está a noção de que gerentes e funcionários estão trabalhando juntos como membros leais e comprometidos de uma equipe, ou mesmo de uma família, em auxílio de uma missão corporativa que os anima a todos.
Um problema com teorias desse tipo nós já temos notado. Uma corporação será celebrada na literatura por demonstrar o poder desse ou daquele arranjo e então problemas sérios começam logo após a publicação. Como argumenta Rosenzweig, os gerentes são frequentemente iludidos quando consideram o trabalho em equipe e assim por diante como variáveis independentes. Entretanto, quando as atribuímos a empresas bem-sucedidas, o efeito halo geralmente entra em ação: o sucesso é a verdadeira variável independente e a impressão de solidariedade virtuosa é o resultado do sucesso. Em qualquer caso, as corporações frequentemente descobrem que as inovações de gestão funcionam bem por um tempo, mas depois sofrem consequências não intencionais e imprevistas. Nesse ponto, MacIntyre pode muito bem argumentar que Rosenzweig demonstrou a futilidade das teorias pseudocientíficas de gestão. Mas quem argumentaria que a cooperação é improdutiva ou que não requer confiança? Quem argumentaria que a clandestinidade (ou parasitismo) é um fator de sucesso em uma organização? O mínimo que nós somos capazes de dizer é que MacIntyre falha em mostrar que o motivo do lucro corporativo é inconsistente com a virtude na corporação.
Infelizmente, MacIntyre não está totalmente errado. Muitas empresas, incluindo aquelas que realizam trabalho em equipe com base em lealdade e comprometimento, falham em agir de acordo com os seus valores defendidos. Muitas vezes, elas se mostraram prontas para recorrer à redução de pessoal quando isso oferece vantagens. E ‘Quem pode nos culpar?’, eles podem perguntar. Renunciar a oportunidades de lucro como forma de preservar empregos é realmente uma forma de bem-estar social. Essa resposta pressupõe que os funcionários devem ser tratados principalmente como meios e os acionistas como fins. Isso decorre do princípio de Friedman de que a responsabilidade primordial da administração é gerar lucros para os acionistas. Entretanto, Friedman não oferece nenhuma prova de que os acionistas devem obter o máximo possível da margem, enquanto os funcionários obtêm apenas o necessário para impedi-los de sair. Que os acionistas são donos da empresa é um fato pertinente, porém, não um fato decisivo. Friedman argumenta que essa é a maneira de construir uma economia forte. Hedrick Smith (2012), por outro lado, argumenta que uma economia forte requer uma classe média forte, o que o capitalismo de acionistas está minando na América.
Lealdade falsa
Mas pior, como Ciulla (2000, especialmente Capítulo 9) diz, as empresas estão traindo os funcionários delas. A gestão exige lealdade e comprometimento e apenas finge oferecê-los em troca. Do jeito que as coisas estão, muitos funcionários demitidos têm motivos para se sentirem enganados. É comum culpar as pressões competitivas da globalização pela redução de pessoal e terceirização e, consequentemente, pela estagnação dos salários dos funcionários, apesar de sua produtividade aumentada. No entanto, os salários dos funcionários não estagnaram em todos os países industrializados: na Alemanha, por exemplo, eles aumentaram junto com a produtividade dos trabalhadores, como fizeram nesse país por quase trinta anos após a Segunda Guerra Mundial. Desde então, executivos e acionistas colheram quase todos os ganhos da produtividade (Ciulla, 2000, especialmente pp. 155–7; Smith, 2012, Capítulos 4–6). O fato de essa situação ser tão comum na América faz com que seja difícil para os funcionários terem a confiança necessária para participar da criação do tipo de organização que Moore imagina.
É irrealista pensar na maioria das organizações como famílias e desonesto da administração representá-las dessa maneira. É possível fazer com que os funcionários sejam membros de uma equipe sem oferecer a eles emprego permanente. Os funcionários são capazes de pensar em seus empregos como oportunidades representativas para desenvolver habilidades valiosas, incluindo aquelas que os permitem participar de formas coerentes e complexas de atividade humana cooperativa socialmente estabelecida de acordo com padrões de excelência e obter grande satisfação ao fazê-lo.
Eles são capazes de compararem a eles mesmos a atletas que podem ser negociados para um novo time, entretanto, espera-se que se encaixem com os seus novos colegas de time e continuem a jogar o jogo da maneira certa. Jones e Smith estão no negócio por eles mesmos, em certo sentido, mas isso não significa que eles devam ter uma atitude estritamente egoísta em relação ao seu trabalho. É possível ter uma organização que se aproxime do ideal de Moore sem prometer a ninguém um emprego vitalício.
Haverá situações em que uma medida de lealdade será uma necessidade. Treinar um funcionário pode ser um investimento significativo e haverá pouco ou nenhum retorno se Jones deixar a empresa e usar a sua habilidade recém-adquirida em outro lugar. Ou se o treinamento for estritamente aplicável, Jones também verá um retorno sobre o seu investimento de tempo somente se ele mantiver o seu emprego. Em casos desse tipo, há razão para o empregador manter Jones por um longo período e dar a Jones um forte incentivo para ficar. E, claro, Jones e a empresa terão que confiar um no outro se quiserem realizar o investimento conjunto.
Liderança
Se todas ou quase todas as pessoas fossem racionais da maneira que os economistas normalmente pensam que as pessoas são, a gestão seria uma tarefa quase impossível, mesmo com os melhores esquemas possíveis de compensação de desempenho. Porém, na verdade, algumas pessoas são razoáveis no sentido de Rawls (1993): a pessoa razoável é motivada a agir cooperativamente de acordo com princípios mutuamente aceitáveis. A pessoa racional, nesse sentido, é mais estritamente egoísta. Pessoas razoáveis estão normalmente dispostas a jogar pelas regras, desde que outros no jogo também joguem por elas, mesmo quando ser razoável conflita com a racionalidade no sentido dos economistas. Eles apreciam e retribuem o comportamento cooperativo dos outros ao invés de explorá-lo. Esses são os cooperadores condicionais que Moore afirma que constituem cerca de metade da força de trabalho típica. Em uma organização, uma pessoa racional no sentido que nós estamos discutindo — não no sentido de Aristóteles — pode ser um aproveitador; uma pessoa razoável não será. Os bens comuns são preservados em uma organização apenas se a maioria das pessoas for razoável.
Os concorrentes podem ser pessoas razoáveis. Então, por exemplo, eu quero ter sucesso; segue-se que eu quero que você, o meu concorrente, se saia menos bem do que eu. Eu não estou sendo irracional, porque eu aceito que você também queira vencer e eu não defendo nenhum princípio em contrário. O meu princípio de governança é que eu estou motivado a jogar pelas regras se você fizer isso, no entanto, eu ainda quero vencê-lo.
Ser razoável nesse caso é ser motivado pelos interesses da organização. Smith pode cooperar mesmo que ela pense que ela seria melhor se fosse uma aproveitadora; ela pode até pensar que ela é capaz de se safar sendo uma aproveitadora e servir a seus próprios interesses estreitamente definidos ou à sua própria noção de política de compensação correta. Mas, por mais razoável que seja, ela não cooperará enquanto acreditar que os outros não estão cooperando e que, portanto, a sua cooperação seria inútil.
Que todas as pessoas sejam razoáveis não é uma condição suficiente para a preservação dos bens comuns, porque qualquer indivíduo na organização pode ser razoável e ainda assim duvidar que os outros também sejam e pode consequentemente se sentir justificado em agir egoisticamente na crença de que fazer o contrário é inútil. Então, as pessoas razoáveis têm que confiar nas outras pessoas razoáveis; isso é, elas têm que acreditar que as outras pessoas são razoáveis. Não apenas isso: elas também têm que acreditar que as outras pessoas confiam nelas. Pois se eu sou razoável e penso que você é razoável, mas penso que você não pensa que eu sou razoável, eu tenho boas razões para acreditar que você não cooperará, portanto, boas razões para não cooperar eu mesmo.
Casos como esse criam um problema de garantia que nem sempre é capaz de ser resolvido apenas punindo os aproveitadores. O problema pode surgir mesmo quando os funcionários não estão sendo egoístas, mas querem agregar mais do que valor financeiro e para outras pessoas além deles mesmos. Eles podem ter valores diferentes ou ideias diferentes de como a organização pode agregar valor. Um forte senso de profissionalismo não é prova contra o problema.
Um terceiro tipo de liderança
Essa situação exige um certo tipo de liderança. James McGregor Burns (1978) argumenta que a liderança pode ser transacional ou transformacional: a primeira é uma questão de fazer com que pessoas com desejos diferentes negociem e cheguem a um acordo. A última é uma questão de mudar os desejos das pessoas ou mesmo os seus valores, para que todos os envolvidos visem voluntariamente os mesmos objetivos. Burns parece preferir o último tipo de liderança, que ele aparentemente acredita que envolve fazer com que as pessoas deixem de lado os seus desejos egoístas e adotem ideais maiores e mais valiosos. Porém, mudar os desejos e ideais das pessoas é difícil e não é obviamente uma coisa boa. Nós somos capazes de até pensar que há algo intrusivo em fazer isso. Os gerentes — ou os políticos, nesse caso — devem realmente gerenciar os valores de outras pessoas? Nós sabemos que essa é uma questão controversa.
Eu acredito que as organizações necessitam de um tipo diferente de liderança, um meio-termo entre transacional e transformacional. Esse tipo de liderança é sobre criar capital social. É uma questão de pensar na organização como um bem comum que tem que ser preservado, no entendimento de que preservar o bem comum é a melhor maneira de acomodar os desejos e valores dos gerentes no agregado. É uma questão de fazer com que gerentes e funcionários tomem os interesses da organização, ou a parte deles da organização, como razões para a ação. Isso não é liderança transacional. Um líder transacional normalmente oferecerá compensação e segurança no emprego em troca de produtividade; no entanto, como nós sabemos, esse acordo nem sempre funciona muito bem, mesmo se o compromisso for mantido. Na verdade, isso pode fazer com que as pessoas sejam menos produtivas. Nem nós estamos falando sobre uma transformação dos valores essenciais das pessoas; essa é uma tarefa além da maioria dos gerentes.(10) Se os funcionários colocam os interesses pessoais deles à frente dos interesses corporativos, será difícil mudar a opinião deles. Um líder do tipo que eu tenho em mente é capaz de convencer as pessoas de que os seus próprios interesses são melhor atendidos se a organização prosperar e que elas devem ter uma medida de orgulho e satisfação em suas realizações cooperativas. Entretanto, há uma questão de credibilidade: cada funcionário não precisa apenas confiar no líder, mas também acreditar que os outros funcionários também o fazem.
(10) No entanto, Turner et al. (2002) descobriram que os gestores com pontuação alta em raciocínio moral demonstraram comportamentos de liderança transformacional relativamente altos.
Um líder que valoriza o capital social encorajará práticas que criam bens internos, incluindo não apenas habilidade técnica, mas também orgulho na qualidade do trabalho, lealdade ao grupo, altruísmo, confiança, confiabilidade e honestidade. Porém, como esses bens internos incluem confiança e confiabilidade, os funcionários acreditarão que os seus próprios interesses serão melhor atendidos se a organização tiver sucesso, porque eles acreditarão que esse sucesso os beneficiará a todos, financeiramente e de outras maneiras. Portanto, eles serão motivados a trabalhar pelo sucesso da organização, como, eu penso, no caso da organização ideal de Moore.
Isso é o que MacIntyre diz que não é capaz de acontecer em uma organização que precisa ter lucro, pois os incentivos financeiros expulsam os incentivos relacionados à virtude. Ele está certo até certo ponto: como eu tenho argumentado mais de uma vez, se uma organização oferece apenas incentivos financeiros para motivar funcionários e gerentes, eles levarão o trabalho a sério deles apenas como um meio para a compensação deles e não como tendo qualquer valor intrínseco ou como cumprimento de qualquer obrigação ética para com a organização. Como um resultado, eles tenderão a trabalhar de forma menos produtiva e talvez até oportunista.
MacIntyre não contempla situações em que o sucesso externo, incluindo o sucesso financeiro, é o resultado de funcionários se comprometendo com o sucesso da organização no entendimento de que todos os funcionários estão fazendo o mesmo. Nesse caso — longe de expulsar as práticas que criam bens internos — o sucesso reforçará práticas virtuosas tanto quanto as vitórias de uma equipe reforçam o trabalho em equipe. Ele também não pensou, como Newton (1992, p. 359) pensa, sobre como os funcionários podem se desenvolver em seus empregos: em primeiro lugar, eles seguem instruções; depois de um tempo, agem por hábito; finalmente, pelo menos em alguns tipos de trabalho, eles entendem o propósito do que estão fazendo e encontram criativamente novas maneiras de fazê-lo. Isso provavelmente não acontecerá se os funcionários pensarem em um trabalho apenas como um meio de compensação.
Otimismo moderado
Nós não devemos ceder à simplificação excessiva ou ao otimismo excessivo. Nem todas as organizações podem criar ou mesmo necessitar de muito capital social. Há algumas que exigem que os seus funcionários sejam criativos e cooperem de maneiras que dificultam a avaliação de realizações individuais, mas alguns empregos e algumas organizações não são assim. Mesmo em algumas organizações que são assim, pode haver espaço para negligência e outros tipos de aproveitadores que são difíceis de detectar.
Grande parte desse Capítulo tem defendido uma certa comunidade de interesses entre trabalhadores e gerência e entre concorrentes. Isso é parte da história, mas não toda ela: trabalhadores e gerência e concorrentes não têm interesses idênticos, embora negociar de boa-fé possa ajudar a preservar os bens comuns. Onde os seus interesses não são idênticos, seria ingênuo tentar chegar a uma resolução dialética de suas diferenças. Eles estão discutindo não sobre a verdade, mas sobre quem ganha mais e todas as partes devem entender isso. Ciulla está certo em alertar que falar sobre todos estarem no mesmo time pode ser enganoso.
Tendo argumentado que os funcionários são capazes de criar capital social que apoia e, portanto, deve ser apoiado por uma empresa orientada ao lucro, eu agora me comprometo a criticar MacIntyre ainda mais, propondo que há espaço para capital social não apenas em empresas, mas também em mercados competitivos.
O caso de MacIntyre, nós devemos lembrar, baseia-se na noção de que o propósito da empresa é ganhar dinheiro — isso é, enriquecer os acionistas. Mas nós temos visto evidências de que as empresas mais bem-sucedidas visam uma missão corporativa que se estende além dos lucros e alcançam lucros como um resultado. As missões corporativas geralmente mencionam clientes, no entanto, não há razão para que não mencionem outras partes interessadas cujos propósitos uma empresa tem que atender de alguma forma para ter sucesso: em particular, funcionários e fornecedores. Essas partes interessadas não são necessariamente meios para o interesse dos acionistas, embora pudessem ser se os acionistas tivessem mais em jogo e em risco na organização. E esse seria o caso se uma corporação pudesse demitir qualquer um de seus acionistas e confiscar as ações deles.
Virtudes e relações com as partes interessadas
Aristóteles não aceitaria a visão de MacIntyre de que o comércio é um jogo de soma zero. Pelo contrário, como nós observamos no Capítulo 1, ele argumenta em NE V 5 que a troca é um fator de união em uma comunidade. As trocas acontecem porque as pessoas são capazes de atender às necessidades umas das outras e, assim, melhorar a situação umas das outras por meio de negociações justas. Essa parece ser uma visão que a maioria dos executivos em negócios e a maioria dos eticistas em negócios aceitariam prontamente. Mas às vezes há altos custos de transação e nós buscamos maneiras de reduzi-los.
De acordo com a teoria padrão da empresa, geralmente atribuída a Coase (1937), as organizações existem porque elas reduzem os custos de transação em relação aos relacionamentos de mercado. Esses últimos às vezes são carregados de incertezas que nenhum contrato é capaz de eliminar; portanto, as partes têm que realizar pesquisas, negociações e outros meios dispendiosos para reduzir o risco. O relacionamento pode falhar devido à desconfiança mútua, em desvantagem para ambas as partes. Ao adquirir da empresa fornecedora, o comprador é capaz de preservar as economias que de outra forma seriam perdidas, entretanto, isso nem sempre é possível. Quando isso não é, o capital social vem a ser importante.
Freeman, Harrison e Wicks (2007) argumentam que as corporações e os seus stakeholders devem criar situações ganha-ganha — exatamente o que MacIntyre afirma ser impossível. Por exemplo, um fornecedor pode dizer a um cliente: ‘Os meus custos com matérias-primas explodiram e eu irei sofrer um baque enorme se tiver que vender para você pelo preço do nosso contrato. Você pode me ajudar?’ Se o cliente estiver satisfeito com o trabalho do fornecedor e confiar nele, a resposta pode ser: ‘Tudo bem, mas eu estou assumindo que da próxima vez que os seus custos com matérias-primas forem menores do que o previsto, você retribuirá o favor’. Um relacionamento que permite esse tipo de flexibilidade será melhor do que um que exija seguir a letra do contrato. (Isso não surpreenderá um eticista da virtude.) O último tipo de relacionamento poderia colocar uma parte ou outra fora do mercado e/ou enriquecer alguns advogados.(11)
(11) Veja Phillips e Caldwell (2005) para uma discussão sobre relacionamentos na cadeia de suprimentos.
Isso não quer dizer que não haja lugar para contratos na cadeia de suprimentos ou em outro lugar. MacIntyre, diferentemente de Rawls, não gosta do modelo contratual de ética, em parte porque ele pressupõe um tipo insustentável de individualismo; entretanto, isso não é motivo para dizer que nunca há lugar para contratos. Heugens, Kaptein e van Oosterhout (2006) assumem uma posição entre MacIntyre e Rawls: eles dão muita importância ao livre consentimento no processo de contratação (p. 393), entretanto, eles acreditam que os contratos são inadequados em alguns casos, como onde os interesses das partes não são capazes de serem alinhados de forma alguma (p. 401). Eles também sugerem que a confiança desempenha um papel crucial na contratação.
Um fornecedor e um comprador são capazes de ganhar a partir de uma situação em que o fornecedor dedica muitos recursos para fabricar um item que um pequeno número de compradores é capaz de usar lucrativamente. Há um risco, no entanto: se o fornecedor ou um comprador significativo deixar o relacionamento e nenhuma outra parte exercer a função, grandes custos serão perdidos para sempre. Negociações em questões como essa podem se transformar em uma batalha perde-perde por influência. Relacionamentos desse tipo e relacionamentos com partes interessadas em geral, serão ganha-ganha na medida em que as partes sejam confiantes e confiáveis em um grau significativo. É útil para ambas as partes ter e ser visto como tendo, as virtudes da honestidade, lealdade, dedicação à qualidade e alguma preocupação com o bem-estar um do outro. Eles devem elaborar um relacionamento ganha-ganha com base na confiança justificada. Isso não impede uma negociação difícil, porém, em muitos casos cada parte necessita negociar com a possibilidade de um relacionamento de longo prazo em mente.
Um tipo de amizade
Drake e Schlachter (2008) argumentam que o que eles chamam de colaboração sustentável gera confiança, comunicação e ação em direção a metas comuns. Esse é, eles acreditam, um caso especial do que Aristóteles chama de amizade de utilidade, um tipo genuíno de amizade e não mera exploração mútua. (O relato de Aristóteles sobre amizade está em NE VIII e IX.) Eles dizem, corretamente, que as atitudes que ela gera não apenas criam vantagens de longo prazo, mas também são coisas boas em si mesmas. Elas constituem exatamente o tipo de atividade virtuosa, nós poderíamos pensar, que MacIntyre não espera encontrar nos negócios.(12)
(12) Koehn (1992) também interpreta Aristóteles dizendo em NE V 5 que as partes em trocas devem ser vinculadas por algo como amizade de utilidade.
A colaboração sustentável vai além do compartilhamento de informações e pode envolver fabricantes usando os próprios recursos deles para ajudar a melhorar as operações dos fornecedores e fornecedores enviando pessoas para trabalhar nas fábricas dos fabricantes. Há utilidade em tais relacionamentos, que são relativamente estáveis e duradouros. Entretanto, compartilhamento de incentivos, comunicação e confiança são bens em si mesmos e, portanto, assemelham-se aos bens da amizade (Drake e Schlachter, 2008, pp. 858–62). Esse é um relato persuasivo, embora não seja certo que a concepção de amizade de Aristóteles seja flexível o suficiente para ser pertinente a isso.
O mesmo é verdade para o relato de Sommers (1997). Em sua visão, uma amizade de utilidade requer reciprocidade não governada ou limitada por contratos, mas esperada porque cada um confia no outro para honrar a natureza do relacionamento. Exige que as partes sejam virtuosas e se reconheçam como pessoas com interesses legítimos. Cada parte quer a prosperidade da outra e a promove no relacionamento. Porém, essa boa vontade mútua repousa finalmente no desejo por lucro – ou pelo menos foi criada por isso.
MacIntyre acredita que a competição enfraquece as virtudes. No tipo de caso que nós estamos discutindo, no entanto, a real e possível competição geralmente pressionará as empresas a não explorar, mas a criar capital social com as partes interessadas na cadeia de suprimentos e em outros lugares. A alternativa é ser sobrecarregada pelos custos de transação. Criar bens e serviços de alta qualidade a preços determinados na competição – ou pelo menos não muito mais altos do que os preços competitivos seriam – é uma forma de ter sucesso que melhora a reputação de uma empresa por confiabilidade e virtudes semelhantes.(13) Isso ajuda a desenvolver capital social com as partes interessadas e reúne funcionários em torno da missão corporativa. Capital social e lucro são mutuamente solidários; e, claro, capital social, além de preservar os bens comuns, é uma coisa boa em si mesma.(14)
(13) Hirschman (1982) credita Simmel (1955) com a percepção de que a essência da competição bem-sucedida é fazer o melhor trabalho para beneficiar os seus clientes.
(14) Entretanto, como nós temos observado, capital social não é garantia de virtude: pense em Albert Speer, pense na Máfia.
A partir de Adam Smith em diante, alguns filósofos têm argumentado que mercados livres exigem virtudes como honestidade e confiabilidade; outros têm argumentado na outra direção. (Veja Hirschman, 1982, sobre essa controvérsia.) Eu não afirmo que essas virtudes sejam vantagens competitivas em todos os casos, muito menos que a maioria das empresas as tenha. No entanto, elas podem ser vantagens competitivas em alguns casos. MacIntyre não tem defendido o seu ponto de vista.
O verdadeiro profissional (the real pro)
Às vezes nós usamos a expressão “verdadeiro profissional” para nos referirmos a alguém que alcança o sucesso fazendo as coisas certas. Carlton Fisk, o receptor altamente profissional do Red Sox e do White Sox, entendia a excelência tão bem quanto qualquer jogador. Quando ele viu o chamativo Deion Sanders, um rebatedor adversário, não conseguir executar uma bola fora de campo, ele gritou para Sanders para ‘jogar o jogo direito’ (cooperar; comportar-se de forma justa ou de acordo com as regras) ou sofrer violência física de Fisk. Fisk sempre jogou duro e o seu jogo agressivo às vezes levava a brigas com os oponentes. Mas ele teria dito que tentar vencer mostrava que ele e os jogadores dos times adversários compartilhavam um respeito apropriado pelo jogo.(15) Outros jogadores concordaram que Fisk jogou o jogo direito e que ele estava certo em confrontar Sanders, mesmo que ao fazer isso ele estivesse ajudando a fortalecer o time de Sanders, naquela época o rival Yankees.(16)
(15) Quase todos os jogadores de beisebol concordarão com a regra de que você tem que respeitar os seus colegas de equipe, os seus oponentes e o jogo em si mesmo. (Veja Turbow e Duca, 2010.)
(16) Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, o maior de todos os pilotos de caça alemães na Grande Guerra, matou cerca de 80 pilotos aliados antes de ser morto. O corpo dele, levado ao túmulo por carregadores aliados de sua patente, foi enterrado em meio a coroas de flores em uma cerimônia militar enquanto as armas de seus inimigos disparavam uma saudação.
Nós não esperamos que os concorrentes em beisebol ou em negócios tomem decisões específicas à luz do bem comum, mesmo quando eles contribuem para isso a longo prazo. Nós esperamos que um bom resultado geralmente surja a partir de um mercado competitivo no qual os concorrentes tenham sucesso com base na qualidade e no preço. Friedman está certo ao sustentar que os gerentes de empresas de capital aberto não devem se concentrar principalmente em como ajudar a humanidade, entretanto, nós necessitamos acrescentar alguma coisa sobre a importância da confiabilidade e de pelo menos cooperação condicional e do capital social que eles ajudam a criar.
Eu tenho sugerido que o jogo em negócios, como a organização individual, tem algumas das características dos bens comuns. As partes interessadas estão em melhor situação no agregado se jogarem o jogo corretamente – isso é, se forem todas honestas e lucrarem com a venda de bens e serviços que agregam valor, ao invés de enganar outras partes interessadas. No entanto, um executivo em negócios que é capaz de agir desonestamente e se safar pode se sair bem (externamente) se os outros forem honestos. Nós evitamos a tragédia dos bens comuns na medida em que a regulamentação é bem-sucedida, porém nós sabemos que é difícil acertar. Nós fortalecemos os bens comuns na medida em que as partes interessadas respeitam – em oposição a servir – os interesses uns dos outros, como Adam Smith acreditava que eles poderiam e geralmente faziam. Eu não necessito ser amigo dos meus concorrentes, no entanto eu tenho que tratá-los como fins em si mesmos e não meramente como meios. Esse é o tipo de competição pela qual os verdadeiros profissionais, os Carlton Fisks do mundo, exigem o respeito de todos os que participam. Esse tipo de rivalidade levará à prosperidade.
Depois, há os bens internos. Muitos pessoas em negócios bem-sucedidas, especialmente os verdadeiros profissionais, gostam do que fazem porque isso ensina e exerce algumas virtudes que, como Aristóteles corretamente diz, contribuem para a eudaimonia: inteligência emocional e racional; coragem; sensibilidade; cooperatividade; respeito pela excelência; paciência e, quando apropriado, impaciência; consciência no nível da percepção (consciousness); parcimônia; capacidade de adiar a gratificação; honestidade. Ao contrário do que MacIntyre acredita, a concorrência leal é capaz de ensinar essas virtudes em negócios e criar os bens internos deles.
Essa lista de virtudes não é muito diferente da de Adam Smith e muito próxima da lista de virtudes burguesas de McCloskey (2006). Rosenzweig (2007) também compraria essa lista. Graafland (2009) argumenta que o comércio incentiva certas virtudes e desencoraja outras. Wells e Graafland (2012) argumentam que a concorrência intensa pode ser inóspita para a virtude. Mas as pessoas em negócios têm a obrigação de serem virtuosas mesmo quando o ambiente, que é de fato influente, não as incentiva.
Nós encontramos o tipo certo de mercado com mais frequência em alguns negócios do que em outros. Em particular, é difícil ver o setor de serviços financeiros como algo além de um jogo de soma zero. Mesmo se nós assumirmos que todos os consultores de investimento são profissionais honestos e competentes, todo investimento bem-sucedido é o custo de oportunidade de alguém. E nenhuma pessoa sã presumiria que a honestidade e o profissionalismo prevalecem entre aqueles que criam derivativos arcanos (misteriosos, obscuros), em oposição às tecnologias eletrônicas arcanas (idem). As restrições de MacIntyre se aplicam bem e, de fato, podem subestimar o problema. É preocupante que um número crescente dos estudantes universitários mais capazes esteja assumindo cargos em serviços financeiros, onde as suas habilidades se anulam e a virtude não é muito encorajada.(17)
(17) Shiller (2012) argumenta que instrumentos financeiros arcanos não são ruins em si mesmos e são capazes de ser altamente benéficos. Eu não duvido disso, mas ele tem pouco a dizer sobre o efeito de assimetrias de informação altamente prováveis.
Isso nem sempre foi dessa maneira.
Um exemplo de virtude e vício corporativo
Por muitos anos, instituições de poupança e empréstimo obtiveram lucros respeitáveis ao fazer empréstimos hipotecários e pagar juros modestos em contas de poupança. Um bom agente de empréstimo poderia emprestar para pessoas que pudessem pagar o empréstimo. Um ruim poderia emprestar para alguém cuja renda futura fosse duvidosa ou se recusar a emprestar para um candidato qualificado que fosse uma mulher ou um membro de algum grupo minoritário. A missão da instituição de poupança e empréstimo típica era apoiar a poupança e o desenvolvimento da comunidade e, ao fazer isso, a instituição ganharia algum dinheiro. Pense em George Bailey no filme de Frank Capra A Felicidade Não Se Compra.
Muitos dos George Baileys daquele mundo passado eram banqueiros virtuosos. Eles faziam um empréstimo com cuidado, levando em consideração não apenas a posição financeira do mutuário, mas também fatores como a qualidade do trabalho do construtor. Eles seguiam as normas dos credores hipotecários e as repassavam aos seus sucessores. Eles não faziam uma pausa e perguntavam sobre cada empréstimo se ele poderia contribuir para a comunidade, mas eles estavam cientes das contribuições que as suas instituições faziam e tinham orgulho delas. O próprio George Bailey ficou insatisfeito com a sua sorte por algum tempo; no entanto, no devido tempo ele viu o que havia feito pela comunidade de Bedford Falls e quão gratos os seus concidadãos eram e então ele percebeu que ele era, como o seu irmão disse, o homem mais rico da cidade.(18)
(18) Eu não quero sugerir que esses arranjos fossem os melhores possíveis, porém, as suas deficiências não são exploradas no filme de Capra.
O banqueiro George Bailey considera o relacionamento entre credor e devedor uma situação ganha-ganha; cada parte da transação agrega valor à outra e, do ponto de vista de George, a participação dele nesse tipo de transação é um bem interno ao seu trabalho e também gera bens externos. George não oferecerá a um cliente uma hipoteca de taxa ajustável que pode repentinamente se ajustar de forma inacessível para cima. Ele não incentivará um cliente a comprar uma casa cara na suposição questionável de que o seu valor dobrará em alguns anos. Ele não explorará a experiência financeira superior dele. Se houver um problema com o pagamento, George tentará trabalhar com o mutuário para encontrar uma alternativa mutuamente satisfatória. Ele sempre quer uma situação ganha-ganha e a execução hipotecária é uma perda para ambas as partes. Ele tem motivos para supor que o mutuário, um vizinho em Bedford Falls e talvez um amigo, também quer ganha-ganha.
MacIntyre está certo ao observar que um contrato entre partes dispostas não garante justiça ou um resultado ganha-ganha, especialmente quando há assimetria de informações. É impossível escrever um contrato que garanta que ambos os lados se saiam bem, não importa o que aconteça. O acordo requer um certo nível de confiança mútua de que a outra parte não seja uma oportunista que tirará vantagem de uma circunstância inesperada. O conhecimento (familiaridade) pessoal ajuda a construir essa confiança.
No devido tempo, as regulamentações sobre essas instituições foram amenizadas, em parte porque as oportunidades dos depositantes de melhores taxas de juros em outros lugares ameaçavam tirar as instituições do mercado. As instituições também podiam vender as suas hipotecas para a Fannie Mae e Freddy Mac ou alguma outra entidade e ganhar algum dinheiro dessa forma, enquanto faziam muito mais empréstimos sem assumir nenhum risco indevido, ou assim os banqueiros acreditavam. De duas maneiras, então, os credores foram tentados a fazer empréstimos ruins. A desregulamentação e a Federal Savings and Loan Insurance Corporation tornaram isso mais fácil e a capacidade de ganhar uma taxa repassando as hipotecas e os seus riscos associados para a próxima parte eliminou o incentivo negativo. Em muitos casos, os agentes de crédito eram pagos com base na quantidade de dinheiro que empurravam para fora da porta; portanto, eles tinham um incentivo para fazer empréstimos ruins e muitos deles o fizeram e depois os repassaram.
Esses agentes de crédito geralmente não eram virtuosos. As instituições deles haviam perdido a sua antiga missão voltada para a comunidade e não tinham nenhuma nova, exceto ganhar dinheiro – na verdade, fazê-lo de maneiras às vezes antiéticas em relação à antiga missão. As suas práticas de empréstimo eram motivadas por seu esquema de compensação, que lhes dava um incentivo para direcionar tomadores de empréstimo para empréstimos inadequados (Morris, 2008, p. 56). A instituição deles em si mesma não era virtuosa e Aristóteles lhe dirá que a virtude pessoal não prospera em uma comunidade ruim. A comunidade mais ampla não era exatamente má, entretanto, a sua combinação de desregulamentação e seguro que criava risco moral, as suas instituições financeiras cuja estrutura e estratégia não foram projetadas com muita previsão e as suas oportunidades espetaculares para satisfazer a ganância ajudaram a criar uma mistura tóxica.(19) Não havia lugar para George Bailey e as suas virtudes. Isso foi feito para o malvado Mr. Potter.
(19) Isso não quer dizer que toda securitização seja antiética. O problema é que alguns a levaram longe demais. Nós sabemos que Aristóteles diria que não há princípios que nos digam exatamente até onde levar isso e que as virtudes têm algo a ver com evitar extremos. A securitização tem que ser feita da maneira certa, etc.
No entanto, os problemas atuais não são meramente o resultado de uma geração de credores hipotecários sendo como Mr. Potter. Alguns fatores importantes são situacionais, como Doris sem dúvida argumentaria. Os credores não conhecem os mutuários pessoalmente e eles podem não morar na mesma cidade. Eles não se preocuparão muito com as perspectivas de quitar a hipoteca, já que pretendem vendê-la. A compensação deles geralmente é baseada em vendas. A questão se o caráter, bem como a pressão ambiental, é um fator na tomada de decisões é prática em casos como esse. Em algumas situações, as pessoas respondem a incentivos financeiros muito grandes e há poucos que podem deixar de lado os seus interesses financeiros e agir com base na visão ampla e de longo prazo. E por que eles deveriam, se quase ninguém mais o faz? Por outro lado, nós sabemos que, ao contrário do que Jensen e Meckling (1994) afirmam, as pessoas nem sempre respondem aos incentivos financeiros da mesma forma e às vezes respondem a incentivos mais comunitários.
Porém, nesse caso, como em outros, os incentivos financeiros expulsaram os incentivos comunitários. A visão de Aristóteles de que uma pessoa virtuosa requer o apoio de uma boa comunidade se aplica a esse ambiente, no qual emprestar como George Bailey o fazia não seria lucrativo, em parte porque esse tipo de empréstimo requer um relacionamento de cuidado e confiança há muito desaparecido entre credor e devedor. Os banqueiros podiam abrir mão de grandes lucros e arriscar a ira de seus acionistas ou jogar o jogo predominante de alavancagem perigosa. Eles estavam em uma situação de perder-perder.
Como nós temos discutido, Aristóteles sustenta que uma das marcas do bom caráter é a capacidade de compreender a essência de uma situação ética. Que requer que você veja o seu papel corretamente. Se você é um bom médico, você vê o seu trabalho como promover a saúde dos pacientes, mas ao mesmo tempo pode estar sob pressão para contribuir para o resultado final de sua organização de manutenção da saúde. Nesses casos, os dois objetivos — os da prática e os da instituição, MacIntyre poderia dizer — são antitéticos, pelo menos no curto prazo. Nós somos capazes de dizer o mesmo de um bom credor hipotecário, como George Bailey. Entretanto, na ausência da tradição e do apoio da profissão, a virtude desaparece. Então, se você é um credor, normalmente descreve o seu trabalho como enriquecer o nosso portfólio de empréstimos em vez de ajudar o Sr. e a Sra. Grossman a comprar a casa dos sonhos. Não há nada intrinsecamente ruim em enriquecer o portfólio de empréstimos de alguém: os bancos devem ter lucros. De fato, há algo errado em pensar apenas no efeito da transação no resultado final.
Se Friedman e MacIntyre estiverem certos ao afirmar que aumentar o lucro líquido é o propósito final da empresa, então há pouco ou nenhum espaço para deliberação sobre ética além da deliberação sobre lucros. Se, por outro lado, o gerente pensa em seu trabalho como envolvendo a avaliação das reivindicações de outras partes interessadas além dos acionistas — clientes, fornecedores e funcionários especialmente — então as decisões estratégicas parecem decisões éticas.(20)
(20) Não é coincidência que Freeman seja ao mesmo tempo um forte defensor da gestão orientada para as partes interessadas e um forte oponente da tese da separação, a noção de que decisões de negócios e decisões éticas são distintas..
Vale a pena repetir que eu não estou afirmando que a maioria dos gerentes pensa nas partes interessadas dessa forma, ou que são verdadeiros profissionais, ou mesmo que visam criar capital social em suas organizações. Digo apenas que tudo isso é possível, que é consistente com a lucratividade corporativa e que é uma coisa boa. Não é contrário à natureza humana ou à natureza do capitalismo.”
—–
…..Continua Parte VIII…..
—–
Imagem: dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash-24.08.2024.jpg
Bibliografia do livro “Virtue In Business”, autor Edwin M. Hartman
Abdolmohammadi, M., and M. F. Reeves. 2003. “Does Group Reasoning Improve Ethical Reasoning?” Business and Society Review, 108, 127–37.
Adler, P., and S. Kwon. 2002. “Social Capital: Prospects for a New Concept.”
Academy of Management Review, 27, 17–40.
Akerlof, G. 1982. “Labor Contracts as Partial Gift Exchange.” Quarterly Journal of Economics, 97, 543–69. – 2007. “The Missing Motivation in Macroeconomics.” Presidential Address. Nashville, TN: American Economic Association.
Allen, W. 2006. “Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation”. In Professional Responsibility, 35–47. NYU Stern, Course Book.
Alzola, M. 2008. “Character and Environment: The Status of Virtues in Organizations.” Journal of Business Ethics, 78, 343–57. – 2011. “The Reconciliation Project: Separation and Integration in Business Ethics Research.” Journal of Business Ethics, 99, 19–36. – 2012. “The Possibility of Virtue.” Business Ethics Quarterly, 22, 377–404.
Annas, J. 2011. Intelligent Virtue. New York: Oxford University Press.
Anscombe, G. 1957. Intention. Oxford: Basil Blackwell. – 1997. “Modern Moral Philosophy.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 26–44. New York: Oxford University Press.
Appiah, K. A. 2006. Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. New York: W. W. Norton.
Aristotle. 1894. Ethica Nicomachea. Edited by I. Bywater. Oxford: Clarendon Press. – 1907. De Anima. Edited by R. D. Hicks. Cambridge: Cambridge University Press. – 1957. Politica. Edited by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press. – 1962. The Politics of Aristotle. Translated by E. Barker. New York: Oxford University Press. – 1999. Nicomachean Ethics, 2nd edition. Translated by T. H. Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Asch, S. 1955. “Studies of Independence and Conformity: A Minority of One against a Unanimous Majority.” Psychological Monographs, 70.9, Whole No. 416.
Audi, R. 1989. Practical Reasoning. New York: Routledge. – 1997. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford University Press. 2012. “Virtue Ethics as a Resource in Business.” Business Ethics Quarterly, 22, 273–91.
Baumeister, R., and J. Tierney. 2011. Willpower: Discovering the Greatest Human Strength. New York: Penguin Press.
Bazerman, M., and A. Tenbrunsel. 2011. Blind Spots: Why We Fail to Do What’s Right and What to Do about It. Princeton: Princeton University Press.
Beabout, G. 2012. “Management as a Domain-Relative Practice that Requires and Develops Practical Wisdom.” Business Ethics Quarterly, 22, 405–32.
Beadle, R., and K. Knight. 2012. “Virtue and Meaningful Work.” Business Ethics Quarterly, 22, 433–50.
Beaman, A., P. Barnes, B. Klentz, and B. McQuirk. 1978. “Increasing Helping Rates Through Information Dissemination: Teaching Pays.” The Personality and Social Psychology Bulletin, 4, 406–11.
Belk, R. 1985. “Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World.” Journal of Consumer Research, 12, 265–80.
Berkowitz, P. 1999. Virtue and the Making of Modern Liberalism. Princeton: Princeton University Press.
Bertland, A. 2009. “Virtue Ethics in Business and the Capabilities Approach.” Journal of Business Ethics, 84, 25–32.
Blasi, A. 1999. “Emotions and Moral Motivation.” Journal for the Theory of Social Behavior, 29, 1–19.
Boatright, J. 1995. “Aristotle Meets Wall Street: The Case for Virtue Ethics in Business.” A review of Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business, by Robert C. Solomon. Business Ethics Quarterly, 5, 353–9.
Bowles, S., and H. Gintis. 2011. A Cooperative Species: Human Reciprocity and its Evolution. Princeton: Princeton University Press.
Bragues, G. 2006. “Seek the Good Life, Not Money: The Aristotelian Approach to Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 67, 341–57.
Burke, J. 1985. “Speech to the Advertising Council.” In W. M. Hoffman and J.M.Moore (Eds.), Management of Values: The Ethical Difference in Corporate Policy and Performance, 451–6. New York: McGraw-Hill Book Company.
Burns, J. 1978. Leadership. New York: Harper and Row.
Calkins, M., and P.Werhane. 1998. “Adam Smith, Aristotle, and the Virtues of Commerce.” The Journal of Value Inquiry, 32, 43–60.
Carroll, A. 1981. Business and Society: Managing Corporate Social Performance. Boston: Little, Brown.
Cartwright, N. 1983. How the Laws of Physics Lie. New York: Oxford University Press.
Chaiken, S., R. Giner-Sorolla, and S. Chen. 1996. “Beyond Accuracy: Defense and Impression Motives in Heuristic and Systematic Information Processing.” In P. M. Gollwitzer and J. A. Bargh (Eds.), The Psychology of Action: Linking Cognition and Motivation to Behavior, 553–78. New York: Guilford Press.
Chan, G. 2007. “The Relevance and Value of Confucianism in Contemporary Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 77, 347–60.
Chen, A., R. Sawyers, and P. Williams. 1997. “Reinforcing Ethical Decision Making through Corporate Culture.” Journal of Business Ethics, 16, 855–65.
Chicago Tribune 2002. “Tribune Special Report: A Final Accounting.” September 1–4.
Ciulla, J. 2000. The Working Life: The Promise and Betrayal of Modern Work. New York: Three Rivers Press.
Claassen, R. 2012. Review of Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets, by Debra Satz. Business Ethics Quarterly, 22, 585–97.
Cleckley, H. 1988. The Mask of Sanity, 5th edition. St. Louis: C. V. Mosby.
Coase, R. 1937. “The Nature of the Firm.” Economica, 4, 386–405.
Colle, S., and P. Werhane. 2008. “Moral Motivation Across Ethical Theories: What Can We Learn for Designing Corporate Ethics Programs?” Journal of Business Ethics, 81, 751–64.
Collins, J. 2001. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap. . . and Others Don’t. New York: Harper Business, and J. Porras. 2002. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. New York: HarperCollins.
Costa, P., and R. Mac Crae. 1994. “Stability and Change in Personality from Adolescence through Adulthood.” In C. Halvorson, G. Kohnstamm, and R. Martin (Eds.), The Developing Structure of Temperament and Personality from Infancy to Adulthood, 139–50. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Crary, A. 2007. Beyond Moral Judgment. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Damasio, A. 1994. Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Putnam. 256 Bibliography
Daniels, N. 1979. “Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics.” Journal of Philosophy, 76, 256–82.
Darley, J. 1996. “How Organizations Socialize Individuals into Evildoing.” In D. Messick and A. Tenbrunsel (Eds.), Codes of Conduct: Behavioral Research into Business Ethics, 13–43. New York: Russell Sage Foundation.
Davidson, D. 2001. Essays on Actions and Events, 2nd edition. New York: Oxford University Press.
DeSousa, R. 1987. The Rationality of Emotion. Cambridge: MIT Press.
Donaldson, L. 2005. “For Positive Management Theories While Retaining Science: Reply to Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 109–13.
Donaldson, T., and T. Dunfee. 1999. Ties that Bind: A Social Contracts Approach to Business Ethics. Boston: Harvard Business Press.
Doris, J. 2002. Lack of Character: Personality and Moral Behavior. New York: Cambridge University Press.
Drake, M., and J. Schlachter. 2008. “A Virtue-Ethics Analysis of Supply Chain Collaboration.” Journal of Business Ethics, 82, 851–64.
Duhigg, C. 2012. The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business. New York: Random House.
Dunbar, R. 1992. “Neocortex Size as a Constraint on Group Size in Primates.” Journal of Human Evolution, 22, 469–93.
Dunfee, T., and D. Warren. 2001. “Is Guanxi Ethical? A Normative Analysis of Doing Business in China.” Journal of Business Ethics, 32, 191–204.
Dyck, B., and R. Kleysen. 2001. “Aristotle’s Virtues and Management Thought: An Empirical Exploration of an Integrative Pedagogy.” Business Ethics Quarterly, 11, 561–74.
Eastman, W., and M. Santoro. 2003. “The Importance of Value Diversity in Corporate Life.” Business Ethics Quarterly, 13, 433–52.
Elster, J. 1985. Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality. New York: Cambridge University Press. – 1998. “Emotions and Economic Theory.” Journal of Economic Literature, 36, 47–74.
Ely, R., and D. Thomas. 2001. “Cultural Diversity at Work: The Effects of Diversity Perspectives on Work Group Processes and Outcomes.” Administrative Science Quarterly, 46, 229–73.
Festinger, L. 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.
Foot, P. 1997. “Virtues and Vices.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 163–77. New York: Oxford University Press.
Fort, T. 1999. “The First Man and the Company Man: The Common Good, Transcendence, and Mediating Institutions.” American Business Law Journal, 36, 391–435. – 2001. Ethics and Governance: Business as Mediating Institution. New York: Oxford University Press. – 2008. Prophets, Profits, and Peace: The Positive Role of Business in Promoting Religious Tolerance. New Haven: Yale University Press.
Fox, D. 1985. “Psychology, Ideology, Utopia, and the Commons.” American Psychologist, 40, 48–58.
Frank, R. 1988. Passions within Reason: The Strategic Role of the Emotions. New York: W. W. Norton & Company. – 2004. What Price the Moral High Ground? Ethical Dilemmas in Competitive Environments. Princeton: Princeton University Press – T. Gilovich, and D. Regan. 1993. “Does Studying Economics Inhibit Cooperation?” Journal of Economic Perspectives, 7, 159–71.
Frankfurt, H. 1981. “Freedom of the Will and the Concept of a Person.” In G. Watson (Ed.), Free Will, 81–95. New York: Oxford University Press.
Freeman, R. E. 1994. “The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions.” Business Ethics Quarterly, 4, 409–21. – J. Harrison, and A. Wicks. 2007. Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success. New Haven: Yale University Press.
Friedman, M. 1970. “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits.” New York Times Magazine, September 13.
Fritzsche, D. 1991. “A Model of Decision-Making Incorporating Ethical Values.” Journal of Business Ethics, 10, 841–52. – 2000. “Ethical Climates and the Ethical Dimension of Decision Making.” Journal of Business Ethics, 24, 125–40.
Furman, F. 1990. “Teaching Business Ethics: Questioning the Assumptions, Seeking New Directions.” Journal of Business Ethics, 9, 31–8.
Galston, W. 1991. Liberal Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the Liberal State. New York: Cambridge University Press.
Geertz, C. 1983. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books.
Ghoshal, S. 2005. “Bad Management Theories are Destroying Good Management Practices. Academy of Management Learning and Education, 4, 75–91.
Gilbert, D. 2006. Stumbling on Happiness. New York: Knopf. – E. Pinel, T. Wilson, S. Blumberg, and T. Wheatley. 1998. “Immune Neglect: A Source of Durability Bias in Affective Forecasting.” Journal of Personality and Social Psychology, 25, 617–38.
Giovanola, B. 2009. “Re-Thinking the Ethical and Anthropological Foundation of Economics and Business: Human Richness and Capabilities Enhancement.” Journal of Business Ethics, 88, 431–44.
Gladwell, M. 2005. Blink: The Power of Thinking Without Thinking. New York: Back Bay Books (Little, Brown).
Gould, S. 1995. “The Buddhist Perspective on Business Ethics: Experiential Exercises for Exploration and Practice.” Journal of Business Ethics, 14, 63–70.
Graafland, J. 2009. “Do Markets Crowd Out Virtues? An Aristotelian Framework.” Journal of Business Ethics, 91, 1–19.
Gutting, G. 2011. “Pinker on Reason and Morality.” New York Times (electronic edition), October 26, 2011.
Haidt, J. 2001. “The Emotional Dog and its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment.” Psychological Review, 108, 814–34. – 2006. The Happiness Hypothesis. New York: Basic Books. – 2012. The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion. New York: Pantheon Books.
Hambrick, D. 2005. “Just How Bad Are Our Theories? A Response to Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 104–7.
Hampshire, S. 1983. Morality and Conflict. Cambridge: Harvard University Press.
Hardin, G. 1968. ”The Tragedy of the Commons.” Science, 162, 1243–8.
Hare, R. D. 1993. Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths among Us. New York: Simon and Schuster.
Hare, R. M. 1952. The Language of Morals. Oxford: Oxford University Press.
Harman, G. 2003. “No Character or Personality.” Business Ethics Quarterly, 13, 87–94.
Hartman, E. 1977. Substance, Body, and Soul: Aristotelian Investigations. Princeton: Princeton University Press. – 1994. “The Commons and the Moral Organization.” Business Ethics Quarterly, 4, 253–69. – 1996. Organizational Ethics and the Good Life. New York: Oxford University Press. – 1998. “The Role of Character in Business Ethics.” Business Ethics Quarterly, 8, 547–59. – 2001. “An Aristotelian Approach to Moral Imagination.” Professional Ethics, 8, 58–77. – 2006. “Can We Teach Character? An Aristotelian Answer.” Academy of Management Learning and Education, 5, 68–81. Bibliography 259
Hausman, D. 2012. Preference, Value, Choice, and Welfare. New York: Cambridge University Press.
Heath, J. 2009. “The Uses and Abuses of Agency Theory.” Business Ethics Quarterly, 19, 497–528.
Heugens, P., M. Kaptein, and J. van Oosterhout. 2006. “The Ethics of the Node versus the Ethics of the Dyad? Reconciling Virtue Ethics and Contractualism.” Organization Studies, 27, 391–411.
Hirschman, A. 1982. “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble?” Journal of Economic Literature, 20, 1463–84.
Horvath, C. 1995. “MacIntyre’s Critique of Business.” Business Ethics Quarterly, 5, 499–532.
Hursthouse, R. 1999. On Virtue Ethics. New York: Oxford University Press. Irwin, T. 1988. Aristotle’s First Principles. New York: Oxford University Press.
Jackson, K. 2012. Virtuosity in Business: Invisible Law Guiding the Invisible Hand. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Jehn, K., G. Northcraft, andM. Neale. 1999. “Why Differences Make a Difference: A Field Study of Diversity, Conflict and Performance in Workgroups.” Administrative Science Quarterly, 44, 741–63.
Jensen, M. 2010. “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function.” Journal of Applied Corporate Finance, 22, 32–42.- and W. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics, 3, 305–60. – 1994. “The Nature of Man.” Journal of Applied Corporate Finance, 72 (Summer), 4–19.
Johnson, M. 1993. Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics. Chicago: University of Chicago Press.
Johnson and Johnson. 1943. Credo. New Brunswick, NJ: Johnson and Johnson.
Jones, S., and K. Hiltebeitel. 1995. “Organizational Influence in a Model of the Moral Decision Process of Accountants.” Journal of Business Ethics, 14, 417–31.
Jones, T., and L. Ryan. 2001. “The Effect of Organizational Forces on Individual Morality: Judgment, Moral Approbation, and Behavior.” In
J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 285–300. New York: Elsevier Science.
Jos, P., and M. Tompkins. 2004. “The Accountability Paradox in an Age of Reinvention: The Perennial Problem of Preserving Character and Judgment.” Administration and Society, 36, 255–81.
Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. – and A. Tversky (Eds.). 2000. Choices, Values, and Frames. New York: Cambridge University Press.
Kant, I. 1981. Grounding for the Metaphysics of Morals. Translated by J. Ellington. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Kasser, T., and R. Ryan. 1996. “Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals.” Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280–7.
Klein, S. 1995. “An Aristotelian Approach to Ethical Corporate Leadership.” Business and Professional Ethics Journal, 14, 3–23. – 1998. “Emotions and Practical Reasoning: Implications for Business Ethics.” Business and Professional Ethics Journal, 17, 3–29.
Koehn, D. 1992. “Toward an Ethic of Exchange.” Business Ethics Quarterly, 2, 341–55. – 1995. “A Role for Virtue Ethics in the Analysis of Business Practice. Business Ethics Quarterly, 5, 533–9. – 1998. “Virtue Ethics, the Firm, and Moral Psychology.” Business Ethics Quarterly, 8, 497–513.
Kohlberg, L. 1981. Essays on Moral Development. Volume I: The Philosophy of Moral Development. New York: Harper and Row.
Kraut, R. 1989. Aristotle on the Human Good. Princeton: Princeton University Press.
Kupperman, J. 1991. Character. New York: Oxford University Press. – 2005. “How Not to Educate Character.” In D. Lapsley and F. C. Power (Eds.), Character Psychology and Character Education, 201–17. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
LeBar, M. 2009. “Virtue Ethics and Deontic Constraints.” Ethics, 119, 642–71.
Lerner, J., and P. Tetlock. 2003. “Bridging Individual, Interpersonal, and Institutional Approaches to Judgment and Decision Making: The Impact of Accountability on Cognitive Bias.” In S. Schneider and J. Shanteau (Eds.), Emerging Perspectives on Judgment and Decision Research, 431–57. New York: Cambridge University Press.
Lewis, M. 1989. Liar’s Poker: Rising through the Wreckage on Wall Street. New York: W. W. Norton.
Lieberman, M. D. 2000. “Intuition: A Social Cognitive Neuroscience Approach.” Psychological Bulletin, 126, 109–37.
Loewenstein, G., and D. Adler. 2000. “A Bias in the Prediction of Tastes.” In D. Kahneman and A. Tversky (Eds.), Choices, Values, and Frames, 726–34. New York: Cambridge University Press.
Luban, D. 2003. “Integrity: Its Causes and Cures.” Fordham Law Review, 72, 279–310.
MacIntyre, A. 1985. After Virtue, 2nd edition. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Maitland, I. 1997. “Virtuous Markets: The Market as School of the Virtues.” Business Ethics Quarterly, 7, 17–31.
Martin, M. 2006. From Morality to Mental Health: Virtue and Vice in a Therapeutic Culture. New York: Oxford University Press.
Maslow, A. 1987. Motivation and Personality, 3rd edition. New York: Harper and Row.
Matson, W. 2001. “Unfair to Justice.” Modern Age, 372–278.
McCabe, D., and L. Trevino. 1995. “Cheating among Business Students: A Challenge for Business Leaders and Educators.” Journal of Management Education, 19, 205–18.
McCloskey, D. 2006. The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce. Chicago: University of Chicago Press.
McCracken, J., and B. Shaw. 1995. “Virtue Ethics and Contractarianism: Towards a Reconciliation.” Business Ethics Quarterly, 5, 297–312.
McDowell, J. 1997. “Virtue and Reason.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 141–62. New York: Oxford University Press.
McKinnon, C. 2005. “Character Possession and Human Flourishing.” In D. Lapsley and F. Power (Eds.), Character Psychology and Character Education, 36–66. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
Melé, D. 2003. “The Challenge of Humanistic Management.” Journal of Business Ethics, 44, 77–88.
Melville, H. 2001. Billy Budd, Sailor. Chicago: University of Chicago Press. Merck. 2011. http://www.merck.com/responsibility/access/access-featuremectizan. html.
Messick, D. 1998. “Social Categories and Business Ethics.” In R. E. Freeman (Ed.), Business, Science, and Ethics, 149–72, Ruffin Series No. 1. Business Ethics Quarterly (Special Issue).
Metcalfe, J., and W. Mischel. 1999. “A Hot–Cool System Analysis of Delay of Gratification: Dynamics of Willpower.” Psychological Review, 106, 3–19.
Milgram, S. 1974. Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper and Row.
Miller, F. 1995. Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics. New York: Oxford University Press.
Moberg, D. 1999. “The Big Five and Organizational Virtue.” Business Ethics Quarterly, 9, 245–72. – 2006. “Ethics Blind Spots in Organizations: How Systematic Errors in Person Perception Undermine Moral Agency.” Organization Studies, 27, 413–28.- and M. Seabright. 2000. “The Development of Moral Imagination.” Business Ethics Quarterly, 10, 845–84.
Moore, G. 2002. “On the Implications of the Practice–Institution Distinction: MacIntyre and the Application of Modern Virtue Ethics to Business.” Business Ethics Quarterly, 12, 19–32. – 2005a. “Corporate Character: Modern Virtue Ethics and the Virtuous Corporation.” Business Ethics Quarterly, 15, 659–85. – 2005b. “Humanizing Business: A Modern Virtue Ethics Approach.” Business Ethics Quarterly, 15, 237–55. – 2008. “Re-imagining the Morality of Management: A Modern Virtue Ethics Approach.” Business Ethics Quarterly, 18, 483– 511. – 2009. “Virtue Ethics and Business Organizations.” In J. Smith (Ed.), Normative Theory and Business Ethics, 35–59. New York: Rowman and Littlefield. – 2012. “The Virtue of Governance, the Governance of Virtue.” Business Ethics Quarterly, 22, 293–318. – and R. Beadle. 2006. “In Search of Organizational Virtue in Business: Agents, Goods, Practices, Institutions and Environments.” Organization Studies, 27, 369–89.
Morris, C. 2008. The Trillion Dollar Meltdown: Easy Money, High Rollers, and the Great Credit Crash. New York: Public Affairs.
N´eron, P., and W. Norman. 2008. “Citizenship, Inc.” Business Ethics Quarterly, 18, 1–26.
Newton, L. 1992. “Virtue and Role: Reflections on the Social Nature of Morality.” Business Ethics Quarterly, 2, 357–65.
Nickerson, R. 1994. “The Teaching of Thinking and Problem Solving.” In R. Sternberg (Ed.), Thinking and Problem Solving, 409–49. San Diego: Academic Press.
Nielsen, R. 2001. “Can Ethical Character be Stimulated and Enabled: An Action-Learning Approach to Teaching and Learning Organization Ethics.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 51–77. New York: Elsevier Science.
Norman, W. 2002. “Inevitable and Unacceptable? Methodological Rawlsianism in Anglo-American Political Philosophy.” Political Studies, 46, 276–94.
Numkanisorn, S. 2002. “Business and Buddhist Ethics.” The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies, 1, 39–58.
Nussbaum, M. 1990. “Finely Aware and Richly Responsible: Literature and the Moral Imagination.” In Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, 148–67. New York: Oxford University Press. – 2010. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press.
Ostrom, E., and T. K. Ahn. 2009. “The Meaning of Social Capital and its Link to Collective Action.” In G. Svendsen and G. L. Svendsen (Eds.), Handbook of Social Capital: The Troika of Sociology, Political Science and Economics, 17–35. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
Owen, G. 1960. “Logic and Metaphysics in Some Earlier Works of Aristotle.” In I. During and G. Owen (Eds.), Plato and Aristotle in the Mid- Fourth Century, 163–90. Goeteborg: Almquist and Wiksell. – 1986. “Tithenai ta phainomena.” In M. Nussbaum (Ed.), Science and Dialectic, 239–51. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Paine, L. 1991. “Ethics as Character Development: Reflections on the Objective of Ethics Education.” In R. Freeman (Ed.), Business Ethics: The State of the Art. 67–86. New York: Oxford University Press.
Pastoriza, D., M. Arino, and J. Ricart. 2007. “Ethical Managerial Behaviour as an Antecedent of Organizational Social Capital.” Journal of Business Ethics, 78, 329–41.
Peters, T., and R. Waterman. 1982. In Search of Excellence. New York: Harper and Row.
Pfeffer, J. 1982. Organizations and Organization Theory. Boston: Pitman. – 2005. “Why Do Bad Management Theories Persist? A Comment on Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 96–100.
Phillips, R., and C. Caldwell. 2005. “Value Chain Responsibility: A Farewell to Arm’s Length.” Business and Society Review, 110, 345– 70.
Pinker, S. 2011. The Better Angels of our Nature: Why Violence has Declined. New York: Viking.
Pizarro, D., and P. Bloom. 2003. “The Intelligence of Moral Intuitions: Comment on Haidt.” Psychological Review, 110, 193–6.
Porter, M. 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
Prior, W. 2001. “Eudaimonism.” Journal of Value Inquiry, 35, 325–42.
Putnam, H. 2002. The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Cambridge: Harvard University Press.
Putnam, R. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster. – and D. Campbell. 2010. American Grace: How Religion Divides and Unites Us. New York: Simon and Schuster.
Quine, W. 1980. From a Logical Point of View, 2nd edition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rabin, M. 1998. “Psychology and Economics.” Journal of Economic Literature, 36, 11–46.
Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. – 1993. Political Liberalism. New York: Columbia University Press. Roca, E. 2008. “Introducing Practical Wisdom in Business Schools.” Journal of Business Ethics, 82, 607–20.
Rosenzweig, P. 2007. The Halo Effect . . . and the Eight Other Business Delusions that Deceive Managers. New York: Free Press.
Ross, L., and R. Nisbet. 1991. The Person and the Situation: Perspectives of Social Psychology. New York: McGraw-Hill.
Ross, W. D. 1930. The Right and the Good. New York: Oxford University Press.
Russell, D. 2009. Practical Intelligence and the Virtues. Oxford: Clarendon Press.
Salmieri, G. 2009. “Aristotle’s Non-‘Dialectical’ Methodology in the Nicomachean Ethics.” Ancient Philosophy, 29, 311–35.
Sandel, M. 2012. What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Schein, E. H. 1985. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
Sen, A. 1987. On Ethics and Economics. New York: Basil Blackwell. – 1997. “Human Rights and Asian Values.” New Republic, July 14–21. https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/sen.htm. – 2009. The Idea of Justice. Cambridge, MA: The Belknap Press. – and B. Williams (Eds.), 1982. Utilitarianism and Beyond. New York: Cambridge University Press.
Sennett, R. 1998. The Corrosion of Character: The Transformation of Work in Modern Capitalism. New York: W. W. Norton & Company.
Shaw, B. 1995. “Virtues for a Postmodern World.” Business Ethics Quarterly, 5, 843–63.
Shiller, R. 2012. Finance and the Good Society. Princeton: Princeton University Press.
Shoda, Y.,W. Mischel, and P. Peake. 1990. “Predicting Adolescent Cognitive and Self-regulatory Competencies from Pre-school Delay of Gratification: Identifying Diagnostic Conditions.” Developmental Psychology, 26, 978–86.
Simmel, G. 1955. Conflict and the Web of Group Affiliations. Trans. By K. H. Wolfe. Glencoe, IL: The Free Press.
Simon, H. 1954. “A Behavioral Theory of Rational Choice.” Quarterly Journal of Economics, 69, 99–118.
Sims, R., and T. Keon. 1999. “Determinants of Ethical Decision Making: The Relationship of the Perceived Organizational Environment.” Journal of Business Ethics, 19, 393–401.
Sison, A. 2003. The Moral Capital of Leaders: Why Ethics Matters. Northampton, MA: Edward Elgar. – 2008. Corporate Governance and Ethics: An Aristotelian Perspective. Northampton, MA: Edward Elgar. – 2011. “Aristotelian Citizenship and Corporate Citizenship: Who is
a Citizen of the Corporate Polis?” Journal of Business Ethics, 100, 3–9. – and J. Fontrodona. 2012. “The Common Good of the Firm in the Aristotelian-Thomistic Tradition.” Business Ethics Quarterly, 22, 211–46.
Skidelsky, E. 2009. “Capitalism and the Good Life.” In S. Gregg and J. Stoner (Eds.), Profit, Prudence, and Virtue: Essays in Ethics, Business and Management, 242–53. Exeter, UK: Imprint Academic.
Skinner, B. 1972. Beyond Freedom and Dignity. New York: Bantam Vintage.
Slater, L. 2004. Opening Skinner’s Box: Great Psychological Experiments of the Twentieth Century. New York: W. W. Norton.
Slote, M. 1983. Goods and Virtues. New York: Oxford University Press. – 1992 From Morality to Virtue. New York: Oxford University Press. – 2001. Morals from Motives. New York: Oxford University Press.
Smith, H. 2012. Who Stole the American Dream? New York: Random House.
Solomon, R. 1992. Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business. New York: Oxford University Press.
Sommers, M. C. 1997. “Useful Friendships: A Foundation for Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 16, 1453–8.
Stark, A. 1993. “What’s the Matter with Business Ethics?” Harvard Business Review, 71, 38–48.
Sundman, P. 2000. “The Good Manager – A Moral Manager?” Journal of Business Ethics, 27, 247–54.
Toulmin, S. 1990. Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. Chicago: University of Chicago Press.
Trevino, L. K. 1986. “Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model.” Academy of Management Review, 11, 607–17. – K. Butterfield, and D. McCabe. 2001. “The Ethical Context in Organizations: Influences on Employee Attitudes and Behaviors.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 301–37. New York: Elsevier Science.
Trist, E., and K. Bamforth. 1951. “Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Coal Getting.” Human Relations, 4, 3–38.
Tsalikis, J., and O. Wachukwu. 2000. “A Comparison of Nigerian to American Views of Bribery and Extortion in International Commerce.” Journal of Business Ethics, 10, 85–98.
Tsoukas, H., and S. Cummings. 1997. “Marginalization and Recovery: The Emergence of Aristotelian Themes in Organization Studies.” Organization Studies, 18, 655–83.
Turbow, J., with M. Duca. 2010. The Baseball Codes: Beanballs, Sign Stealing, and Bench-Clearing Brawls: The Unwritten Rules of America’s Pastime. New York: Pantheon Books.
Turner, N., J. Barling, O. Epitropaki, V. Butcher, and C. Milner. 2002. “Transformational Leadership and Moral Reasoning.” Journal of Applied Psychology, 87, 304–11.
Tversky, A., and D. Kahneman. 1981. “The Framing of Decisions and the Psychology of Choice.” Science, 211, 453–8.
Vidaver-Cohen, D. 1997. “Moral Imagination in Organizational Problem-Solving: An Institutional Perspective.” Business Ethics Quarterly, 7, 1–26. – 2001. “Motivational Appeal in Normative Theories of Enterprise.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 3–26. New York: Elsevier Science.
Vlastos, G. 1994. Socratic Studies. New York: Cambridge University Press.
Walton, C. 2001. “Character and Integrity in Organizations: The Civilization of the Workplace.” Business and Professional Ethics Journal, 20, 105–28.
Weaver, G. 2006. “Virtue in Organizations: Moral Identity as a Foundation for Moral Agency.” Organization Studies, 27, 341–68. – and B. Agle. 2002. “Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A Symbolic Interactionist Perspective.” Academy of Management Review, 27, 77–97.
Weick, K. 1969. The Social Psychology of Organizing. Reading, MA: Addison-Wesley. – K. Sutcliffe, and D. Obstfeld. 2005. “Organizing and the Process of Sensemaking.” Organization Science, 16, 409–21.
Wells, T., and J. Graafland. 2012. “Adam Smith’s Bourgeois Virtues in Competition.” Business Ethics Quarterly, 22, 319–50.
Werhane, P. 1991. Adam Smith and his Legacy for Modern Capitalism. New York: Oxford University Press. – 1999. Moral Imagination and Management Decision-making. New York: Oxford University Press. – and M. Gorman. 2005. “Intellectual Property Rights, Moral Imagination, and Access to Life-enhancing Drugs.” Business Ethics Quarterly, 15, 595–613. – L. Hartman, D. Moberg, E. Englehardt, M. Pritchard, and B. Parmar. 2011. “Social Constructivism, Mental Models, and Problems of Obedience.” Journal of Business Ethics, 100, 103–18.
Whetstone, J. 2003. “The Language of Managerial Excellence: Virtues as Understood and Applied.” Journal of Business Ethics, 44, 343–57.
Williams, B. 1981. Moral Luck. New York: Cambridge University Press. – 1985. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge: Harvard University Press.
Williamson, O. 1975. Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-trust Implications. New York: Free Press.
Winter, S. 1971. “Satisficing, Selection, and the Innovative Remnant.” Quarterly Journal of Economics, 85, 237–61.
Woodruff, P. 2001. Reverence: Renewing a Forgotten Virtue. New York: Oxford University Press.
Zimbardo, P. 2007. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. New York: Random House.
—–