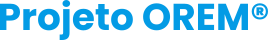Trechos do livro “Virtue In Business”, autor Edwin M. Hartman, para o nosso conhecimento e entendimento sobre as Organizações Baseadas na Espiritualidade (OBE) e a Espiritualidade no Ambiente de Trabalho (EAT).
Tradução livre Projeto OREM® (PO)
Virtude nos Negócios
Negócios, Criação de Valor e Sociedade
A abordagem da virtude à ética nos negócios é um tópico de importância crescente no mundo dos negócios. Concentrando-se na teoria de Aristóteles de que as virtudes do caráter e não as ações, são fundamentais para a ética, Edwin M. Hartman apresenta aos leitores desse livro o valor de aplicar a abordagem das virtudes de Aristóteles aos negócios.
Usando numerosos exemplos do mundo real, ele argumenta que os líderes empresariais têm boas razões para levar a sério o caráter ao explicar e avaliar os indivíduos nas organizações. Ele demonstra como a abordagem da virtude pode aprofundar o nosso entendimento da ética nos negócios e como pode contribuir para discussões contemporâneas sobre caráter, racionalidade, cultura corporativa, educação ética e ética global.
Escrito por um dos principais estudiosos Aristotélicos que trabalham atualmente na área, essa introdução oficial para o papel da ética da virtude nos negócios é um texto valioso para estudantes de pós-graduação e pesquisadores acadêmicos em ética nos negócios, ética aplicada e filosofia.
Edwin M. Hartman foi Professor Visitante de Ética Nos Negócios e codiretor do Seminário Paduano de Ética Nos Negócios na Stern School of Business da Universidade de Nova York até a sua aposentadoria em dezembro de 2009.
Antes de ingressar na Stern, ele lecionou por mais de vinte anos na escola de negócios e no departamento de filosofia da Rutgers University, onde ele foi diretor fundador do Prudential Business Ethics Center da Rutgers. Ele também é o autor de Substance, Body, and Soul: Aristotelian Investigations, de Conceptual Foundations of Organization Theory e de Organizational Ethics and the Good Life (nomeado Livro do Ano [2003] pela Divisão de Questões Sociais em Gestão da Academia de Administração).
…..Continuação da Parte IV…..
Um resumo do argumento – Capítulo 3
Os humanos não são motivados como sugerem o modelo do homo economicus e a teoria da agência. Aristóteles defende que a vida boa não se trata da satisfação de qualquer preferência antiga, como acreditam alguns economistas, mas de preferências do tipo que são dignas do que os seres humanos são: criaturas racionais e sociais. Nós temos boas razões para tentar adquirir tais preferências, que geram capital social entre outros bens. As opiniões de Aristóteles sobre a vida boa podem parecer indevidamente estreitas e baseadas em visões contestáveis da natureza humana, entretanto, mesmo os teóricos liberais admitirão que existem limites naturais para o que pode ser considerado uma vida humana boa.
Capítulo 3 – Parte II
Bens intrínsecos e instrumentais
Na discussão sobre praxis e poiesis no Capítulo 1, eu interpretei Aristóteles como dizendo que quase todas as virtudes criam algum benefício, ou não seriam virtudes. Entretanto, uma virtude é um estado da alma, uma coisa boa em si mesma. É intrinsecamente e não apenas instrumentalmente bom que você seja honesto, corajoso e justo. Ao mesmo tempo, essas virtudes colocam você em uma boa posição na comunidade e, portanto, também são instrumentalmente boas. Os bens intrínsecos e os bens instrumentais convergem porque os seres humanos são criaturas sociáveis, que não podem florescer com traços de caráter incompatíveis com uma vida autocriada numa comunidade. Assim, embora seja verdade que as virtudes são principalmente estados internos, os seus efeitos externos típicos são uma condição necessária para que elas sejam virtudes.
Uma virtude é, em alguns aspectos, semelhante à faculdade da visão. Quando eu vejo alguma coisa, eu estou num certo estado psicológico interno, entretanto, esse estado interno estabelece ver se e somente se eu estou relacionado com algum objeto visto da maneira correta. Não é surpresa que Aristóteles acredite que nós obtemos satisfação intrínseca ao usar os nossos sentidos. (Ver Metafísica I 1 980a21ss., segunda frase da obra.)
Dizer que é do meu interesse ser um bom amigo e um bom cidadão porque eu sou, por natureza, o tipo de criatura cujo fim (realização; propósito; realidade) é apreciar ser sociável, parece manipular o jogo: Aristóteles parece estar apenas estipulando que nós somos essencialmente criaturas que florescem na consecução do nosso fim, que é ser bons cidadãos e assim por diante. Nós podemos não estar tão confiantes de que é da nossa natureza ser pessoas morais e que ser pessoas morais faz com que sejamos felizes.
Mas há muito a ser dito sobre a decisão de vir a ser o tipo de pessoa que gosta de ser um bom amigo e um bom cidadão e que tira o máximo proveito da amizade e da cidadania. Pois, quer nós aceitemos ou não as opiniões de Aristóteles sobre a nossa natureza essencial, nós somos capazes de concordar que muito do que as pessoas desfrutam e quase tudo o que realizam requerem a cooperação de outros. Isso é verdade em nenhum lugar mais do que nos negócios. Segue-se que a confiança é importante, assim como a confiabilidade e a honestidade. Na ausência de mecanismos de aplicação, nós somos capazes de por vezes confiar na virtude.
Se eu for o seu verdadeiro amigo, eu não tenho maior probabilidade de enganá-lo do que de enganar a mim mesmo. Se eu for um bom cidadão, eu não estarei motivado para ser um parasita – por exemplo, para trabalhar arduamente para que o governo reduza a despesa global, porém para aumentá-la para programas que me beneficiem. Se eu for um bom funcionário, é ainda menos provável que eu seja um parasita, uma vez que nós esperamos que os funcionários partilhem os valores da organização mais do que um cidadão tem que partilhar os do Estado. (Nesse último ponto provavelmente nós diferimos de Aristóteles.)
Ostrom e Ahl mostram que comunidades semelhantes em quase todos os aspectos podem diferir no que diz respeito ao capital social. Isto sugere que a virtude da população pode não ser suficiente para preservar os bens comuns. Nem qualquer sistema é à prova de vícios. Não é verdade, como Friedman parece acreditar, que as empresas que se concentram inteiramente no lucro sejam mais bem-sucedidas, mantendo-se as outras coisas iguais, do ponto de vista moral. Nem é verdade, como assumem os criadores de esquemas de compensação de incentivos, que o interesse próprio é capaz de ser facilmente aproveitado para servir os interesses corporativos.
Naturalismo e a vida boa
Na opinião de Aristóteles, os fatos essenciais sobre a humanidade contribuem consideravelmente para determinar o que é ético. Muitos filósofos morais do século passado não aceitaram a posição de Aristóteles ou a sua forma de chegar a ela. Isso ocorre em parte porque eles acreditam que é característico da ética que você e eu somos capazes de concordar sobre os fatos empiricamente determináveis do caso, no entanto, discordarmos sobre a ética do caso; portanto, eles rejeitam a inferência dele a partir de proposições sobre a natureza humana para proposições sobre ética. Por exemplo, você e eu podemos concordar que 1% da população de algum país detém 20% da riqueza, entretanto, você pode pensar que isso é injusto, enquanto eu não. A maioria dos filósofos negaria a visão de Aristóteles de que o propósito ou fim natural de alguma substância é alguma coisa como um fato descomplicado e empiricamente disponível sobre ela. Isso não significa negar que em questões morais um de nós possa estar certo e o outro errado; é antes que os fatos empiricamente determináveis sobre os quais nós concordamos não implicam fatos éticos, sobre os quais nós possamos discordar.
Os chamados naturalistas, mais próximos de Aristóteles, afirmarão que, por exemplo, a partir de ‘Jones aprecia infligir dor’ nós somos capazes de inferir que ‘Jones é mau.’ Os oponentes do naturalismo argumentam que a inferência requer outra premissa, como ‘Qualquer pessoa que gosta de infligir dor é má’, que é uma afirmação normativa; nós não somos capazes de inferir o ‘deveria’ apenas a partir do ‘é’. Portanto, existe um abismo entre a ciência e a ética e, portanto, entre a psicologia e a ética. Operacionalizar termos éticos é assumir uma posição ética. Assim, por exemplo, se nós definimos o bem como utilidade e depois definimos a utilidade da forma como os economistas o fazem, nós temos estipulado um tipo de utilitarismo que mesmo a maioria dos economistas não abraçariam.
O caso de Deborah parece ser uma situação em que as pessoas são capazes de concordar sobre todos os fatos, no entanto, discordar sobre a ética da questão. Isso permaneceria assim mesmo se nós soubéssemos precisamente quanta felicidade seria gerada para quais partes interessadas, enviando Deborah para Londres ao invés de enviar Arnold.
Mas embora nós sejamos capazes de discutir e discutimos sobre o que é considerado bom ou prejudicial, há limites para as nossas divergências. Alguém que afirma que a ética consiste essencialmente em infligir dor, colocar coisas em cima de outras ou obedecer a Kim Jong Un está simplesmente enganado sobre a natureza da ética.
Qualquer pessoa que diga: ‘Jones é um homem muito bom, que por acaso gosta de vandalizar a propriedade dos outros e de torturar crianças’ está na mesma situação que alguém que diz: ‘Jones é um sujeito muito inteligente e que por acaso é incapaz de pensar racionalmente, entender questões complexas, resolver problemas de qualquer tipo ou reter informações.’ É uma verdade necessária que a ética tem a ver com o bem-estar humano.(19)
Embora nós possamos discordar sobre muitas questões, tais como se e quando Smith pode coagir Jones para o bem de Jones, existem, no entanto, algumas áreas de firme acordo sobre a ética; isso é indicado pelo uso de palavras como cruel, cuja denotação não pode ser claramente separada de sua conotação porque a sua conotação determina que tipo de pessoa ou comportamento ela denota.(20) Nós poderíamos discordar sobre se, digamos, o enforcamento é cruel, mas ainda assim concordar que o apedrejamento até à morte é cruel. A nossa linguagem nos permite concordar na medida em que nós entendemos aquilo de que nós estamos falando, entretanto, ao mesmo tempo discordar e argumentar racionalmente sobre o assunto.
Alguns, mas não todos, que defendem uma divisão clara entre é e deveria, prosseguem dizendo que as declarações de dever não são verdadeiras nem falsas. No entanto, o cético do segundo ano mencionado no Capítulo 2 provavelmente não dirá algo assim: eu garanto que Jones enfrentou o seu chefe intimidador, no entanto, isso não é motivo para dizer que ele agiu com coragem. Ou algo assim: Sim, Smith sempre mantém confidências, diz a verdade, exerce a sua influência e faz o que se compromete a fazer, mas quem pode dizer que ela é confiável?(21) É claro que é possível que Jones não estivesse agindo com coragem, que ao invés disso ele estava se exibindo para conquistar a admiração de Smith. Entretanto, dizer mesmo isso é admitir que as virtudes são capazes de serem invocadas para explicar e justificar algumas ações e que a invocação pode ser verdadeira ou falsa.
(19)Dizer o que é a ética é em si mesma uma afirmação ética, embora não muito específica. No Capítulo 7 nós discutiremos uma concepção de ética que parece questionar essa afirmação.
(20)Ver Putnam (2002) sobre crueldade e muito mais. Entre outras coisas, ele argumenta que muitos dos que defendem a dicotomia fato-valor têm uma noção estreita de fato, que eles herdaram a partir dos positivistas.
(21)Lembre-se da afirmação, feita no Capítulo 2 e apoiada por Whetstone (2003), de que os gestores se sentem confortáveis com o discurso sobre virtudes.
Lealdade e confiabilidade podem explicar o comportamento nas organizações. O mesmo pode acontecer com a desonestidade e a imparcialidade. Se Jones, um funcionário, trabalhar duro, isso pode ser porque ele receberá mais por isso. Entretanto, na ausência de remuneração de incentivo, Jones pode trabalhar arduamente porque vê outros funcionários trabalhando arduamente e sente que ele deve a eles e à empresa trabalhar não menos arduamente do que eles, porque é injusto ser um trabalhador livre ou mesmo uma pessoa que vive à custa de outros. Os acontecimentos e estados externos não explicam tudo, o dinheiro não é o único motivador e alguns dos estados motivadores têm que ser nomeados em linguagem normativa.
Limites da vida boa
A controvérsia sobre o que é considerado uma vida boa é antiga e resistente; Eu não sou capaz de resumi-la, muito menos resolvê-la, aqui. No entanto, eu sou capaz de insistir para que nós não subestimemos até que ponto certos fatos sobre os seres humanos que determinam os limites não só daquilo que poderia concebivelmente ser considerado ético, mas também daquilo que nós somos capazes de chamar de vida boa e do que constitui o bem-estar.
Alguém poderia argumentar que o bem-estar tem a ver com sentir-se bem: ele é subjetivo e não importa por que você o sente. É verdade que haveria algo de estranho em dizer: ‘Jones se sente bem o tempo todo, mas está infeliz.’ Por outro lado, nós poderíamos discutir se Jones está realmente feliz se os seus bons sentimentos são o resultado da ignorância de alguns fatos preocupantes, ou de coisas agradáveis que acontecem com ele, ao invés de qualquer coisa que ele tenha realizado, ou se ele está satisfeito com a vida de um viciado em televisão ou de um ascensorista cuja grande emoção é subir de elevador até o telhado (Hartman, 1996, p. 36).
Pense na saúde física como um análogo da virtude e da sua eudaimonia. Há algo naturalmente bom em ser saudável, no entanto, não faz com que isso seja automaticamente atraente. Principalmente se você estiver fora de forma e com sobrepeso, o exercício é doloroso e comer e beber moderadamente é frustrante. Você pode pensar que uma saúde robusta não vale a pena, especialmente se você é um viciado em televisão, satisfeito assistindo esportes com os seus amigos e bebendo muita cerveja.
Entretanto, se você mudar os seus hábitos, com o tempo você não apenas verá progresso, mas também começará a se sentir bem em correr e levantar peso e em reduzir o consumo de cerveja e batatas fritas. Tendo alcançado um certo nível de condicionamento físico, você pode se perguntar por que você pensou que isso seria doloroso.
É claro que algum fumante inveterado pode superar você, no entanto as chances estão do seu lado. Mais concretamente, a saúde é a sua própria recompensa. É um gosto adquirido, assim como algumas virtudes, no entanto, você tem bons motivos para decidir adquirir o gosto pela saúde e pela vontade de gostar de malhar.
É pelo menos possível que um observador de televisão com excesso de peso experiencie tanto prazer subjetivo como uma pessoa que gosta de saúde e boa forma, porém isso não é provável, pois apenas a pessoa saudável é capaz de experienciar o prazer subjetivo de ter alcançado a saúde através da autodisciplina racional. E o mesmo acontece com o bom caráter: como uma pessoa virtuosa, você tem a experiência subjetiva positiva de ter vindo a ser capaz de agir de maneiras que contribuem para o seu bom caráter.(22) Essa é uma forma de prazer exclusiva dos seres humanos e apenas de alguns deles. Tendo alcançado o seu caráter, você não teria prazer em trocar de lugar com o estúpido que pouco ganha com a vida.
Os filósofos que seguem Bentham ao afirmar que o bem-estar é uma questão do estado mental de uma pessoa estão em minoria, mas há um aspecto subjetivo na felicidade da pessoa física ou mentalmente saudável. Aristóteles não é nenhum Benthamita.(23) Na opinião dele, há alguma coisa deficiente em sua vida se você mesmo não a projetou; há alguma coisa que falta na sua vida se você não é um cidadão que participa da vida da sua comunidade, ou se não tem bons amigos, mesmo que se sinta bem.
(22)Para mais informações nesse sentido, ver McKinnon (2005).
(23)Ver Hausman (2012, pp. 78–80) e Annas (2011, pp. 128–44).
Bem-estar e sociabilidade
Chamar os seres humanos de sociáveis não significa apenas dizer que os seus interesses individuais normalmente requerem a ajuda de outros para serem alcançados. Na verdade, haverá muito que Jones não é capaz de fazer na ausência da cooperação de outros: construir um celeiro pode ser uma dessas coisas. Mas seria um erro focar apenas nos bons resultados da sociabilidade para o ser humano.
Aristóteles sustenta que é natural para você viver numa boa polis e que, portanto, você deve ser um cidadão politicamente ativo. Ele acredita que você deve ter amizades verdadeiras, que sejam naturais para você e boas nelas próprias: não se trata delas apenas fortalecerem uma rede de contatos úteis. As melhores amizades e os melhores relacionamentos familiares estão entre os maiores prazeres da vida. Se você está perdendo isso, infelizmente a sua vida está em falta. Como dizem os psicólogos positivos, as pessoas mais felizes têm uma família próxima e muitos bons amigos. Ao dizer isso, eles sugerem que a vida familiar e a amizade constituem, ao invés de causar, felicidade. Se assim for, a felicidade não é (como Aristóteles acredita que a eudaimonia não é) um estado mental além das bênçãos das nossas vidas.
MacIntyre aceita essa visão ao afirmar (1985, p. 187) que a excelência numa prática – uma ‘forma coerente e complexa de atividade humana cooperativa socialmente estabelecida’ – é uma forma de virtude e cria os seus próprios bens intrínsecos. Por exemplo, o trabalho cooperativo numa prática exige e por isso cultiva, não apenas habilidade técnica, mas também confiabilidade, honestidade, sensibilidade, orgulho no trabalho, lealdade ao grupo, altruísmo e outras virtudes. A prática pode gerar recompensas externas como dinheiro e prestígio, entretanto, os bens internos são mais importantes e nós não devemos reduzir a sua força motivadora através da introdução de variáveis independentes observáveis, como esquemas de compensação de incentivos. Se nós somos pessoas do tipo certo, nós apreciamos usar as nossas habilidades em atividades cooperativas. MacIntyre duvida que isso seja possível numa empresa, mas eu argumentarei no Capítulo 5 que ele está errado. As pessoas são capazes de apreciar trabalhar em equipe onde a atividade exige a racionalidade e a sociabilidade delas.
Existem alguns casos em que o jogo em equipe não é muito divertido. Uma unidade militar em batalha provavelmente não está exatamente apreciando a camaradagem que une os soldados, mas mesmo assim há uma espécie de satisfação nisso e a satisfação tem algo a ver com a noção de que é certo e bom para nós, poucos felizes, lutarmos juntos no Dia de São Crispim, independentemente de nós nos importarmos com as ambições políticas de Harry.
Variedades da vida boa
Até agora, a afirmação de que o que é eticamente bom está de alguma forma fundamentado na natureza humana parece pelo menos plausível. Na medida em que os seres humanos agem de acordo com a sua natureza racional e social e apoiam os outros a fazerem o mesmo, eles estão apreciando uma vida boa e sendo éticos. A objecção óbvia é que algumas pessoas parecem estar perfeitamente felizes com uma vida minimamente racional e apenas social o suficiente para lhes permitir sobreviver. Certamente, diria um liberal no estilo Rawlsiano, nós queremos que a ética acomode uma série de vidas que uma série de pessoas possa achar atraente. A afirmação de que uma vida simples, que consiste principalmente na satisfação de desejos modestos, é uma vida fracassada, parece ser uma peça de elitismo.
Pessoas diferentes encontrarão realização em lugares diferentes e nós necessitamos ter cuidado ao afirmar que um estilo de vida é, por definição, melhor que outro. Então deixe-me tentar ser cuidadoso. Sem me comprometer com qualquer explicação detalhada do que é a vida boa, eu afirmo que uma visão razoável, um meio-termo, situa-se entre a proposição de que existe uma explicação detalhada e indiscutível do que é bom e a proposição de que o bem é tudo o que alguém gosta. O próprio Rawls cai entre essas visões extremas quando ele afirma que existem alguns ‘bens primários’ que qualquer pessoa racional desejará (1971, p. 92). À noção de que o que é bom é apenas o que alguém gosta, nós associamos a visão Iluminista apresentada por MacIntyre. No entanto, as opiniões extremas são ambas falsas.
A afirmação de que a nossa natureza determina o que é bom para nós e que o que é bom para nós é achar um lugar numa boa comunidade, pode nos lembrar do determinismo da sociobiologia ou da psicologia social. Tanto a nossa composição genética como o nosso ambiente imediato determinam em grande parte o que nós fazemos. Não é assim, do ponto de vista Aristotélico. Pois se nós somos racionais, nós somos capazes de refletir e criar as nossas vidas, até ao ponto de nós escolhermos os nossos interesses. Nós sabemos que Aristóteles é um estudioso cuidadoso dos caminhos pelos quais a maioria de nós falha, no entanto, nós não falhamos porque é da nossa natureza fazê-lo.
Eu tenho argumentado que Aristóteles vê a racionalidade e a sociabilidade trabalhando juntas. Não parece preocupar Aristóteles que elas possam trabalhar uma contra a outra. A experiência de Milgram mostra como a pressão social pode minar a deliberação racional, no entanto, no outro extremo do espectro nem sempre nós devemos rejeitar o efeito da comunidade. O que é necessário aqui é um meio-termo entre uma forma de individualismo desprovido de comunidade e uma forma de sociabilidade que priva toda deliberação independente.
Aristóteles pensa que os seres racionais são parcialmente responsáveis pela criação do seu próprio caráter (NE III 5 1114b23). Essa afirmação, no contexto das suas opiniões sobre a sociabilidade, sugere que você tem a obrigação de fazer com que você mesmo seja o tipo de pessoa que tem autonomia suficiente para permitir uma escolha sábia de uma vida que seja coerente e sustentável numa polis. Não se segue que qualquer conjunto específico de valores seja certo para todos os agentes, entretanto, alguns valores são bons e outros errados para qualquer um.(24)
(24)Giovanola (2009, p. 436f.) sugere que a ‘abordagem das capacidades’ (descrita mais detalhadamente em Sen, 2009), que enfatiza a liberdade e a oportunidade de funcionar adequadamente, está próxima da visão Aristotélica. Os recursos são universais, no entanto, você tem a sua maneira particular de usá-los (p. 437).
Portanto, você pode decidir vir a ser um soldado profissional ou um cantor profissional, no entanto, você deve ser corajoso em ambos os casos, seja ao enfrentar um inimigo feroz ou ao cantar uma ária exigente diante de um público grande e discernidor.
Liberdade de escolha e vida boa
Numa democracia liberal, nós assumimos que os cidadãos terão uma variedade daquilo que Rawls (1993) chama de ‘concepções abrangentes’ daquilo que deve ser mais valorizado. Desde que a sua concepção abrangente não o faça interferir nos outros, você tem direito a isso. Esse tipo de liberdade política Aristóteles não defende. Como nós observamos, ele sustenta que em boas comunidades existe um elevado nível de unanimidade. As pessoas deveriam ter interesses do tipo certo, que são moldados pela boa polis, para a qual as pessoas virtuosas querem contribuir. Essa é uma razão para dizer que a ética é contínua com a política.
No entanto, mesmo entre aqueles que têm bons interesses é capaz de haver divergências; portanto, há um lugar para discussão e deliberação entre os cidadãos à medida que eles consideram o que a justiça demanda. Ainda assim, a boa polis de Aristóteles não se assemelha ao tipo de democracia liberal que nós encontramos no final de Rawls. Ele não parece ter uma forte noção de que mesmo o melhor governo possível será provavelmente demasiado ignorante e desajeitado para micro gerir muito bem a vida das pessoas. Entretanto, a polis típica de Aristóteles é uma pequena comunidade em que as pessoas se conhecem e em que o governo está nas mãos de homens sábios e virtuosos que se preocupam com o bem comum. Nós não sabemos o que ele diria de um estado-nação moderno, ou mesmo de uma grande cidade.
Escolher caracteristicamente tem certos resultados: muitas vezes obtemos o que se escolhe. A deliberação cujo resultado não contribui para o desenvolvimento e manutenção de uma vida que inclua o prazer da família, dos amigos e dos concidadãos é autodestrutiva e, portanto, irracional. Deliberar sem racionalidade é quase um oxímoro. A racionalidade dos desejos de alguém é uma parte crucial da ética e da eudaimonia. O que poderia ser bom em ter desejos que fazem de alguém um mau amigo ou um mau cidadão? O que poderia haver de bom num desejo constante de gratificação instantânea ou de resultados incompatíveis? Essas disfunções não são o resultado do tipo de escolha racional que é essencial aos seres humanos.
Seria um erro, contudo, concentrar-se apenas nos resultados da deliberação. Aristóteles acredita que o ato de livre escolha em si mesmo é valioso. Escolher – desejar, deliberar, avaliar, decidir – é uma parte crucial da vida de um ser humano racional, em oposição à de um animal não humano. No domínio das atividades humanas, a escolha deliberada é importante, se é que alguma coisa o é, e isso tem que ser feito racionalmente. Certamente você não viveria uma vida boa se a sua deliberação levasse a ações inesperadas ou indesejáveis.(25) Ser racional é ser uma criatura que delibera e escolhe de uma forma que somente os humanos são capazes. A deliberação e a escolha são atividades essenciais para qualquer vida humana e, portanto, para uma vida boa. Elas são boas em si mesmas, entretanto, você pode deliberar e escolher mal, até mesmo em relação à sua vida como um todo.
Isso não quer dizer que deliberar e tomar uma decisão seja sempre divertido. Às vezes é difícil, até mesmo angustiante.(26) A responsabilidade é capaz de pesar muito, especialmente se a decisão for difícil e o seu melhor resultado possível implicar um custo. Pode ser mais fácil deixar outra pessoa decidir, mesmo quando os seus interesses estão em jogo. No entanto, a maioria de nós deseja ser o tipo de pessoa que é capaz de tomar decisões autônomas. Nós não admiramos nem invejamos aqueles que não são capazes ou não o querem. E, de qualquer forma, eudaimonia não é a mesma coisa que diversão.
(25)Existem, no entanto, escravos cuja escravização Aristóteles considera apropriada se forem incapazes de deliberação e escolha caracteristicamente humanas. (Ver Pol I, pp. 4–7, 13.) Nessa base, nós somos capazes de acusar justamente Aristóteles de uma noção deficiente de direitos.
(26)Baumeister e Tierney (2011, capítulo 4) argumentam que o próprio ato de decidir pode enfraquecer o poder da vontade.
Considerar a importância da autonomia na deliberação levará necessariamente a considerar os limites da vida boa. Aristóteles não parece aprovar limites muito amplos: embora sem dúvida ele concordasse que nós necessitamos de soldados e comerciantes e que eles são capazes de ser mais ou menos virtuosos, ele não os considera como vivendo uma vida de verdadeira eudaimonia. MacIntyre se opõe ao liberalismo moderno, que ele considera não estar ancorado em qualquer explicação defensável de viver bem, da qual não é capaz de ser dada nenhuma explicação que omita a relação essencial entre o indivíduo e a comunidade. Os liberais não querem tal âncora. Kupperman (1991) busca uma posição intermediária ao criticar o maior de todos os filósofos liberais recentes.
Liberalismo
Uma das grandes diferenças entre a visão de Aristóteles sobre o propósito do governo e a do liberal moderno é que Aristóteles acredita que o papel da polis é apoiar a virtude na população, enquanto o liberal sustenta que a polis deve apoiar a liberdade do indivíduo.(27) Aristóteles e Aristotélicos como MacIntyre não acreditam que seja bom que as pessoas tenham a liberdade de escolher uma vida infantil ou servil. Esse tipo de liberdade que MacIntyre considera ser uma fraqueza essencial do liberalismo moderno.
Kupperman, um eticista da virtude, opõe-se à visão de Rawls (1971) de que um bom governo não está comprometido com nenhuma ideia determinada do bem.(28) Ele acusa Rawls de não levar em conta ‘as conquistas intelectuais e estéticas e o desenvolvimento do caráter’ em avaliar uma sociedade e de não ver como as questões de alocação de recursos se relacionam com questões sobre ‘quais são os bens importantes de uma sociedade’ (Kupperman, 1991, p. 96), como se a cultura não tivesse efeito sobre a forma como os recursos são distribuídos.
Rawls tem que estar preparado para aceitar um ‘Mundo Novo Tépido’ grosseiramente hedonista – como o Admirável Mundo Novo [Brave New World], exceto igualitário e democrático – ao invés de uma sociedade intelectual e esteticamente superior em que os que estão em pior situação estão ‘materialmente’ em pior situação (p. 97).
Os Fundadores, impedidos pelo Véu da Ignorância de conhecer a concepção de bem deles, não terão base para criticar o Mundo Novo Tépido (p. 98) ou para preferir qualquer outra coisa. Seguidores de Aristóteles e oponentes do Iluminismo e particularmente do Liberalismo do contrato social também são capazes de criticar Rawls por acreditar que se é possível conceber um ser humano separado de qualquer comunidade, o que Aristóteles não é capaz.
(27)Aqui nós estamos falando de liberais com tendências libertárias, na tradição de Mill, ao invés de defensores do ‘estado-babá [paternalismo]’.
(28)Foram dois anos depois do lançamento do livro de Kupperman que o Political Liberalism de Rawls argumentou que um Estado não deveria impor uma ‘concepção abrangente’ do bem. No entanto, grande parte do argumento desse livro apareceu em 1985 ou antes.
A maioria dos indivíduos na Utopia Rawlsiana conhecerá as suas concepções do bem e será capaz de agir em conformidade, dentro de amplas restrições. O governo não impõe nenhuma concepção aos seus concidadãos, entretanto, em vez disso permite que várias concepções coexistam e possivelmente concorram dentro da comunidade. Kupperman acredita que um bom governo encorajará visões mais ricas da boa vida, por exemplo, abastecendo as bibliotecas com clássicos como Huckleberry Finn, que ajudam a desenvolver a imaginação moral e a sabedoria prática (1991, p. 99). Rawls recusa conceder apoio estatal às artes (1971, p. 100), talvez porque esteja ciente de que muitos cidadãos não querem que o dinheiro dos seus impostos pague por Huckleberry Finn e outros clássicos.
Kupperman (2005, p. 208) acredita que é apropriado que um governo contemple ‘questões de qualidade de vida.’ Certamente existem alguns valores morais afirmativos que uma boa comunidade compartilha. E se não houver, a moralidade dificilmente será capaz de exercer o controle social que os liberais defendem. Entretanto, até que ponto o governo deveria encorajar esses valores, especialmente se não houver consenso sobre eles, não é óbvio para a maioria de nós hoje, embora Aristóteles tivesse uma confiança considerável de que as elites que governam uma boa polis deveriam ir muito longe no seu encorajamento.
Tal como outros eticistas da virtude e do caráter, Kupperman vê em pessoas como Rawls a noção repugnante de que tudo o que satisfaz as pessoas é capaz de definir a vida boa e se preocupa com o fato de o liberalismo estar moralmente à deriva. No entanto, Rawls prevê uma comunidade na qual as pessoas ‘tenham um interesse de ordem superior em regular todos os seus outros desejos, mesmo os fundamentais, pela razão. . . ‘(1993, p. 280). Rawls não argumenta que alguém possa descrever definitivamente o melhor tipo de vida possível, porém também não dá evidências de acreditar que qualquer tipo de vida que seja satisfatório para o indivíduo seja tão bom quanto qualquer outro.
Num mundo Rawlsiano não há razão para esperar que, sob condições apropriadas, pessoas desinteressadas criem uma comunidade que desencoraje a criatividade e encoraje a tibieza. Pode acontecer que numa comunidade Rawlsiana algumas pessoas queiram ler Sófocles ou ouvir Bach, enquanto outras preferirão Danielle Steele e o Country Western. Isso não é necessariamente bom, no entanto, a justiça no governo não exige que se pressione as pessoas para que mudem as suas práticas de leitura e audição. Em qualquer caso, a justiça não necessita ser a única virtude em jogo e o Estado não é a única influência na cultura. A visão liberal não é que a tibieza seja boa, porém que nós deveríamos deixar mil flores desabrocharem e depois ver quais delas sobrevivem à reflexão e à experiência e quem está mais bem equipado para regá-las.
No entanto, os eticistas da virtude na tradição Aristotélica estão certamente certos ao afirmar que os valores podem ser amplamente aceitos sem realmente valerem a pena serem valorados. Então, nós podemos perguntar, o que vale a pena valorar? Para começar, não importa o que possa ser valioso, é necessário valorar tudo o que é exigido pela nossa capacidade de nos perguntarmos o que vale a pena valorar – isso é, o que é a vida boa. Isso requer uma medida de reflexão racional, assim como a vida boa. (Rawls defende praticamente o mesmo ponto na passagem citada acima.)
E é um fato inalterável que as pessoas vivam com outras pessoas; nós poderíamos promover esse fato como uma verdade necessária, mostrando que os seres humanos seriam profunda e irreconhecivelmente diferentes se não vivessem juntos em comunidades. Isso serve para fazer com que o agora familiar argumento seja de que o ser humano é um animal racional e um animal sociável.
O que é inadequado no Admirável Mundo Novo e no Mundo Novo Tépido é que os seus cidadãos ficam aquém do seu potencial como seres humanos. Eles não são capazes nem de se perguntar o que seria uma vida boa. Entretanto, Rawls não parece duvidar que as pessoas na sua Utopia sejam capazes disso; e se o forem, não ficarão satisfeitos com a tibieza. A esse respeito, Rawls não é neutro em relação à tibieza, ou à igualdade de respeito e de oportunidades. Nem, apesar do elemento igualitário na sua concepção de justiça, ele é neutro quanto ao direito de cada pessoa escolher entre uma ampla gama de compromissos possíveis.
Aristóteles, Kupperman (1991, p. 155, por exemplo) e Rawls também (p. 280, citado acima) considerariam o compromisso com o interesse próprio como vazio. Eu acredito que todos os três concordariam que, ao assumir os compromissos mais importantes, decide-se quais serão os seus interesses. Aristóteles e Kupperman considerariam um caráter forte uma condição necessária para uma vida boa e eu não tenho motivos para duvidar que Rawls concordaria.
Kupperman e Rawls não divergem seriamente sobre como é uma vida boa. Se houver alguma diferença, é sobre o papel do governo, em oposição às famílias ou associações voluntárias ou outras entidades sociais, na definição e promoção da vida boa. Na Política, Aristóteles atribui à polis um papel mais forte na orientação moral do que Kupperman ou Rawls, no entanto, ele tem em mente uma polis que, ao contrário de um governo federal ou mesmo estadual do nosso tempo, tem uma população mais homogênea e um grupo seleto e elitista de cidadãos plenos.
Apesar das diferenças deles relativamente ao papel apropriado do governo no patrocínio da virtude, nenhum dos três afirmaria que existe qualquer forma de governança, real ou teórica, que garanta que os seus cidadãos viverão bem. Uma boa comunidade requer cidadãos virtuosos, no entanto, eles não surgem inevitavelmente a partir de alguma boa forma de governança.
A necessidade por caráter em qualquer caso
Berkowitz (1999) está entre os filósofos que acreditam que um regime liberal só terá sucesso se os cidadãos aprenderem a virtude em famílias fortes e em associações ricas. Ele observa (p. 26, por exemplo) que Rawls não considera adequadamente o que um regime liberal deveria fazer para encorajar essas e outras instituições produtoras de virtudes. Aristóteles sem dúvida concordaria. Aqueles que duvidam que o homo economicus venha a ser homo honest [honesto] nos mercados perfeitos ou em esquemas de compensação bem concebidos, também concordarão. O próprio Berkowitz não oferece nenhuma teoria sobre o que um governo deveria fazer para promover a virtude que sustenta a democracia liberal.
Em vez disso, ele vê um ‘equilíbrio instável’ entre o liberalismo e a exigência por um mínimo de bom caráter. Isso significa que, para usar a terminologia familiar, existe um meio-termo entre eles, porém nenhum algoritmo para atingi-lo. Uma certa quantidade de experiência, incluindo tentativa e erro é requerida. Há alguma razão para dizer que a educação é o caminho para alcançar a necessária sabedoria prática, no entanto, a educação em si mesma é uma área politicamente contestada.
Em qualquer caso, o objetivo é ter um governo que apoie porém não controle famílias estáveis e amorosas, bairros cheios de bons vizinhos, associações cívicas e outras instituições que são cruciais para o sucesso de qualquer sistema político. Na medida em que não existe tal governo, a virtude está em risco. Mas se as pessoas não forem virtuosas, não haverá tal governo. Aristóteles permite que seja concebível que uma polis seja boa coletivamente enquanto as pessoas são más individualmente, porém é preferível ter pessoas boas, uma vez que a bondade de todos decorre da bondade de cada um (Pol VII 1332a36-8).
Eu tenho argumentado e devo continuar a argumentar que, nas circunstâncias certas, não só o governo, mas também as empresas, incluindo organizações e mercados, podem apoiar o bom caráter. Como nós sabemos, porém, as circunstâncias nem sempre são adequadas. Alguns céticos irão mais longe e dirão que a cultura do capitalismo é tóxica do ponto de vista da virtude.
Sandel (2012) é um cético.(29) Um crítico do liberalismo Rawlsiano, ele argumenta que, em grande medida, os Americanos reduziram o valor ao preço: a noção de que você recebe aquilo por que paga foi estendida a áreas nas quais os bens tradicionalmente não eram precificados. Nós pagamos às crianças pelas boas notas; nós pagamos às pessoas para esperarem na fila por nós; pessoas ricas gastam milhões em publicidade política e assistem a esportes profissionais em camarotes caros. Ao fazê-lo, nós convidamos a corrupção, nós minamos bens intrínsecos importantes e nós perdemos o sentido dos eventos públicos que ricos e pobres têm desfrutado até agora de forma igual e conjunta. Sandel não se deixa convencer mais do que Aristóteles pela afirmação de que essas vendas envolvem vendedores e compradores dispostos.(30) Algumas das coisas que nós fazemos voluntariamente são más.
(29)Sandel mantém uma longa tradição de ceticismo sobre o que deveria estar à venda. Veja Claasen (2012).
(30)Na verdade, Aristóteles afirma que vender um sapato em vez de usá-lo é deixar de usá-lo para o seu propósito próprio e característico (Pol I 9 1257a6-13). Ele não chega a dizer que nunca se deve vender sapatos.
Sandel concorda com a visão de Aristóteles de que o dinheiro deve ser considerado um meio para o que é bom e não um bem em si. Ambos defendem que algumas coisas devem ser valorizadas e outras não, mesmo que o sejam. Sandel infere o corolário de que existem certos bens para os quais o dinheiro não deveria ser um meio. Esses bens, muitos dos quais têm a ver com virtude e igualdade, devem ser valorizados por si próprios e não de acordo com a oferta e a procura. Comoditizá-los não é apenas privatizar o que deveriam ser bens públicos, mas também desvalorizá-los. É pouco provável que as nossas opiniões sobre o valor da paternidade, por exemplo, sobrevivessem se os pais pudessem vender os seus filhos a quem pagasse mais. Sandel não ficaria surpreendido ao saber que os esquemas de compensação de incentivos são capazes de funcionar mal porque minam a lealdade dos gestores para com a empresa, o que é muitas vezes um fator de motivação mais forte do que o bonus que comoditiza o trabalho de alguém.
Existem questões sérias sobre o que os seres humanos deveriam valorizar. Nem tudo o que nós queremos é desejável, como diz Aristóteles. Nós poderíamos estar inclinados a acreditar que o liberalismo Rawlsiano conduz à forma grosseira de utilitarismo que nem Aristóteles nem nós aceitaríamos, ou que o capitalismo conduz ao tipo de comoditização que Sandel critica. Entretanto, há perigo no outro extremo, a ideia de que um bom governo deve permitir apenas o que considera virtuoso, seja na esfera política ou na esfera económica.
É evidente que o governo é capaz de fazer com que as coisas sejam melhores ou piores: por exemplo, ele é capaz de criar espaços públicos e proporcionar oportunidades educativas para todos, ou ele é capaz de privatizar todas as coisas que a maioria das pessoas deseja e vender isso tudo a quem pagar mais. Ambas podem acontecer no capitalismo democrático. Entretanto, a culpa não está no nosso sistema, mas em nós mesmos. O fato de a nossa política e economia apoiarem uma vida boa é em grande parte determinado pelo fato de nós, que votamos e compramos, sermos virtuosos. Portanto, nós temos que acreditar se nós acreditamos que existe tal coisa chamada virtude. É claro que se Doris e outros estiverem certos sobre a virtude, há pouca esperança.
Grandes questões
Sandel levanta questões de especial preocupação para os eticistas nos negócios. Será que o negócio em si mesmo tem por vezes um efeito corrosivo sobre as comunidades e sobre o caráter dos seus cidadãos? Ou as organizações às vezes são receptivas à virtude tanto quanto uma polis o é? A resposta a ambas as perguntas é uma afirmativa cautelosa.
Embora parte do que Aristóteles diz sobre a polis se aplique às empresas de formas interessantes, as duas coisas não são a mesma coisa. Dependendo do ponto de vista de cada um, o objetivo da polis ou de qualquer bom Estado é melhorar a vida dos seus cidadãos ou dar-lhes a oportunidade de melhorar as suas próprias vidas. O propósito de uma empresa é menos claro. Nem Aristóteles nem nós diríamos que o objetivo principal de uma empresa é fazer com que os seus funcionários sejam virtuosos. Normalmente uma empresa tem uma missão; ela sempre tem que gerar lucro. Normalmente ela é capaz de apoiar a virtude nas suas fileiras sem comprometer o seu propósito principal, talvez até como forma de apoiar esse propósito, que não necessita ser o seu único propósito. Ela poderá também se comprometer a servir alguns stakeholders internos e externos, nomeadamente colaboradores e clientes. No entanto, para além dos objetivos que uma empresa estabelece para si própria, a comunidade protege os mercados e apoia as empresas como um todo, porque as empresas prestam ou deveriam prestar um serviço público crucial.
Apesar dessas boas notícias, nós simplesmente não somos capazes de dizer que a maioria das empresas fazem com que os seus funcionários sejam virtuosos, ou que a incapacidade de apoiar a virtude irá sempre prejudicar a rentabilidade de uma empresa. Nós somos capazes de dizer que é, em vários aspectos, uma coisa boa para uma empresa apoiar a virtude dos seus funcionários e que considerar os interesses dos funcionários e de algumas outras partes interessadas como razões para agir também é uma coisa boa e é capaz de ajudar uma empresa a ter sucesso. Nós discutiremos essa questão mais detalhadamente no Capítulo 5.
Os negócios são capazes de ser uma força ética positiva. Isso não significa que normalmente o seja. Em particular, não o será se os empresários forem antiéticos. Entretanto, no decorrer desse livro, especialmente nos capítulos 5 e 7, eu argumentarei que existem algumas características do capitalismo que apoiam as virtudes e que nós somos capazes de aprender lições a partir de Aristóteles sobre como isso pode acontecer.
O nosso próximo passo é considerar o que Aristóteles diz sobre o desenvolvimento do caráter, no qual a polis é um fator crucial. Eu tenho afirmado que a capacidade de construir o caráter de alguém é uma característica definidora dos seres humanos. O Capítulo 4 descreve como Aristóteles pensa que nós fazemos isso.
…..Continua Parte VI…..
—–
Bibliografia do livro “Virtue In Business”, autor Edwin M. Hartman
Abdolmohammadi, M., and M. F. Reeves. 2003. “Does Group Reasoning Improve Ethical Reasoning?” Business and Society Review, 108, 127–37.
Adler, P., and S. Kwon. 2002. “Social Capital: Prospects for a New Concept.”
Academy of Management Review, 27, 17–40.
Akerlof, G. 1982. “Labor Contracts as Partial Gift Exchange.” Quarterly Journal of Economics, 97, 543–69. – 2007. “The Missing Motivation in Macroeconomics.” Presidential Address. Nashville, TN: American Economic Association.
Allen, W. 2006. “Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation”. In Professional Responsibility, 35–47. NYU Stern, Course Book.
Alzola, M. 2008. “Character and Environment: The Status of Virtues in Organizations.” Journal of Business Ethics, 78, 343–57. – 2011. “The Reconciliation Project: Separation and Integration in Business Ethics Research.” Journal of Business Ethics, 99, 19–36. – 2012. “The Possibility of Virtue.” Business Ethics Quarterly, 22, 377–404.
Annas, J. 2011. Intelligent Virtue. New York: Oxford University Press.
Anscombe, G. 1957. Intention. Oxford: Basil Blackwell. – 1997. “Modern Moral Philosophy.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 26–44. New York: Oxford University Press.
Appiah, K. A. 2006. Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. New York: W. W. Norton.
Aristotle. 1894. Ethica Nicomachea. Edited by I. Bywater. Oxford: Clarendon Press. – 1907. De Anima. Edited by R. D. Hicks. Cambridge: Cambridge University Press. – 1957. Politica. Edited by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press. – 1962. The Politics of Aristotle. Translated by E. Barker. New York: Oxford University Press. – 1999. Nicomachean Ethics, 2nd edition. Translated by T. H. Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Asch, S. 1955. “Studies of Independence and Conformity: A Minority of One against a Unanimous Majority.” Psychological Monographs, 70.9, Whole No. 416.
Audi, R. 1989. Practical Reasoning. New York: Routledge. – 1997. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford University Press. 2012. “Virtue Ethics as a Resource in Business.” Business Ethics Quarterly, 22, 273–91.
Baumeister, R., and J. Tierney. 2011. Willpower: Discovering the Greatest Human Strength. New York: Penguin Press.
Bazerman, M., and A. Tenbrunsel. 2011. Blind Spots: Why We Fail to Do What’s Right and What to Do about It. Princeton: Princeton University Press.
Beabout, G. 2012. “Management as a Domain-Relative Practice that Requires and Develops Practical Wisdom.” Business Ethics Quarterly, 22, 405–32.
Beadle, R., and K. Knight. 2012. “Virtue and Meaningful Work.” Business Ethics Quarterly, 22, 433–50.
Beaman, A., P. Barnes, B. Klentz, and B. McQuirk. 1978. “Increasing Helping Rates Through Information Dissemination: Teaching Pays.” The Personality and Social Psychology Bulletin, 4, 406–11.
Belk, R. 1985. “Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World.” Journal of Consumer Research, 12, 265–80.
Berkowitz, P. 1999. Virtue and the Making of Modern Liberalism. Princeton: Princeton University Press.
Bertland, A. 2009. “Virtue Ethics in Business and the Capabilities Approach.” Journal of Business Ethics, 84, 25–32.
Blasi, A. 1999. “Emotions and Moral Motivation.” Journal for the Theory of Social Behavior, 29, 1–19.
Boatright, J. 1995. “Aristotle Meets Wall Street: The Case for Virtue Ethics in Business.” A review of Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business, by Robert C. Solomon. Business Ethics Quarterly, 5, 353–9.
Bowles, S., and H. Gintis. 2011. A Cooperative Species: Human Reciprocity and its Evolution. Princeton: Princeton University Press.
Bragues, G. 2006. “Seek the Good Life, Not Money: The Aristotelian Approach to Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 67, 341–57.
Burke, J. 1985. “Speech to the Advertising Council.” In W. M. Hoffman and J.M.Moore (Eds.), Management of Values: The Ethical Difference in Corporate Policy and Performance, 451–6. New York: McGraw-Hill Book Company.
Burns, J. 1978. Leadership. New York: Harper and Row.
Calkins, M., and P.Werhane. 1998. “Adam Smith, Aristotle, and the Virtues of Commerce.” The Journal of Value Inquiry, 32, 43–60.
Carroll, A. 1981. Business and Society: Managing Corporate Social Performance. Boston: Little, Brown.
Cartwright, N. 1983. How the Laws of Physics Lie. New York: Oxford University Press.
Chaiken, S., R. Giner-Sorolla, and S. Chen. 1996. “Beyond Accuracy: Defense and Impression Motives in Heuristic and Systematic Information Processing.” In P. M. Gollwitzer and J. A. Bargh (Eds.), The Psychology of Action: Linking Cognition and Motivation to Behavior, 553–78. New York: Guilford Press.
Chan, G. 2007. “The Relevance and Value of Confucianism in Contemporary Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 77, 347–60.
Chen, A., R. Sawyers, and P. Williams. 1997. “Reinforcing Ethical Decision Making through Corporate Culture.” Journal of Business Ethics, 16, 855–65.
Chicago Tribune 2002. “Tribune Special Report: A Final Accounting.” September 1–4.
Ciulla, J. 2000. The Working Life: The Promise and Betrayal of Modern Work. New York: Three Rivers Press.
Claassen, R. 2012. Review of Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets, by Debra Satz. Business Ethics Quarterly, 22, 585–97.
Cleckley, H. 1988. The Mask of Sanity, 5th edition. St. Louis: C. V. Mosby.
Coase, R. 1937. “The Nature of the Firm.” Economica, 4, 386–405.
Colle, S., and P. Werhane. 2008. “Moral Motivation Across Ethical Theories: What Can We Learn for Designing Corporate Ethics Programs?” Journal of Business Ethics, 81, 751–64.
Collins, J. 2001. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap. . . and Others Don’t. New York: Harper Business, and J. Porras. 2002. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. New York: HarperCollins.
Costa, P., and R. Mac Crae. 1994. “Stability and Change in Personality from Adolescence through Adulthood.” In C. Halvorson, G. Kohnstamm, and R. Martin (Eds.), The Developing Structure of Temperament and Personality from Infancy to Adulthood, 139–50. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Crary, A. 2007. Beyond Moral Judgment. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Damasio, A. 1994. Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Putnam. 256 Bibliography
Daniels, N. 1979. “Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics.” Journal of Philosophy, 76, 256–82.
Darley, J. 1996. “How Organizations Socialize Individuals into Evildoing.” In D. Messick and A. Tenbrunsel (Eds.), Codes of Conduct: Behavioral Research into Business Ethics, 13–43. New York: Russell Sage Foundation.
Davidson, D. 2001. Essays on Actions and Events, 2nd edition. New York: Oxford University Press.
DeSousa, R. 1987. The Rationality of Emotion. Cambridge: MIT Press.
Donaldson, L. 2005. “For Positive Management Theories While Retaining Science: Reply to Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 109–13.
Donaldson, T., and T. Dunfee. 1999. Ties that Bind: A Social Contracts Approach to Business Ethics. Boston: Harvard Business Press.
Doris, J. 2002. Lack of Character: Personality and Moral Behavior. New York: Cambridge University Press.
Drake, M., and J. Schlachter. 2008. “A Virtue-Ethics Analysis of Supply Chain Collaboration.” Journal of Business Ethics, 82, 851–64.
Duhigg, C. 2012. The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business. New York: Random House.
Dunbar, R. 1992. “Neocortex Size as a Constraint on Group Size in Primates.” Journal of Human Evolution, 22, 469–93.
Dunfee, T., and D. Warren. 2001. “Is Guanxi Ethical? A Normative Analysis of Doing Business in China.” Journal of Business Ethics, 32, 191–204.
Dyck, B., and R. Kleysen. 2001. “Aristotle’s Virtues and Management Thought: An Empirical Exploration of an Integrative Pedagogy.” Business Ethics Quarterly, 11, 561–74.
Eastman, W., and M. Santoro. 2003. “The Importance of Value Diversity in Corporate Life.” Business Ethics Quarterly, 13, 433–52.
Elster, J. 1985. Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality. New York: Cambridge University Press. – 1998. “Emotions and Economic Theory.” Journal of Economic Literature, 36, 47–74.
Ely, R., and D. Thomas. 2001. “Cultural Diversity at Work: The Effects of Diversity Perspectives on Work Group Processes and Outcomes.” Administrative Science Quarterly, 46, 229–73.
Festinger, L. 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.
Foot, P. 1997. “Virtues and Vices.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 163–77. New York: Oxford University Press.
Fort, T. 1999. “The First Man and the Company Man: The Common Good, Transcendence, and Mediating Institutions.” American Business Law Journal, 36, 391–435. – 2001. Ethics and Governance: Business as Mediating Institution. New York: Oxford University Press. – 2008. Prophets, Profits, and Peace: The Positive Role of Business in Promoting Religious Tolerance. New Haven: Yale University Press.
Fox, D. 1985. “Psychology, Ideology, Utopia, and the Commons.” American Psychologist, 40, 48–58.
Frank, R. 1988. Passions within Reason: The Strategic Role of the Emotions. New York: W. W. Norton & Company. – 2004. What Price the Moral High Ground? Ethical Dilemmas in Competitive Environments. Princeton: Princeton University Press – T. Gilovich, and D. Regan. 1993. “Does Studying Economics Inhibit Cooperation?” Journal of Economic Perspectives, 7, 159–71.
Frankfurt, H. 1981. “Freedom of the Will and the Concept of a Person.” In G. Watson (Ed.), Free Will, 81–95. New York: Oxford University Press.
Freeman, R. E. 1994. “The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions.” Business Ethics Quarterly, 4, 409–21. – J. Harrison, and A. Wicks. 2007. Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success. New Haven: Yale University Press.
Friedman, M. 1970. “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits.” New York Times Magazine, September 13.
Fritzsche, D. 1991. “A Model of Decision-Making Incorporating Ethical Values.” Journal of Business Ethics, 10, 841–52. – 2000. “Ethical Climates and the Ethical Dimension of Decision Making.” Journal of Business Ethics, 24, 125–40.
Furman, F. 1990. “Teaching Business Ethics: Questioning the Assumptions, Seeking New Directions.” Journal of Business Ethics, 9, 31–8.
Galston, W. 1991. Liberal Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the Liberal State. New York: Cambridge University Press.
Geertz, C. 1983. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books.
Ghoshal, S. 2005. “Bad Management Theories are Destroying Good Management Practices. Academy of Management Learning and Education, 4, 75–91.
Gilbert, D. 2006. Stumbling on Happiness. New York: Knopf. – E. Pinel, T. Wilson, S. Blumberg, and T. Wheatley. 1998. “Immune Neglect: A Source of Durability Bias in Affective Forecasting.” Journal of Personality and Social Psychology, 25, 617–38.
Giovanola, B. 2009. “Re-Thinking the Ethical and Anthropological Foundation of Economics and Business: Human Richness and Capabilities Enhancement.” Journal of Business Ethics, 88, 431–44.
Gladwell, M. 2005. Blink: The Power of Thinking Without Thinking. New York: Back Bay Books (Little, Brown).
Gould, S. 1995. “The Buddhist Perspective on Business Ethics: Experiential Exercises for Exploration and Practice.” Journal of Business Ethics, 14, 63–70.
Graafland, J. 2009. “Do Markets Crowd Out Virtues? An Aristotelian Framework.” Journal of Business Ethics, 91, 1–19.
Gutting, G. 2011. “Pinker on Reason and Morality.” New York Times (electronic edition), October 26, 2011.
Haidt, J. 2001. “The Emotional Dog and its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment.” Psychological Review, 108, 814–34. – 2006. The Happiness Hypothesis. New York: Basic Books. – 2012. The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion. New York: Pantheon Books.
Hambrick, D. 2005. “Just How Bad Are Our Theories? A Response to Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 104–7.
Hampshire, S. 1983. Morality and Conflict. Cambridge: Harvard University Press.
Hardin, G. 1968. ”The Tragedy of the Commons.” Science, 162, 1243–8.
Hare, R. D. 1993. Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths among Us. New York: Simon and Schuster.
Hare, R. M. 1952. The Language of Morals. Oxford: Oxford University Press.
Harman, G. 2003. “No Character or Personality.” Business Ethics Quarterly, 13, 87–94.
Hartman, E. 1977. Substance, Body, and Soul: Aristotelian Investigations. Princeton: Princeton University Press. – 1994. “The Commons and the Moral Organization.” Business Ethics Quarterly, 4, 253–69. – 1996. Organizational Ethics and the Good Life. New York: Oxford University Press. – 1998. “The Role of Character in Business Ethics.” Business Ethics Quarterly, 8, 547–59. – 2001. “An Aristotelian Approach to Moral Imagination.” Professional Ethics, 8, 58–77. – 2006. “Can We Teach Character? An Aristotelian Answer.” Academy of Management Learning and Education, 5, 68–81. Bibliography 259
Hausman, D. 2012. Preference, Value, Choice, and Welfare. New York: Cambridge University Press.
Heath, J. 2009. “The Uses and Abuses of Agency Theory.” Business Ethics Quarterly, 19, 497–528.
Heugens, P., M. Kaptein, and J. van Oosterhout. 2006. “The Ethics of the Node versus the Ethics of the Dyad? Reconciling Virtue Ethics and Contractualism.” Organization Studies, 27, 391–411.
Hirschman, A. 1982. “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble?” Journal of Economic Literature, 20, 1463–84.
Horvath, C. 1995. “MacIntyre’s Critique of Business.” Business Ethics Quarterly, 5, 499–532.
Hursthouse, R. 1999. On Virtue Ethics. New York: Oxford University Press. Irwin, T. 1988. Aristotle’s First Principles. New York: Oxford University Press.
Jackson, K. 2012. Virtuosity in Business: Invisible Law Guiding the Invisible Hand. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Jehn, K., G. Northcraft, and M. Neale. 1999. “Why Differences Make a Difference: A Field Study of Diversity, Conflict and Performance in Workgroups.” Administrative Science Quarterly, 44, 741–63.
Jensen, M. 2010. “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function.” Journal of Applied Corporate Finance, 22, 32–42.- and W. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics, 3, 305–60. – 1994. “The Nature of Man.” Journal of Applied Corporate Finance, 72 (Summer), 4–19.
Johnson, M. 1993. Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics. Chicago: University of Chicago Press.
Johnson and Johnson. 1943. Credo. New Brunswick, NJ: Johnson and Johnson.
Jones, S., and K. Hiltebeitel. 1995. “Organizational Influence in a Model of the Moral Decision Process of Accountants.” Journal of Business Ethics, 14, 417–31.
Jones, T., and L. Ryan. 2001. “The Effect of Organizational Forces on Individual Morality: Judgment, Moral Approbation, and Behavior.” In
J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 285–300. New York: Elsevier Science.
Jos, P., and M. Tompkins. 2004. “The Accountability Paradox in an Age of Reinvention: The Perennial Problem of Preserving Character and Judgment.” Administration and Society, 36, 255–81.
Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. – and A. Tversky (Eds.). 2000. Choices, Values, and Frames. New York: Cambridge University Press.
Kant, I. 1981. Grounding for the Metaphysics of Morals. Translated by J. Ellington. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Kasser, T., and R. Ryan. 1996. “Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals.” Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280–7.
Klein, S. 1995. “An Aristotelian Approach to Ethical Corporate Leadership.” Business and Professional Ethics Journal, 14, 3–23. – 1998. “Emotions and Practical Reasoning: Implications for Business Ethics.” Business and Professional Ethics Journal, 17, 3–29.
Koehn, D. 1992. “Toward an Ethic of Exchange.” Business Ethics Quarterly, 2, 341–55. – 1995. “A Role for Virtue Ethics in the Analysis of Business Practice. Business Ethics Quarterly, 5, 533–9. – 1998. “Virtue Ethics, the Firm, and Moral Psychology.” Business Ethics Quarterly, 8, 497–513.
Kohlberg, L. 1981. Essays on Moral Development. Volume I: The Philosophy of Moral Development. New York: Harper and Row.
Kraut, R. 1989. Aristotle on the Human Good. Princeton: Princeton University Press.
Kupperman, J. 1991. Character. New York: Oxford University Press. – 2005. “How Not to Educate Character.” In D. Lapsley and F. C. Power (Eds.), Character Psychology and Character Education, 201–17. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
LeBar, M. 2009. “Virtue Ethics and Deontic Constraints.” Ethics, 119, 642–71.
Lerner, J., and P. Tetlock. 2003. “Bridging Individual, Interpersonal, and Institutional Approaches to Judgment and Decision Making: The Impact of Accountability on Cognitive Bias.” In S. Schneider and J. Shanteau (Eds.), Emerging Perspectives on Judgment and Decision Research, 431–57. New York: Cambridge University Press.
Lewis, M. 1989. Liar’s Poker: Rising through the Wreckage on Wall Street. New York: W. W. Norton.
Lieberman, M. D. 2000. “Intuition: A Social Cognitive Neuroscience Approach.” Psychological Bulletin, 126, 109–37.
Loewenstein, G., and D. Adler. 2000. “A Bias in the Prediction of Tastes.” In D. Kahneman and A. Tversky (Eds.), Choices, Values, and Frames, 726–34. New York: Cambridge University Press.
Luban, D. 2003. “Integrity: Its Causes and Cures.” Fordham Law Review, 72, 279–310.
MacIntyre, A. 1985. After Virtue, 2nd edition. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Maitland, I. 1997. “Virtuous Markets: The Market as School of the Virtues.” Business Ethics Quarterly, 7, 17–31.
Martin, M. 2006. From Morality to Mental Health: Virtue and Vice in a Therapeutic Culture. New York: Oxford University Press.
Maslow, A. 1987. Motivation and Personality, 3rd edition. New York: Harper and Row.
Matson, W. 2001. “Unfair to Justice.” Modern Age, 372–278.
McCabe, D., and L. Trevino. 1995. “Cheating among Business Students: A Challenge for Business Leaders and Educators.” Journal of Management Education, 19, 205–18.
McCloskey, D. 2006. The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce. Chicago: University of Chicago Press.
McCracken, J., and B. Shaw. 1995. “Virtue Ethics and Contractarianism: Towards a Reconciliation.” Business Ethics Quarterly, 5, 297–312.
McDowell, J. 1997. “Virtue and Reason.” In R. Crisp and M. Slote (Eds.), Virtue Ethics, 141–62. New York: Oxford University Press.
McKinnon, C. 2005. “Character Possession and Human Flourishing.” In D. Lapsley and F. Power (Eds.), Character Psychology and Character Education, 36–66. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
Melé, D. 2003. “The Challenge of Humanistic Management.” Journal of Business Ethics, 44, 77–88.
Melville, H. 2001. Billy Budd, Sailor. Chicago: University of Chicago Press. Merck. 2011. http://www.merck.com/responsibility/access/access-featuremectizan.html.
Messick, D. 1998. “Social Categories and Business Ethics.” In R. E. Freeman (Ed.), Business, Science, and Ethics, 149–72, Ruffin Series No. 1. Business Ethics Quarterly (Special Issue).
Metcalfe, J., and W. Mischel. 1999. “A Hot–Cool System Analysis of Delay of Gratification: Dynamics of Willpower.” Psychological Review, 106, 3–19.
Milgram, S. 1974. Obedience to Authority: An Experimental View. New York: Harper and Row.
Miller, F. 1995. Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics. New York: Oxford University Press.
Moberg, D. 1999. “The Big Five and Organizational Virtue.” Business Ethics Quarterly, 9, 245–72. – 2006. “Ethics Blind Spots in Organizations: How Systematic Errors in Person Perception Undermine Moral Agency.” Organization Studies, 27, 413–28.- and M. Seabright. 2000. “The Development of Moral Imagination.” Business Ethics Quarterly, 10, 845–84.
Moore, G. 2002. “On the Implications of the Practice–Institution Distinction: MacIntyre and the Application of Modern Virtue Ethics to Business.” Business Ethics Quarterly, 12, 19–32. – 2005a. “Corporate Character: Modern Virtue Ethics and the Virtuous Corporation.” Business Ethics Quarterly, 15, 659–85. – 2005b. “Humanizing Business: A Modern Virtue Ethics Approach.” Business Ethics Quarterly, 15, 237–55. – 2008. “Re-imagining the Morality of Management: A Modern Virtue Ethics Approach.” Business Ethics Quarterly, 18, 483– 511. – 2009. “Virtue Ethics and Business Organizations.” In J. Smith (Ed.), Normative Theory and Business Ethics, 35–59. New York: Rowman and Littlefield. – 2012. “The Virtue of Governance, the Governance of Virtue.” Business Ethics Quarterly, 22, 293–318. – and R. Beadle. 2006. “In Search of Organizational Virtue in Business: Agents, Goods, Practices, Institutions and Environments.” Organization Studies, 27, 369–89.
Morris, C. 2008. The Trillion Dollar Meltdown: Easy Money, High Rollers, and the Great Credit Crash. New York: Public Affairs.
N´eron, P., and W. Norman. 2008. “Citizenship, Inc.” Business Ethics Quarterly, 18, 1–26.
Newton, L. 1992. “Virtue and Role: Reflections on the Social Nature of Morality.” Business Ethics Quarterly, 2, 357–65.
Nickerson, R. 1994. “The Teaching of Thinking and Problem Solving.” In R. Sternberg (Ed.), Thinking and Problem Solving, 409–49. San Diego: Academic Press.
Nielsen, R. 2001. “Can Ethical Character be Stimulated and Enabled: An Action-Learning Approach to Teaching and Learning Organization Ethics.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 51–77. New York: Elsevier Science.
Norman, W. 2002. “Inevitable and Unacceptable? Methodological Rawlsianism in Anglo-American Political Philosophy.” Political Studies, 46, 276–94.
Numkanisorn, S. 2002. “Business and Buddhist Ethics.” The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies, 1, 39–58.
Nussbaum, M. 1990. “Finely Aware and Richly Responsible: Literature and the Moral Imagination.” In Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, 148–67. New York: Oxford University Press. – 2010. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press.
Ostrom, E., and T. K. Ahn. 2009. “The Meaning of Social Capital and its Link to Collective Action.” In G. Svendsen and G. L. Svendsen (Eds.), Handbook of Social Capital: The Troika of Sociology, Political Science and Economics, 17–35. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
Owen, G. 1960. “Logic and Metaphysics in Some Earlier Works of Aristotle.” In I. During and G. Owen (Eds.), Plato and Aristotle in the Mid- Fourth Century, 163–90. Goeteborg: Almquist and Wiksell. – 1986. “Tithenai ta phainomena.” In M. Nussbaum (Ed.), Science and Dialectic, 239–51. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Paine, L. 1991. “Ethics as Character Development: Reflections on the Objective of Ethics Education.” In R. Freeman (Ed.), Business Ethics: The State of the Art. 67–86. New York: Oxford University Press.
Pastoriza, D., M. Arino, and J. Ricart. 2007. “Ethical Managerial Behaviour as an Antecedent of Organizational Social Capital.” Journal of Business Ethics, 78, 329–41.
Peters, T., and R. Waterman. 1982. In Search of Excellence. New York: Harper and Row.
Pfeffer, J. 1982. Organizations and Organization Theory. Boston: Pitman. – 2005. “Why Do Bad Management Theories Persist? A Comment on Ghoshal.” Academy of Management Learning and Education, 4, 96–100.
Phillips, R., and C. Caldwell. 2005. “Value Chain Responsibility: A Farewell to Arm’s Length.” Business and Society Review, 110, 345– 70.
Pinker, S. 2011. The Better Angels of our Nature: Why Violence has Declined. New York: Viking.
Pizarro, D., and P. Bloom. 2003. “The Intelligence of Moral Intuitions: Comment on Haidt.” Psychological Review, 110, 193–6.
Porter, M. 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
Prior, W. 2001. “Eudaimonism.” Journal of Value Inquiry, 35, 325–42.
Putnam, H. 2002. The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Cambridge: Harvard University Press.
Putnam, R. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster. – and D. Campbell. 2010. American Grace: How Religion Divides and Unites Us. New York: Simon and Schuster.
Quine, W. 1980. From a Logical Point of View, 2nd edition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rabin, M. 1998. “Psychology and Economics.” Journal of Economic Literature, 36, 11–46.
Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. – 1993. Political Liberalism. New York: Columbia University Press. Roca, E. 2008. “Introducing Practical Wisdom in Business Schools.” Journal of Business Ethics, 82, 607–20.
Rosenzweig, P. 2007. The Halo Effect . . . and the Eight Other Business Delusions that Deceive Managers. New York: Free Press.
Ross, L., and R. Nisbet. 1991. The Person and the Situation: Perspectives of Social Psychology. New York: McGraw-Hill.
Ross, W. D. 1930. The Right and the Good. New York: Oxford University Press.
Russell, D. 2009. Practical Intelligence and the Virtues. Oxford: Clarendon Press.
Salmieri, G. 2009. “Aristotle’s Non-‘Dialectical’ Methodology in the Nicomachean Ethics.” Ancient Philosophy, 29, 311–35.
Sandel, M. 2012. What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Schein, E. H. 1985. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
Sen, A. 1987. On Ethics and Economics. New York: Basil Blackwell. – 1997. “Human Rights and Asian Values.” New Republic, July 14–21. https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/sen.htm. – 2009. The Idea of Justice. Cambridge, MA: The Belknap Press. – and B. Williams (Eds.), 1982. Utilitarianism and Beyond. New York: Cambridge University Press.
Sennett, R. 1998. The Corrosion of Character: The Transformation of Work in Modern Capitalism. New York: W. W. Norton & Company.
Shaw, B. 1995. “Virtues for a Postmodern World.” Business Ethics Quarterly, 5, 843–63.
Shiller, R. 2012. Finance and the Good Society. Princeton: Princeton University Press.
Shoda, Y.,W. Mischel, and P. Peake. 1990. “Predicting Adolescent Cognitive and Self-regulatory Competencies from Pre-school Delay of Gratification: Identifying Diagnostic Conditions.” Developmental Psychology, 26, 978–86.
Simmel, G. 1955. Conflict and the Web of Group Affiliations. Trans. By K. H. Wolfe. Glencoe, IL: The Free Press.
Simon, H. 1954. “A Behavioral Theory of Rational Choice.” Quarterly Journal of Economics, 69, 99–118.
Sims, R., and T. Keon. 1999. “Determinants of Ethical Decision Making: The Relationship of the Perceived Organizational Environment.” Journal of Business Ethics, 19, 393–401.
Sison, A. 2003. The Moral Capital of Leaders: Why Ethics Matters. Northampton, MA: Edward Elgar. – 2008. Corporate Governance and Ethics: An Aristotelian Perspective. Northampton, MA: Edward Elgar. – 2011. “Aristotelian Citizenship and Corporate Citizenship: Who is a Citizen of the Corporate Polis?” Journal of Business Ethics, 100, 3–9. – and J. Fontrodona. 2012. “The Common Good of the Firm in the Aristotelian-Thomistic Tradition.” Business Ethics Quarterly, 22, 211–46.
Skidelsky, E. 2009. “Capitalism and the Good Life.” In S. Gregg and J. Stoner (Eds.), Profit, Prudence, and Virtue: Essays in Ethics, Business and Management, 242–53. Exeter, UK: Imprint Academic.
Skinner, B. 1972. Beyond Freedom and Dignity. New York: Bantam Vintage.
Slater, L. 2004. Opening Skinner’s Box: Great Psychological Experiments of the Twentieth Century. New York: W. W. Norton.
Slote, M. 1983. Goods and Virtues. New York: Oxford University Press. – 1992 From Morality to Virtue. New York: Oxford University Press. – 2001. Morals from Motives. New York: Oxford University Press.
Smith, H. 2012. Who Stole the American Dream? New York: Random House.
Solomon, R. 1992. Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business. New York: Oxford University Press.
Sommers, M. C. 1997. “Useful Friendships: A Foundation for Business Ethics.” Journal of Business Ethics, 16, 1453–8.
Stark, A. 1993. “What’s the Matter with Business Ethics?” Harvard Business Review, 71, 38–48.
Sundman, P. 2000. “The Good Manager – A Moral Manager?” Journal of Business Ethics, 27, 247–54.
Toulmin, S. 1990. Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. Chicago: University of Chicago Press.
Trevino, L. K. 1986. “Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model.” Academy of Management Review, 11, 607–17. – K. Butterfield, and D. McCabe. 2001. “The Ethical Context in Organizations: Influences on Employee Attitudes and Behaviors.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 301–37. New York: Elsevier Science.
Trist, E., and K. Bamforth. 1951. “Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Coal Getting.” Human Relations, 4, 3–38.
Tsalikis, J., and O. Wachukwu. 2000. “A Comparison of Nigerian to American Views of Bribery and Extortion in International Commerce.” Journal of Business Ethics, 10, 85–98.
Tsoukas, H., and S. Cummings. 1997. “Marginalization and Recovery: The Emergence of Aristotelian Themes in Organization Studies.” Organization Studies, 18, 655–83.
Turbow, J., with M. Duca. 2010. The Baseball Codes: Beanballs, Sign Stealing, and Bench-Clearing Brawls: The Unwritten Rules of America’s Pastime. New York: Pantheon Books.
Turner, N., J. Barling, O. Epitropaki, V. Butcher, and C. Milner. 2002. “Transformational Leadership and Moral Reasoning.” Journal of Applied Psychology, 87, 304–11.
Tversky, A., and D. Kahneman. 1981. “The Framing of Decisions and the Psychology of Choice.” Science, 211, 453–8.
Vidaver-Cohen, D. 1997. “Moral Imagination in Organizational Problem-Solving: An Institutional Perspective.” Business Ethics Quarterly, 7, 1–26. – 2001. “Motivational Appeal in Normative Theories of Enterprise.” In J. Dienhart, D. Moberg, and R. Duska (Eds.), The Next Phase of Business Ethics: Integrating Psychology and Ethics, 3–26. New York: Elsevier Science.
Vlastos, G. 1994. Socratic Studies. New York: Cambridge University Press.
Walton, C. 2001. “Character and Integrity in Organizations: The Civilization of the Workplace.” Business and Professional Ethics Journal, 20, 105–28.
Weaver, G. 2006. “Virtue in Organizations: Moral Identity as a Foundation for Moral Agency.” Organization Studies, 27, 341–68. – and B. Agle. 2002. “Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A Symbolic Interactionist Perspective.” Academy of Management Review, 27, 77–97.
Weick, K. 1969. The Social Psychology of Organizing. Reading, MA: Addison-Wesley. – K. Sutcliffe, and D. Obstfeld. 2005. “Organizing and the Process of Sensemaking.” Organization Science, 16, 409–21.
Wells, T., and J. Graafland. 2012. “Adam Smith’s Bourgeois Virtues in Competition.” Business Ethics Quarterly, 22, 319–50.
Werhane, P. 1991. Adam Smith and his Legacy for Modern Capitalism. New York: Oxford University Press. – 1999. Moral Imagination and Management Decision-making. New York: Oxford University Press. – and M. Gorman. 2005. “Intellectual Property Rights, Moral Imagination, and Access to Life-enhancing Drugs.” Business Ethics Quarterly, 15, 595–613. – L. Hartman, D. Moberg, E. Englehardt, M. Pritchard, and B. Parmar. 2011. “Social Constructivism, Mental Models, and Problems of Obedience.” Journal of Business Ethics, 100, 103–18.
Whetstone, J. 2003. “The Language of Managerial Excellence: Virtues as Understood and Applied.” Journal of Business Ethics, 44, 343–57.
Williams, B. 1981. Moral Luck. New York: Cambridge University Press. – 1985. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge: Harvard University Press.
Williamson, O. 1975. Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-trust Implications. New York: Free Press.
Winter, S. 1971. “Satisficing, Selection, and the Innovative Remnant.” Quarterly Journal of Economics, 85, 237–61.
Woodruff, P. 2001. Reverence: Renewing a Forgotten Virtue. New York: Oxford University Press.
Zimbardo, P. 2007. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. New York: Random House.
Imagem peter-bond-KfvknMhkmw0-unsplash.jpg – 17 de março de 2024
—–